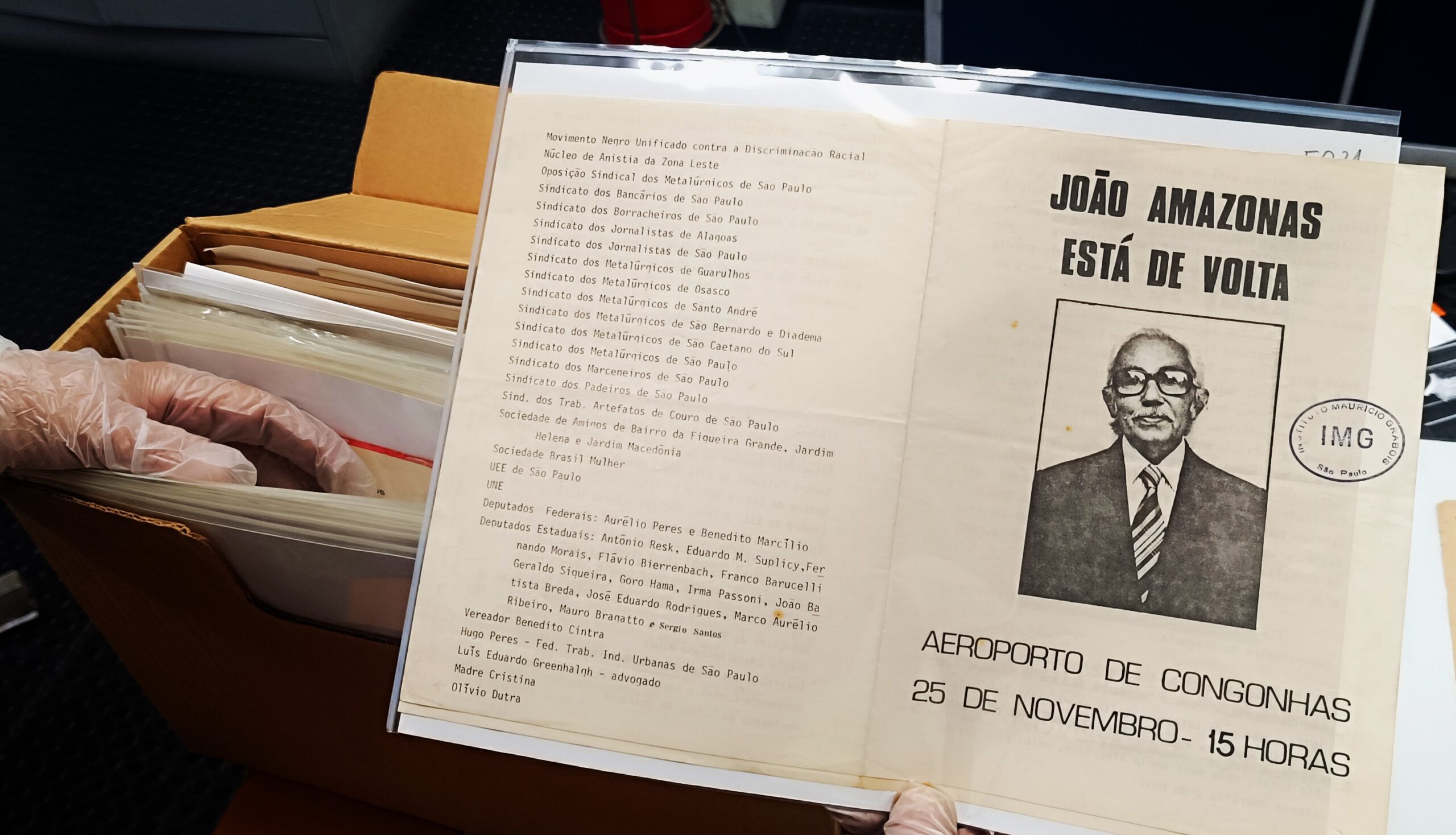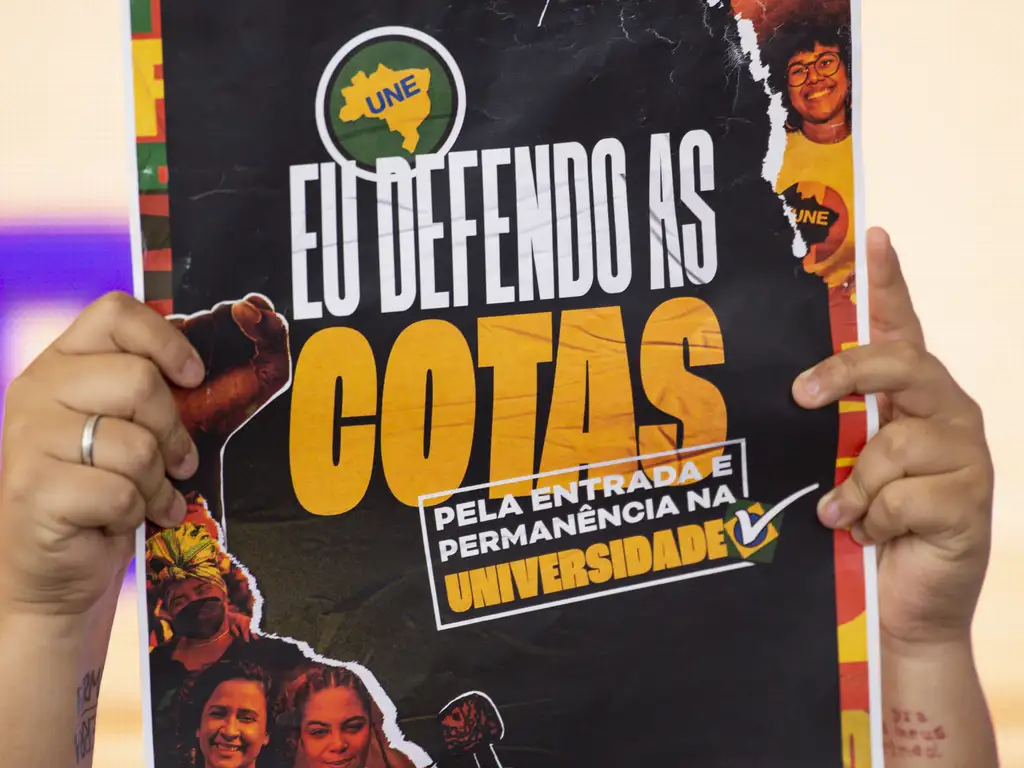A pesada nuvem da influência de Caio Prado Jr. e da busca do sentido da colonização pelo estudo do comércio internacional do qual a economia colonial fazia parte começou a ser dispersa na década de 1960, quando o avanço do conhecimento fatual, empírico, permitiu um questionamento coerente das teses dominantes, que viam a Colônia sem vida interna merecedora de registro.
A pesquisa histórica e a intuição de muitos historiadores indicaram, antes, as dificuldades destas teses. O próprio Caio Prado Jr. registrou a existência de um setor agrícola de subsistência e de comércio interno, que encarou como secundários e de pouca importância, subsidiários ao setor agro-exportador e às necessidades do comércio internacional; assinalou também a possibilidade de acumulação de capitais na Colônia, embora limitada.
O tema da dinâmica interna da formação histórico-social brasileira foi, durante muito tempo, tratado de forma secundária, à margem do corpo principal dos estudos históricos. Em 1951, Mafalda P. Zemella descreveu pioneiramente a atividade comercial gerada no século XVIII para o abastecimento da área de mineração (Zemella, 1990). José Honório Rodrigues, em 1961, mostrou que, no século XVIII, colonos brasileiros (principalmente da Bahia e Pernambuco) lançaram-se ao comércio internacional e, em pouco tempo, controlavam o tráfico de escravos. Afastando os navegadores portugueses, eles uniam a Bahia e Pernambuco à costa africana, onde se abasteciam de escravos, e também à Índia (Rodrigues, 1982). Pierre Verger, em 1968, em francês, confirmou com detalhes esta proeminência dos negociantes baianos desde o começo do século XVIII (Verger, 1987).
Outro aspecto dessa atividade interna foi indicado por Sérgio Buarque de Hollanda no prefácio ao estudo sobre Antônio da Silva Prado, magnata paulista que viveu entre 1788 e 1875 (Petrone, 1976), onde transparece a autonomia e o potencial do comércio e do incipiente mercado interno na Colônia, pelo menos às vésperas da Independência. Apontando para uma linha de pesquisa até então inexplorada, Sérgio Buarque de Hollanda lembrou que, na Bahia de meados do século XVIII, magnatas do comércio já superavam a "aristocracia" rural; que Minas Gerais assistiu, na mesma época, à ascensão de negociantes; que, em Pernambuco, a liderança do movimento de 1817 era formada, principalmente, por grandes comerciantes, como Gervásio Pires Ferreira, cuja frota de navios alcançava desde portos da África, no tráfico de escravos, até o Extremo Oriente, especialmente Calcutá, na Índia (in Petrone, 1976).
Entre os estudos pioneiros da dinâmica interna da Colônia estão também aqueles iniciados em 1974, sob direção de Maria Odila da Silva Dias, por Lenira Meneses Martinho, Riva Gorenstein e Alcir Lenharo, cujo tema foi a atividade comercial no centro sul brasileiro e o impacto causado pelo abastecimento da Corte sobre a produção mercantil de alimentos. Esses interesses mercantis tinham uma autonomia relativa, e forte influência política na conquista da Independência e na definição do rumo conservador assumido pelo país após a separação de Portugal (Lenharo, 1979; Martinho, 1993; Gorenstein, 1993).
Foram também pioneiros, e marcantes, os estudos de Bárbara Levy e Eulália Maria Lahmeyer Lobo sobre a formação da burguesia mercantil do Rio de Janeiro, a partir do tráfico de escravos e que, no século XVIII, era forte o suficiente para exercer pressões políticas sobre a Metrópole, ter representação na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, e emprestar dinheiro para a Coroa e para proprietários de terra (Lobo, 1978; Levy, 1977).
A descoberta da dinâmica interna da Colônia, embora subordinada e articulada inevitavelmente ao domínio externo, seguiu um longo caminho. Em primeiro lugar, a pesquisa histórica comprovou a autonomia da luta de classes na Colônia e no Império, que condicionou a organização política e administrativa da Colônia e, mais tarde, do país independente. Depois, houve o reconhecimento da existência, na base da formação histórico social brasileira, do modo de produção escravista colonial, que lhe era próprio. O passo definitivo foi dado pela descoberta da existência de acumulação de capital no interior da Colônia (que as teses circulacionistas derivadas das idéias de Caio Prado Jr. e também da influência da III Internacional negavam peremptoriamente, encarando a Colônia como apêndice passivo da acumulação primitiva de capital na Europa) e de que as flutuações econômicas internas à Colônia não seguiam, obrigatoriamente, as oscilações da economia internacional.
Estes caminhos foram abertos e seguidos por historiadores marxistas, ou influenciados pelo marxismo, produzindo uma profunda renovação do conhecimento histórico e impondo o reconhecimento de uma formação histórico social muito mais complexa do que até então se pensava.
Escravidão e luta de classes
A tese liberal-conservadora de que a luta de classes é estranha ao Brasil teve largo curso desde o século XIX, e influenciou decisivamente os estudos históricos, mesmo de autores reconhecidos como marxistas. Caio Prado Jr., por exemplo, cujo Evolução política do Brasil, de 1933, traz amplo estudo da luta pela independência e das rebeliões da Regência, principalmente da Cabanagem, no Pará, e da Balaiada, no Maranhão, tinha opinião pouco lisonjeira sobre a luta do povo. Em 1949, ele desaconselhou Clóvis Moura, que iniciava a redação de Rebeliões da senzala (publicado em 1959), a prosseguir pois, pensava, o escravo sempre fora passivo, e as principais lutas ocorridas no passado foram as que opuseram os índios aos colonizadores portugueses (Ruy, 1988).
A reavaliação dessas idéias pelos historiadores marxistas (ou influenciados pelo marxismo) envolveu a pesquisa em arquivos e o reexame da história das rebeliões populares ocorridas no Brasil, dando outro rumo para a compreensão da luta de classes em nosso país. Vários livros e artigos foram publicados desde a década de 1930, particularmente depois do final do Estado Novo. Um exemplo é O Quilombo de Palmares (1946), de Edison Carneiro, onde a saga de Zumbi é reposta em sua verdade histórica, a luta de morte contra senhores de escravos e terras e autoridades coloniais – luta de classes, enfim, e não mera resistência cultural ou religiosa, como a visão tradicional fazia crer.
Eram estudiosos ligados à luta popular e democrática, ou militantes comunistas. Gente como Amaro Quintas (O sentido social da revolução Praieira, 1946), Manuel Correia de Andrade (As sedições de 1831 em Pernambuco, 1956, e A guerra dos cabanos, 1957/1960), o próprio Edison Carneiro (A insurreição Praieira, 1960), Everardo Dias (História das lutas sociais no Brasil, 1962), Rui Facó (Cangaceiros e fanáticos, 1963) – estes são apenas alguns exemplos da renovação historiográfica então empreendida. O marco dessa revisão é Rebeliões da senzala, de Clóvis Moura, de 1959, que investe contra as visões tradicionais a partir da premissa teórica marxista fundamental: a luta de classes está presente em todas as sociedades divididas em classes. O Brasil não é exceção. Foi o primeiro painel sistemático da luta escrava no Brasil, e contrapunha-se pioneiramente à visão do escravo como vítima passiva de seu destino, e de sua luta como choques entre a cultura superior dos europeus, os senhores, e a barbárie dos africanos, os escravos.
A luta de classes ocupa o centro da análise histórica em Rebeliões da senzala. A amplitude em que a rebeldia escrava aparece ali destrói a tese de que ela seria marginal ao curso principal do processo histórico. Ela manifestou-se de forma múltipla. A mais visível e conhecida foram os quilombos e a luta guerrilheira para defendê-Ios. Mas os escravos lutaram também nos demais movimentos políticos, como as revoltas mineiras do século XVIII, a revolta dos Alfaiates ocorrida em Salvador, 1798, ou a luta pela independência Bahia, no Maranhão e no Piauí, e promoveram insurreições urbanas próprias, voltadas para a tomada do poder, que são pouco estudadas e têm, em Rebeliões da senzala, uma primeira visão aprofundada e que rompe com explicações religiosas ou culturalistas. Há notícias delas em inúmeras cidades brasileiras, mas as principais foram as que ocorreram em Salvador, entre 1807 e 1844, com destaque para a grande insurreição dos Malês, de 1835 (Moura, 1988).
Rebeliões da senzala mostrou como a luta dos escravos, expressão principal do antagonismo de classes fundamental no Brasil escravista, condicionou a organização política e administrativa. A necessidade de defesa contra ameaças de fora e de dentro levou à criação, pelo Estado colonial, de normas e instituições próprias, como a mobilização de bandeiras e expedições repressivas contra os quilombos, além de insistir na obrigatoriedade dos proprietários armarem milícias para a repressão a movimentos e ações de rebeldia escrava. Paul Singer sugere que esta ação repressiva oficial refletia-se mesmo na organização urbana, dotando as cidades da força militar e policial necessária à repressão aos quilombos de suas redondezas (Singer, 1975).
Rebeliões da senzala revelou também o limite intransponível das revoluções brasileiras: as elites proprietárias, em seus próprios movimentos de rebeldia, temiam mobilizar a massa da população, formada principalmente por escravos, negros forros, índios aculturados e seus mestiços. Este limite é a explicação para o fracasso da maior parte dos movimentos de rebeldia promovido por facções das classes dominantes, e também do apregoado espírito brasileiro de conciliação – isto é, a capacidade da elite acertar-se entre si, resolve suas dissidências deixando o povo à margem, sobre o qual caiu sempre o peso da repressão, depois que os de cima fizeram a conciliação.
Outro aspecto ressaltado em Rebeliões da senzala é o desmascaramento, no campo marxista, das raízes do racismo brasileiro, e sua íntima ligação com estruturas de dominação oriundas do passado colonial, justificadas ideologicamente pela alegada inferioridade racial dos negros e mestiços, e que legitimavam o domínio das elites, autodenominadas brancas, por uma pretensa missão civilizatória. A denúncia do racismo fundamenta-se na compreensão de seu papel fundamental no domínio de classes, e do papel que cabe ao proletariado na luta contra ele. Em uma nação como o Brasil, onde cerca de dois terços da população é formado por descendentes de negros, índios e seus mestiços, o racismo e o domínio de classe se confundem. A visão do domínio de classe e da luta de classes só pode corresponder, de fato, à realidade social do país se incorporar à dimensão classista também a dimensão étnica, a consciência de que o domínio de classes se confunde com o domínio dos portadores de pele clara sobre aqueles de tonalidade mais escura, de olhos, bocas, narizes, cabelos e crânios de formato diferente.
Esta é a contribuição fundamental da obra de Clóvis Moura, iniciada com Rebeliões da senzala, e ampliada num conjunto de estudos onde se destacam Sociologia de la praxis (1976), O negro: de bom escravo a mau cidadão (1977), Os quilombos e a rebelião negra (1981), Brasil: raizes do protesto negro (1983), Sociologia do negro brasileiro (1988), Dialética radical do Brasil negro (1994).
Rebeliões da senzala abriu uma vertente que levou, nos anos seguintes, a novos estudos da luta escrava, por autores muitas vezes inspirados diretamente por sua leitura. Nessa obra, a história do escravo (e do negro) é posta no seu justo lugar de história do povo brasileiro, e não de um segmento populacional à parte, específico e segmentado. Funde assim o fio da história contemporânea dos brasileiros com o fio tecido por aqueles que, antes, mourejavam sob o instituto infame e desumano que foi a escravidão e reconstitui, assim, uma história única de nosso povo, que vai do escravo das minas e fazendas ao moderno proletário das empresas capitalistas.
Modo de produção escravista colonial
O debate sobre o caráter feudal ou escravista da formação histórico social brasileira começou a ser resolvido no final dos anos 60, com o aparecimento de historiadores e estudiosos que questionaram as premissas que levavam àquelas duas caracterizações (feudal ou capitalista) a partir de categorias explicativas que emergiam da análise da dinâmica interna da sociedade brasileira, e não da importação de modelos derivados da experiência histórica européia. Um dos pioneiros nessa crítica foi Ciro Flamarion Cardoso, em sua intervenção no debate sobre o feudalismo, promovido em 1968 pelo Centre D'Études et Recherches Marxistes (CERM), ligado ao Partido Comunista Francês. Ao criticar tanto as explicações feudais quanto as capitalistas de nosso passado histórico, ele indicava a necessidade de "procurar extrair as leis, a dinâmica interna das sociedades coloniais americanas" (Cardoso, 1978). Mais tarde, foi mais incisivo nessa crítica, investindo contra "uma tendência ainda bastante forte", embora já enfraquecida, de se ver, no Brasil colonial e no Império, "não uma formação econômico-social – uma sociedade propriamente dita – mas sim uma espécie de quintal da Europa". Ao contrário, as novas pesquisas históricas revelaram "uma sociedade bem mais complexa do que se pensava" (Cardoso, 1988).
O próprio Ciro Cardoso oscilou entre a proposta de um "modo de produção escravista colonial" e um "modo de produção colonial". Depois, passou a defender a existência, no escravismo brasileiro, de uma "brecha camponesa", influenciado pela literatura histórica da e sobre as Antilhas. A "brecha camponesa", um conceito discutível, consistia na economia própria do quilombola, ou do usufruto pelo escravo da licença dada pelo senhor para plantar e criar pequenos animais, em pequenos lotes de terras para seu próprio benefício, nos domingos e dias santos, "criando uma espécie de 'mosaico camponês-escravo"'. Isto é, o trabalhador era escravo quando a serviço do senhor, e camponês quando trabalhava para si próprio. (Cardoso, 1975; 1979. Para uma discussão do conceito de "brecha camponesa", ver Gorender, 1990).
Gorender teve o mérito de desenvolver, de forma sistemática, o conceito de modo de produção escravista colonial, colocando o trabalhador no centro da história. Nele, o escravo, as relações de trabalho e as relações de produção, são o ponto de partida para desvendar o segredo da formação histórico-social e do esforço de elaboração de "uma teoria geral do escravismo colonial" (Gorender, 1978. Uma avaliação do conjunto da obra de Gorender, e a crítica de suas tendências atuais, pode ser encontrada em Pereira, 2000). Como as demais grandes explicações da sociedade brasileira, como Varnhagen, Oliveira Viana, Gilberto Freyre, Sérgio Buarque, Caio Prado Jr, e outros, o estudo de Gorender surgiu fora da academia, atendendo à necessidade de responder às questões postas pela luta política e pela transformação social. Nos anos 50, Gorender foi dirigente do Partido Comunista do Brasil, com papel de destaque depois da mudança revisionista assinalada pelo Manifesto de Março de 1958, do qual foi um dos principais redatores (Gorender, 1987). Rompeu com o partido dirigido por Luís Carlos Prestes em 1968, juntamente com Mário Alves, fundando então o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Nos últimos anos, dedica-se ao jornalismo, à pesquisa histórica, a debates e conferências.
Sem desconhecer a dependência externa, Gorender enfatiza em O escravismo colonial a dinâmica interna da produção colonial, demonstra o papel central que o trabalhador direto – o escravo – tem em sua articulação e cria as condições para uma compreensão viva da formação histórico-social brasileira, condicionada pelas vicissitudes e contradições da produção material que aqui ocorria. Para ele, o escravismo brasileiro (como o escravismo moderno nas Américas) diferenciava-se do escravismo da antigüidade pelo seu caráter colonial. Ele formou-se atendendo aos interesses e às especificidades do capital mercantil, que dominava a economia internacional sendo intermediário entre dois extremos (um deles, o da produção colonial; o outro, o mercado consumidor, a Europa). Em conseqüência, a esfera da circulação, autônoma em relação à produção, não determinava o caráter das relações de produção vigentes em cada um desses extremos, e criava as condições objetivas para que o escravismo colonial assumisse a única forma "em que pode se desenvolver com amplitude: a forma de escravismo colonial, isto é, um modo de produção dependente do mercado metropolitano" (Gorender, 1978). O significado econômico de colonial explicita-se, diz ele, "nos seguintes traços principais: economia voltada principalmente para o mercado exterior, dependendo deste o estímulo originário ao crescimento das forças produtivas; 2) troca de gêneros agropecuários e/ou matérias primas minerais por produtos manufaturados estrangeiros, com uma forte participação de bens de consumo na pauta de importações; 3) fraco ou nenhum controle sobre a comercialização no mercado externo." (Gorender, 1978).
As discussões anteriores oscilaram entre as explicações feudal ou capitalista. Gorender encerrou esse debate com a visão nova da predominância do modo de produção escravista colonial em nosso passado histórico, e da formação do capitalismo brasileiro a partir da desagregação do escravismo, com um período intermediário de transição onde traços desses dois modos de produção se combinaram.
A sociedade colonial que emerge da descrição feita por Gorender é muito mais complexa do que aquela pintada pelas teorias circulacionistas derivadas de Caio Prado Jr. Ele registra a existência, nesse modo de produção, de um mercado interno "quase inelástico", e "inadequado aos fins da produção mercantil". Mas que já era visível desde o início do século XVII, em tomo de alguns núcleos urbanos, onde "se formou um mercado interno para alimentos produzidos na própria colônia" (Gorender, 1978). Aponta também a existência, no interior da sociedade escravista, de um modo de produção marginal, "predominantemente de autosubsistência", formado pela pequena produção camponesa, tacada por pequenos lavradores não escravistas independentes, cujas sobras eram destinadas ao mercado interno, e que cresceu principalmente nos séculos XVIII e XIX. Na proximidade de grandes cidades como Rio e Salvador, eram estimulados à produção mercantil, podendo então alcançar "relativa prosperidade" que "lhes permitia certa acumulação e a aquisição de escravos" (Gorender, ]978).
Este é outro tema presente em O escravismo colonial: a questão da acumulação interna no período colonial. As idéias dominantes na historiografia recusavam esta possibilidade, pois o comércio e vida econômica da Colônia eram controlados e estavam a serviço dos mercadores sediados em Lisboa e outras cidades européias. Tese destruída pela pesquisa histórica e também pela forma inovadora de avaliar os documentos e o conhecimento até então acumulado. Como outros estudiosos, Gorender registra que o centro do tráfico de escravos já havia passado, no século XVIII, da metrópole para a Colônia. Os escravos eram o principal produto importado pela Colônia, parte de um comércio externo que envolvia aguardente, fumo, açúcar, tecidos da Índia e outros gêneros. Já no século XVIII, diz ele, formara-se na Bahia, em Recife, no Rio de Janeiro, uma burguesia mercantil forte e ciosa de seus interesses, que havia sido capaz, por exemplo, de comandar e financiar a reconquista de Angola, em 1648 (ocupada pelos holandeses por ordem de Maurício de Nassau). Isto no século XVII.
Entretanto, não se podia confundir aquela acumulação de capitais com a acumulação capitalista. "Os mercadores coloniais constituíam uma burguesia mercantil integrada na ordem escravista, e tão interessada na sua conservação quanto os plantadores"; estava longe de ser uma burguesia com as conotações desta classe no modo de produção capitalista. A acumulação que houve no escravismo não era acumulação capitalista, pois traduzia-se na acumulação de escravos. "Expandir a produção implicava, aqui, em primeiro lugar, o aumento do plantel de escravos". Ela podia assumir também outra forma, nas mãos do fazendeiro (na esfera da produção) ou dos mercadores (na esfera da circulação), "a forma de dinheiro e de outros meios líquidos pertencentes aos mercadores". Mas o "capital colonial só o era enquanto capital mercantil", perdendo a natureza de capital quando investido em escravos e em meios de produção num empreendimento escravista. "A acumulação de capital mercantil não se transformava em acumulação própria ao modo de produção capitalista", que é a "apropriação de mais-valia criada por operários assalariados". Ao contrário, a acumulação colonial tinha, quase sempre, a forma pré-capitalista de entesouramento (Gorender, 1978).
A análise feita em O escravismo colonial é circunscrita ao período de vigência do modo de produção escravista colonial, e não enfrenta a questão de sua decomposição e extinção. Reconhece, entretanto, que o abolicionismo é "fator dinâmico primordial" para sua superação (Gorender, 1978). Ficou adiada, assim, não só a análise daquela revolução social, mas também o estudo da passagem do escravismo para o capitalismo no Brasil, tema abordado (embora sem maiores desenvolvimentos) em textos de 1981 e 1987. No primeiro, Gorender diz que o fim do escravismo colonial não significou a afirmação imediata do modo de produção capitalista em nosso país, mas o início de um período de dominação latifundiária (um modo de produção plantacionista latifundiário apoiado em formas camponesas dependentes) que durou toda República Velha. Era um "modo de produção subordinado, baseado na combinação de "elementos de economia camponesa com o pagamento de salários de modalidade pré-capitalista. Sua produção voltava-se fundamentalmente à exportação, em condições que permitiam a difusão de relações salariais e a ampliação do mercado interno (Gorender, 1981; 1987 a). A descrição deste período de transição entre o escravismo e o capitalismo, no Brasil, está ainda à espera de seu historiador.
Mercado interno, acumulação e ritmos econômicos
Após Gorender ter desvendado o mundo das relações de produção na Colônia, havia ainda outro aspecto daquela realidade ainda por decifrar. O véu que o encobria começou a ser levantado de forma sistemática em 1977, quando a historiadora Maria Yedda Leite Linhares começou a organizar a equipe de pesquisadores para estudar o abastecimento dos centros urbanos brasileiros, que resultou em dois livros publicados em 1979 (Linhares, 1979; Linhares e Silva, 1979). Os méritos destes estudos não se esgotam na descrição detalhada dos problemas do fornecimento de alimentos para as vilas e cidades coloniais, a escassez, a alta do custo de vida, as intervenções e omissões da autoridade pública, ou a tipologia das crises, temas ali abordados de forma pioneira. Ela constata a "ausência de estudos particularizados sobre o comércio e sobre os comerciantes nas cidades coloniais", impedindo o conhecimento completo das transformações internas que decorreram da mineração, do aparecimento de centros consumidores "de relativa concentração demográfica" , e do impacto econômico da mudança da sede da monarquia portuguesa para o Rio de Janeiro. Desde meados dos anos 70, Maria Yedda orientou cerca de 60 pesquisas nesse sentido.
A idéia da existência de um mercado interno à Colônia, de uma produção agropastoril destinada ao abastecimento dos centros urbanos, da acumulação de capitais e de ritmos econômicos que indicavam uma certa autonomia da economia colonial, embora dependente, adquiria direitos de cidadania na historiografia brasileira. A obra mais marcante, nesse sentido, é a do historiador João Luís Ribeiro Fragoso (Fragoso, 1992) que, sintomaticamente, é dedicada à historiadora Maria Yedda Leite Linhares.
Sua pesquisa esclareceu alguns pontos que, até então, eram obscuros. Se as dúvidas a respeito da existência do mercado e da acumulação interna já se dissipavam, restava provar a relativa autonomia da vida econômica da Colônia.
A partir do exame de inventários, testamentos e outros documentos, de grandes comerciantes do Rio de Janeiro, ele descobriu uma prova contrariando um aspecto essencial da teoria: nenhum tinha passivo comercial superior ao ativo. Isto é, dinheiro que tinham a receber era maior do que suas dívidas, demonstrando "sua autonomia financeira frente aos capitais e casas mercantis estrangeiras – ao contrário do que pretendia a historiografia oficial" (Fragoso, 1990; 1992). Outra prova, também fundamental, veio do estudo do comportamento dos preços em grandes cidades coloniais brasileiras, mostrando que a economia colonial flutuava com ritmos próprios, pelo menos no período estudado (posterior à 1750), e não de acordo com o comportamento dos preços no mercado internacional. As teses anteriores, segundo as quais a economia colonial era reflexa, preconizavam um automatismo na oscilação dos preços que a pesquisa empírica não comprovou. Semelhante disparidade de oscilações foi encontrada para a cidade de Salvador, entre 1750 e 1845, num estudo feito por Kátia Matoso, e para o Rio de Janeiro, entre 1763 e 1823, num estudo de Harold Johnson, que mostraram uma tendência de alta nos preços coloniais, quando a tendência internacional era de baixa. (Fragoso, 1992).
Isso revela uma autonomia relativa da vida econômica colonial, revelada principalmente "pela possibilidade dessa formação social controlar, pelo menos em parte, seus mecanismos de reprodução. Referimo-nos em especial à ascendência da comunidade mercantil sobre a liquidez e o tráfico atlântico no Sudeste colonial e, mais do que isso, ao jogo que se estabelece entre o capital mercantil e a agroexportação, onde o primeiro recria periodicamente o segundo" (Fragoso, 1992).
Reprodução que tinha, no comando, esse capital mercantil formado na Colônia, e na base o modo de produção escravista colonial. Sua reprodução se dava pela agregação de mais escravos, trabalho forçado que permitia o aumento da área da terra explorada na fronteira agrícola, recriando periodicamente "uma forma de produção historicamente dada". Essa forma de produção dava-se numa sociedade fortemente hierarquizada, com base no trabalho escravo que, em seu movimento de reprodução, reproduzia essa sociedade (Fragoso, 1992).
Assim, a dependência é, em parte, controlada a partir de dentro da formação histórico social brasileira, "transformando-se em um mecanismo de acumulação interna", ou melhor, "de reiteração das desigualdades econômicas e sociais nela presentes" (Fragoso, 1992). Esta é uma primeira conclusão que o estudo de Fragoso impõe: o reconhecimento de que, se tinham relativa autonomia em relação ao domínio externo, as elites brasileiras sempre se beneficiaram da subordinação do país à economia mundial, conseguindo grandes lucros com a dependência externa, elite que optou pelo atraso e pelo subdesenvolvimento para manter seus privilégios.
Palavras finais
O plano inicial era apresentar as visões do Brasil num único artigo, comemorativo dos 500 anos de nosso país. Mas o tema se impôs, por sua complexidade e extensão, chegando a estes oito artigos, publicados durante 1999 e 2000, conjunto que tem omissões, e onde muita coisa foi tratada de forma ligeira, algumas vezes deliberadamente, e outras por incapacidade do autor.
A ambição inicial era vasta. Primeiro, apresentar sob um ponto de vista marxista as obras, os autores e os debates significativos de nossa historiografia. Depois, mostrar como as gerações de historiadores contribuíram para a elaboração de uma história científica no Brasil, trabalho intelectual que sempre dialogou com as contradições da vida social, política, econômica e cultural. A relação entre as gerações de historiadores é ambígua – é crítica e, ao mesmo tempo, incorpora o conhecimento alcançado, um caso exemplar de superação, ao estilo hegeliano, sinônimo de ultrapassagem e, ao mesmo tempo, incorporação.
Outro aspecto que este balanço pretendeu registrar foram as conseqüências da dependência cultural – de nosso país e seus intelectuais. Na historiografia, ela está presente na subordinação às escolas de pensamento européias e, depois, norte-americanas. Sob o peso das modas intelectuais do momento, a crítica à produção passada foi, quase sempre, iluminada com luzes estrangeiras, deixando na penumbra o acúmulo do conhecimento histórico alcançado no próprio país. Tendência que se choca, crescentemente, com contra-tendências dotadas de ferramentas críticas e olho no país e em seu povo.
Este conjunto de artigos procurou demonstrar também como a assimilação do marxismo, e seu amadurecimento no país, levou à compreensão da formação histórico social brasileira, dos modos de produção que aqui tiveram vigência, e de sua sucessão. Isto é, como se construiu uma visão marxista coerente de nosso passado.
Falta, nesta série, pelo menos um esboço do rico debate ocorrido desde os anos 50 na esquerda brasileira, sobre o caráter de nossa formação histórico social. Embora os teóricos de organizações de esquerda não sejam historiadores no sentido acadêmico, a matéria com a qual trabalham e sobre a qual agem é a sociedade e seu movimento. São por isso especialistas no conhecimento histórico, estudo que orienta e é um dos fundamentos de suas opções táticas e estratégicas. Em conseqüência, é comum que muitas teses que renovaram a história tenham nascido no âmbito das organizações de esquerda, traduzindo as exigências das lutas políticas em teses que influenciam muitos estudiosos, acadêmicos ou não. Eles as desenvolvem de forma metódica e sistemática, e geram novos conhecimentos que, por sua vez, voltam e influenciam aqueles estudiosos militantes e as organizações de esquerda, num processo de retroalimentação permanente e de mão dupla. Não há ciência histórica sem prática política, da mesma forma que não há política sem a ciência da história. As imposições de espaço editorial impediram a apresentação, aqui, deste debate, cujo tratamento será tema de artigo à parte.
Este conjunto de textos foi submetido ao leitor na esperança de despertar seu interesse por estes problemas e chamar a atenção para sua complexidade, na certeza de que somente uma atitude científica, deixada como herança pelos fundadores do marxismo, pode fundar uma ação transformadora fértil e radical. ~
Bibliografia
CARDOSO, Ciro Flamarion, "Sobre os modos de produção coloniais na América" e "O modo de produção escravista colonial na América", in Sanliago, Théo Araújo (org.), América Colonial, RJ, Pallas, 1975
_____ , "Observações sobre o 'dossie' preparatório da discussão sobre o modo de produção feudal", in CERM, Sobre o Feudalismo, Lisboa, Estampa, 1978
_____ , Agricultura, escravidão e capitalismo, Petrópolis,
_____ (org.), Escravidão e abolição no Brasil: novas perspectivas, RJ, Jorge Zahar, 1988
FRAGOSO, João Luís Ribeiro, "O império escravista e a república dos plantadores", in Linhares, Maria Yedda (arg.), História Geral do Brasil, RJ, Campus, 1990
_____ , João Luís Ribeiro, Homens de grossa aventura: acumulação e hierarquia na praça mercantil do Rio de Janeiro (1790/1830), RJ, Arquivo Nacional, 1992
GORENDER, Jacob, O escravismo colonial, SP, Ática, 1978 _____ , A burguesia brasileira, SP, Brasiliense, 1981 _____ , Combate nas trevas, SP, Ática, 1987 _____ , Gênese e desenvolvimento do capitalismo no campo brasileiro, Porto Alegre, Mercado Aberto, 1987a _____ , A escravidão reabilitada, SP, Ática, 1990 GORENSTEIN, Riva, Martinho, "Comércio e política: o enraizamento de interesses mercantis portugueses no Rio de Janeiro (1808/1830)", in MaItinho, Lenira Menezes e Riva Gorenstein, Negociantes e Caixeiros na Sociedade da Independência, RJ, Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes, Dep. Geral de Documentação e Informação Cultural, 1993. LENHARO, Alcir, As tropas da moderação – o abastecimento da Corte naformação política do Brasil, 1808/1842), SP, Símbolo, 1979
LEVY, Maria Bárbara, História da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, RJ, IBMEC, 1977.
UNHARES, Maria Yedda Leite, História do abastecimento: uma problemática em questão (1530/l918), Brasília, Binagri, 1979 LOBO, Eulália Maria Lahmeyer, História do Rio de Janeiro (do capital comercial ao capital industrial e financeiro), 10 Vol., RJ, IBMEC, 1978
MARTINHO, Lenira Menezes, "Caixeiros e pés-descalços: conflitos e tensões em um meio urbano em desenvolvimento", in MaItinho, Lenira Menezes e Riva Gorenstein, Negociantes e Caixeiros na Sociedade da Independência, RJ, Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes, Dep. Geral de Documentação e Informação Cultural, 1993
MOURA, Clóvis, Rebeliões da senzala – quilombos, insurreições, guerrilhas. Porto Alegre, Mercado Aberto, 1988 (I" edição: 1959)
PEREIRA, Duarte, "Marxismo sem classe operária. É possível?", Princípios n° 56, fev-mar-abr/2000
PETRONE, Maria Thereza Scharer, O Barão de Iguape – um empresário da época da Independência, SP, Cia Editara Nacional, 1976
RODRIGUES, José Honório, Brasil e África: outro horizonte, RJ, Nova Fronteira, 1982 (J' edição: 1961).
RUY, José Carlos, "A sociologia sem causa mortis", in Leia, SP, 1988
SINGER, Paul, "Campo e cidade no contexto histórico latinoamericano, in Economia política da urbanização, SP, Brasiliense/Cebrap, 1975
VERGER, Pierre, Fluxo e refluxo do tr{!fico de escravos entre o golfo de Benin e a Bahia de Todos os Santos dos séculos XVJJ a XIX, SP, C01TUpio, 1987 (I' edição: 1968)
ZEMELLA, Mafalda P., O abastecimento da capitania das Minas Gerais no século XVIlJ, SP, HuciteclEdusp, 1990 (J' edição: 1951)
EDIÇÃO 59, NOV/DEZ/JAN, 2000-2001, PÁGINAS 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35