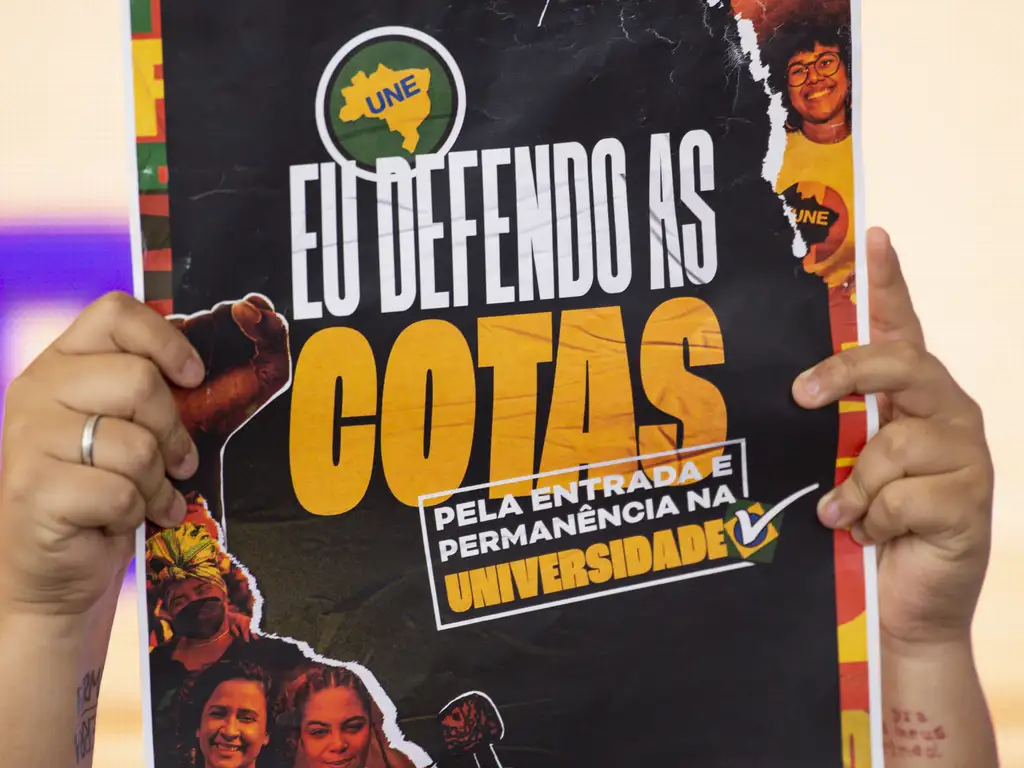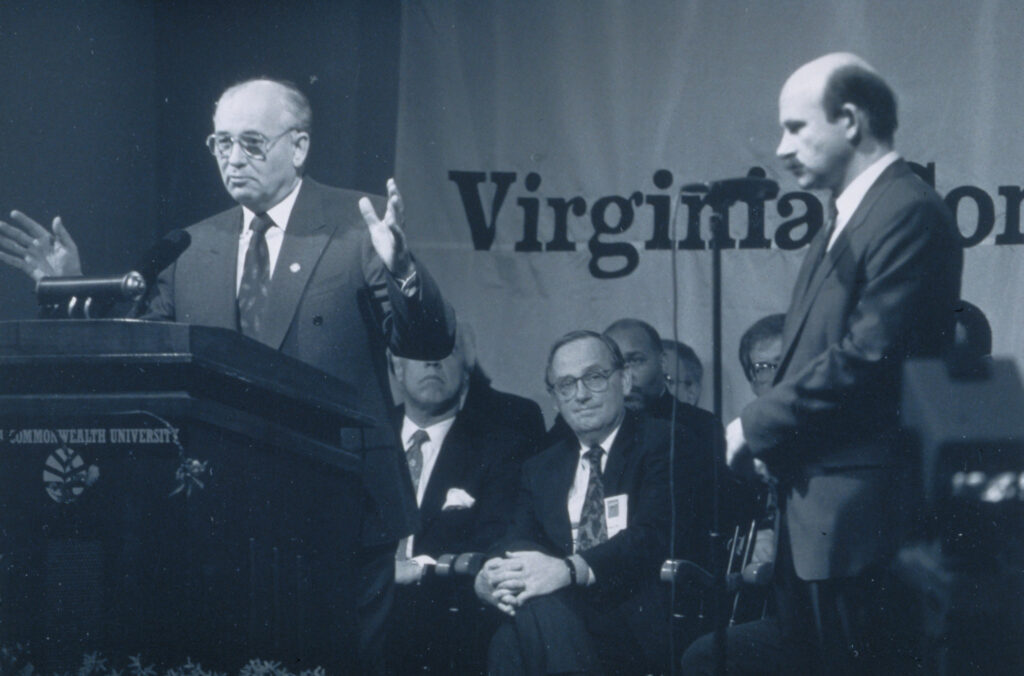A Avenida da Paz Eterna, Changan, extensa e reta, cortando a Praça da Paz Celestial, Tianamen, a maior do mundo, passando pela entrada principal da Cidade Proibida, dominada pelo retrato de Mao Tsetung. Este foi o cenário do monumental desfile comemorativo dos 50 anos da Revolução Chinesa, realizado em 1º de outubro passado, em Pequim. Tudo contribuía para a grandiosidade da festa: os 500 mil personagens que desfilavam, o espetáculo de cores e sons adornando a soberania do vermelho, os 400 tanques velozes, o Vento Leste – balístico intercontinental com alcance de 8.000 Km – os 100 caças evoluindo em formações precisas pelo ar, o Leopardo Voador – caça-bombardeiro com autonomia de 3.650 Km – e mais 100 mil estudantes, milhares de mulheres das forças armadas, 55 minorias étnicas em trajes típicos, carros alegóricos, fogos de artifício, empresários representando o setor privado, deficientes físicos em cadeiras de roda etc.
O simbolismo era forte. Naquele mesmo lugar, há exatos 50 anos, ante 300 mil pessoas, Mao Tsetung, chegara de 28 anos de lutas com seu povo, dos quais 26 em guerra, e proclamava: "Está fundada a República Popular da China! De hoje em diante o povo chinês vai se erguer". A continuidade das décadas mostrou o caráter profético dessas palavras, que lembravam outras – de Napoleão – ditas no século XIX: "Quando a China se levantar o mundo estremecerá".
A festa era esfuziante por diversas razões. A China fora, no passado, dilacerada por centenas de agressões armadas de diferentes potências. Depois da República Popular, ninguém mais tocara seu solo pátrio. A pobreza, a ignorância e o atraso foram inseparáveis da população chinesa por séculos. Depois da República Popular, passaram a ser enxotados, mormente nos últimos vinte anos, em que o antigo Império do Meio mais cresce entre todos os demais do mundo. Numa situação em que a crise financeira açoita países grandes e pequenos e desagrega economias tidas como fortes e estáveis, e na qual vicejam a recessão, o crescimento vegetativo e o desemprego, a China conseguiu, em 1998, crescer a um nível de 8%, exportar US$ 183 bilhões (o triplo do Brasil, que exportava mais que a China em 1980), ter US$ 40 bilhões de superávit comercial, reservas cambiais de US$ 140 bilhões, PIB próximo a ultrapassar o da Inglaterra (US$ 1 trilhão) e, o que é muito significativo, retirou da faixa de pobreza, nos últimos anos, segundo a ONU, 60 milhões de chineses. Tudo isso se comemorava no magistral desfile do cinquentenário em Pequim.
Mas há uma atitude básica na mídia mundial e por reflexo na brasileira, predisposta a não ver vitórias na China. Tudo o que ali se passa é submetido a um crivo ideológico negativista, condicional e deformador: os êxitos são minimizados, os riscos potencializados, o importante secundarizado e o secundário posto em relevo. Até mesmo o inexistente às vezes ganha destaque. Analistas especializam-se em rabiscar páginas especulativas, descomprometidas com os fatos e distantes dos meandros chineses. Salvo as exceções que sempre existem, quando a China está em pauta até o jornalismo meramente objetivo escasseia.
Agora, por ocasião do qüinquagésimo aniversário da Revolução Chinesa, predominou na mídia uma miscelânea informando que o governo chinês estava tirando levas de mendigos das ruas e prendendo dissidentes para que o desfile pudesse passar; que os sofrimentos inauditos dos chineses estavam sendo razoavelmente compensados nesse período recente pelo capitalismo que por lá chegou; que, desemprego e corrupção são as tônicas do momento; que para inspirar a população descontente o Partido Comunista buscava reviver o mito maoísta, além de outras vulgaridades fastidiosas.
The Economist, a revista inglesa mais abertamente ligada ao capital financeiro, ante a crise crescente que enxerga no sistema bancário chinês, continuou sua pregação neoliberal aberta e radical, defendendo a abertura do mercado financeiro chinês, a presença dos bancos estrangeiros, uma ampla emissão de títulos públicos e, como não poderia deixar de ser, a privatização das estatais. E o professor francês Jean-Luc Domenach, tido como especialista em questões da Ásia, teve uma página inteira de O Estado de S. Paulo para desancar opiniões de um reacionarismo exacerbado e primitivo, eivado de provocações grosseiras no estilo "máfia comunista", "explosão de corrupção" e outras (1).
O certo é que, numa oportunidade especial como essa da comemoração dos 50 anos da Revolução Chinesa, confirma-se o tratamento banalizado que a mídia internacional e a brasileira têm dispensado à experiência em curso na China, com as exceções meritórias de costume.
Mas esse problema reflete outros. Primeiro, a tentativa de desqualificar a China para o papel estratégico a que está fadada a desempenhar no novo quadro de forças do mundo. Segundo, a tentativa de negar ao socialismo qualquer virtude no desabrochar de
uma nova potência de primeira grandeza neste cenário.
Os governos dos países capitalistas e seus intelectuais impingem a retórica neoliberal como algo moderno e sério
A China e o novo quadro estratégico que se forma no mundo
As bruscas mudanças ocorridas nas últimas décadas deste final de século alteraram radicalmente a situação geral. Países centrais impuseram ao mundo as regras de um mercado sem regras, aniquilador de esperanças nacionais, invasor de fronteiras e concentrador de poder. Novas formas de submissão ao grande capital vão sendo definidas e gradativamente impostas através de conceitos supostamente modernos e científicos como o anacronismo dos Estados nacionais, a inevitabilidade da liberalização econômica, a abertura comercial e financeira indiscriminadas, o culto ao capital estrangeiro mesmo especulador, a garantia aos investimentos, a entrega do patrimônio público a preços irrisórios, a precarização do trabalho, o descrédito à auto-estima nacional, a soberania limitada, o novo papel das forças armadas, em suma, tudo isso que vem na esteira da chamada globalização. E enquanto o pensador John Kenneth Galbraith dizia que "nós, americanos, inventamos este conceito (globalização) para dissimular nossa política de entrada econômica nos outros países e para tornar respeitáveis os movimentos especulativos de capital, economistas e setores governamentais dos países periféricos, com participação de intelectuais desprevenidos, incorporaram esse discurso como algo moderno e sério. Seus países tornaram-se fortemente dependentes do exterior, no econômico, no político, no cultural e, evidentemente, no militar.
Desde a queda do muro de Berlim, em 1989, e a desintegração da União Soviética, entre 1990 e 1991, os EUA, já como superpotência única, puseram-se, como disse seu presidente George Bush, em encontro na ilha e país de Malta, a organizar a "Nova Ordem Mundial", segundo o receituário da "globalização".
Militarmente, um problema estratégico de logo se colocava. Que fazer da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, se ela surgiu como um bloco defensivo para fazer face ao Pacto de Varsóvia, que acabara? Líderes europeus começaram a vê-Ia como um "fardo estratégico-diplomático e financeiro" e, mais grave ainda, um instrumento de domínio dos EUA. Setores da velha Europa, "gigante econômico e anão político", no dizer do ex-chefe de Estado alemão Willy Brandt, ante viram a possibilidade de livrarem-se do "fardo" para livrarem-se dos EUA e transformarem o gigante econômico em gigante político. Chegaram a projetar um Exército Binacional Franco-Alemão, núcleo de uma eventual nova defesa européia. Mas, quem não aceitou o problema posto nestes termos foram os EUA.
Em 1992, documento do Pentágono intitulado Defense Planning Guidance 1994-1999, descartou a idéia do fim da OTAN e foi à frente, propôs sua ampliação com países do Leste europeu, recém-egressos do campo socialista, argüindo ameaças que poderiam advir do próprio Leste europeu e do Oriente Médio!
O professor Paulo Fagundes Vizentini, da UFRGS, mostra como nesse "processo de convencimento dos europeus" – sobre a importância da OTAN – que "foi desencadeada a Guerra do Golfo (1990-1991) e alimentados os conflitos da Iugoslávia em desagregação". (2) E os EUA lograram, assim, "demonstrar" aos europeus a relevância da continuidade da OTAN…
A guerra de Kosovo permitiu aos Estados Unidos alcançar dois objetivos estratégicos. Acantonar a Europa, na estratégica região dos Balcãs, força militar decisiva, dissuasória, e comprometer a França, a Itália, a Alemanha, a Grécia, a Inglaterra e outros com a agressão a um país europeu, coordenada por ele, os Estados Unidos – coisa que nunca havia acontecido. A Guerra do Golfo já permitira aos Estados Unidos assentarem fortes bases no Oriente Médio, eles que já tinham considerável influência na África centro-oriental. Quando terminou a guerra de Kosovo, os Estados Unidos estavam como se tivessem efetivado uma espécie de conquista branca da Europa, pretextando resolver, pela guerra, um problema humanitário.
É a partir dessas novas posições-chave, apoiando-se em força militar gigantesca e no estupendo poder de emitir, sem controle e sem lastro, a moeda básica do mundo, que o Império planeja nova expansão, como é de sua natureza.
Posto que a América está sob controle e a Europa, pelo menos momentaneamente, domesticada e sob ocupação branca, a Ásia é a meta estratégica dos Estados Unidos. Na Ásia, o Japão já foi dobrado e o sudeste quebrado. Resta a China, socialista, de pé há cinqüenta anos, sem acatar ao comando da Organização Mundial do Comércio, a OMC, sem atender ao Fundo Monetário Internacional, O FMI, sem privatizar suas 79 mil estatais e crescendo a 10% ao ano há duas décadas, mais que qualquer país do mundo, e com a expectativa de vir a ser, por volta do ano 2025, a maior economia do mundo! E para completar, com o maior exército da Terra. O Império vê tudo isto como uma afronta e uma ameaça inaceitáveis, que precisam ser conjuradas.
Evidentemente que a nova expansão do Império não será tranqüila e que problemas complicados poderão advir. Estudiosos já examinam alguns deles como: voltaria a Alemanha a se armar? Qual seria o desfecho da situação na Rússia, quando acabar brevemente essa mórbida e humilhante etapa-Ieltsin?
A mídia ocidental – e a brasileira – tem uma má vontade com a China, que reflete o ponto de vista geopolítico dos EUA
Especialmente não será fácil chegar à China. Mas os Estados Unidos vão mantendo na Ásia, na China e em seu entorno, problemas da época da guerra fria, que não querem ver resolvidos: a divisão entre as duas Coréias e a ilha chinesa afastada de Taiwan. Agitam também com o Tibete, cuja suposta independência estaria pendente. A qualquer instante esses focos latentes de tensão cultivada podem ser "esquentados" e transformados em crise… E nas "crises", o Império espera crescer.
Há outros problemas para os Estados Unidos. A Índia, com sua população gigantesca, sua resistência às receitas neoliberais e, em decorrência, seu desenvolvimento, é um deles. Outro: um país com reservas colossais, que entra em um milênio onde haverá falta de água doce no mundo com 22% desta água do planeta e com 80% da biodiversidade existente – que é o Brasil. Seguramente o Império considera necessária a correção de todos esses "equívocos" da natureza …
Em 1988, Deng Xiaoping, artífice da teoria do socialismo com peculiaridades chinesas, teceu comentários sobre problemas mundiais com o então Primeiro Ministro da Índia, Rajiv Ghandi. Discordou de idéias que previam ser da Ásia e do Pacífico o próximo século, por entender que aquelas opiniões partiam apenas do desenvolvimento dos EUA, que é país do Pacífico, do Japão, Nova Zelândia, Austrália e dos "quatro pequenos dragões", chamados no ocidente de "tigres asiáticos", Hong Kong, Cingapura, Taiwan e Coréia. Dizia ele que só haveria "algo parecido com século da Ásia e do Pacífico" quando a China e a Índia se desenvolverem. E acrescentou essa observação lapidar, como que traçando o rumo de uma aliança estratégica para o futuro: "Da mesma forma não haverá nenhum século da América Latina sem o desenvolvimento do Brasil" (3).
Com este pano-de-fundo compreende-se que admitir vitórias econômicas, sociais e militares na China não é do agrado dos americanos. Daí o esforço por desqualificar as realizações chinesas, questioná-las, descrevê-las como prestes a desabar. A mídia internacional, por eles monitorada, inclusive a brasileira, reflete essa má vontade intrínseca, que outra coisa não é senão um ponto de vista geopolítico.
Do outro lado, o desfile dos 50 anos na China, pela sua pujança, grandiosidade, simbolismo, solenidade, quantidade e qualidade do armamento exposto soou como um recado, "a quem interessar"…
Sem o socialismo não existiria a nova China
Batalha candente da atualidade é a que se passa em torno da viabilidade ou não do socialismo, se ele é capaz ou não de desenvolver um grande país e se existe hoje no mundo país socialista ou não. Essa é uma discussão ideológica que em princípio diz respeito aos comunistas, socialistas e trabalhadores conscientes do mundo. Mas não é assim. Os ideólogos do capital, cavalgando aparato de divulgação gigantesco, puseram-se a campo com o objetivo de demonstrar que após a débâcle da antiga URSS e dos países do Leste europeu o socialismo desapareceu como alternativa prática de futuro, registrando-se apenas seus últimos redutos, que caminham para seu final. Poderá permanecer – dizem – a idéia de uma sociedade diferente, idealmente justa, mas, como um sonho já desfeito pela vida.
Contrastando flagrantemente com esse discurso dos homens do capital, avultam os problemas da humanidade, as multidões de famintos, excluídos e desempregados para quem o capitalismo hegemônico não tem condições sequer de garantir vida. A luta contra o capital e pelo socialismo, só por esse fato, está na ordem do dia do mundo.
Outro desmentido vigoroso do fim arengado do socialismo, é o rol dos países onde o socialismo viceja, como China, Vietnam, Cuba, Coréia do Norte. Destes, pelas dimensões, importância estratégica e excepcional desenvolvimento econômico e social destaca-se a China. E aí é que os ideólogos do capital partem para uma argumentação desesperada. "Mas a China está abandonando o socialismo", esbravejam. E sapecam nos seus jornais, pelo mundo e pelo Brasil, a mesma manchete escrita de formas variadas: "China: a longa marcha para o capitalismo" (4).
Os propagandistas do capital divulgaram pelo mundo que socialismo é um modelo determinado de organização social, inspirado basicamente na experiência soviética de certo período. O modelo que desenham é uma caricatura daquela experiência e, o que é muito pior, é imutável. Suas linhas gerais são mais ou menos as seguintes: os meios de produção, grandes, médios e pequenos, são propriedades do Estado. A atividade econômica é regulada por um planejamento altamente centralizado. As leis do mercado pouco ou nada interferem nos preços dos produtos e em tudo o mais. O emprego é garantido independente da eficácia do sistema como conjunto. A produtividade e a qualidade não são fatores decisivos da produção. E saiu disso, não é socialismo.
Ademais, projetaram também o estereótipo de um comunista e de como seria sua vida. Vida difícil, indivíduos pobres, trabalhadores, sérios, onde a regra é o coletivo e onde o coletivo serve à contenção dos planos, dos anseios e das possibilidades. E saiu disso, é aburguesamento.
Claro que esse discurso reacionário e estereotipado, por um lado, amedronta setores de esquerda, e, por outro, são fortalecidos por idéias análogas e incorretas que alguns desses setores têm.
A China é o exemplo mais evidente de que o socialismo não pode se restringir a um modelo único
Como se sabe, a matriz inspiradora desse esquema caricaturado, a União Soviética, depois de uma fase de alto dinamismo e crescimento, estagnou, enfrentou problemas de variados tipos e, não respondendo criadoramente aos novos desafios, sucumbiu. Patenteado ficou que o socialismo, como tudo que é humano, ou se desenvolve ou perece.
A China é o exemplo mais evidente de que o socialismo não pode se restringir a um modelo estratificado. Vinha ela se orientando, até certa altura, pelo exemplo soviético, embora há muito discordasse de um modelo socialista único. As dificuldades surgidas no Leste europeu e na URSS, pelos últimos anos da década de cinqüenta, funcionaram como alerta para a China. E de forma sinuosa, ao cabo de muito tempo, usando intensamente a experimentação como método para a descoberta do que é certo, ela vincou uma concepção nova de construção socialista em seu país, que vem dando certo há vinte anos.
O ponto de partida dessa concepção sobre o socialismo na China, que o Partido Comunista da China tem apresentado, parte do princípio de que, naquele país, há muito já existe uma economia socialista, fundada na propriedade social dos meios de produção; mas que esse socialismo, nas condições do atraso econômico chinês, encontra-se em uma etapa primária. A economia dessa etapa foi definida em certo momento como uma "economia mercantil planificada socialista", onde poderiam coexistir "múltiplas formas de propriedade dos meios de produção", incluindo a privada e a estrangeira, sob o "predomínio da propriedade social", que também comporta variados tipos.
O princípio fundamental que aqui se afirma é o da "separação entre o direito de propriedade e o direito de gestão", declarando-se que "as empresas de propriedade de todo o povo não podem ser operadas por todo o povo e em geral não convém que o sejam diretamente pelo Estado", lembrando que no passado essas tentativas asfixiavam as estatais. Nessa economia deveria existir unidade entre a planificação e o mercado, que seriam "duas formas ou dois meios de regulação", de tal maneira que "ao Estado cabe regular o mercado e, a este, corresponde orientar as empresas".
No XIV Congresso do Partido, em outubro de 1992, novas apreciações foram feitas a respeito dessa concepção socialista, onde o mercado entra, ao lado do plano, como fator de regulação.
Salientou-se que "tradicionalmente, via-se economia de mercado como algo específico do capitalismo e economia planificada, algo privativo do socialismo". Logo depois de 1978, o Partido começou a formulação de "tomar como setor principal a economia planificada e como auxiliar a regulação do mercado", fórmula que antecipou a "economia mercantil planificada baseada na propriedade pública" e chegou à "economia mercantil planificada socialista". Finalmente, o XIV Congresso compreendeu "não ser economia planificada sinônimo de socialismo, pois no capitalismo também há planejamento" e "tampouco economia de mercado é sinônimo de capitalismo, já que no socialismo também existe mercado". E cunhou a forma hoje usada na China de "economia de mercado socialista".
A predominância da propriedade pública sobre as demais garante o comando socialista da economia
A predominância da propriedade pública sobre as demais formas de propriedade é o que garante em última instância o interesse do Estado socialista no comando da economia. Isto realça o papel das estatais na economia chinesa.
O socialismo não pode se sustentar em estatais fracas, que só dão prejuízo. Nas experiências soviética e do Leste europeu, as grandes empresas tiveram importância decisiva. Vanguardearam a economia de seus países, mas só na época da industrialização extensiva. Depois, as estatais perderam flexibilidade e dinamismo. Tornaram-se pesadas, deficitárias.
O problema de reformar as estatais, dinamizando-as, modernizando-as e mantendo-as estatais é considerado pelo Partido Comunista da China "o centro de gravidade da atual reforma da estrutura econômica". A idéia da "privatização", no sentido em que é conhecida no ocidente, nunca foi admitida na China.
A reforma das estatais chinesas foi tema de destaque na primeira coletiva à imprensa concedida por Zhu Rongji, logo após sua eleição para primeiro-ministro, em março de 1998. Ele enfatizou os seguintes pontos: "alguns meios de comunicação estrangeiros exageram as dificuldades das estatais chinesas"; "existem na China 79 mil empresas de propriedade estatal, e algumas são pequenas, com apenas algumas dezenas de trabalhadores"; "porém existem 500 empresas extraordinariamente grandes, cujos lucros e impostos entregues ao Estado representam 85% do total nacional"; "somente 10% dessas 500 empresas, umas 50, têm prejuízos atualmente"; "em três anos tiraremos das dificuldades a maior parte delas".
É esse socialismo, que se apóia na propriedade social dos grandes meios de produção e no mercado regulado, que está conseguindo êxitos sociais e econômicos extraordinários na China, também no Vietnam e em Cuba. Concebê-lo tem sido um esforço dos comunistas e revolucionários modernos para tirar lições da história, compreender os tempos atuais e partir das peculiaridades de cada um de seus países. Não fazer isto é não entender os desafios do momento e não adaptar as formas às novas condições. Seria dogmatismo e estratificação teórica. E daria, desenganadamente, em desastre, como desenganadamente é por este desastre que lutam os ideólogos do capital quando estranhamente bradam que socialismo com mercado, e com riqueza, e com progresso, e com desenvolvimento, não é socialismo.
Os verdadeiros socialistas não devem se perder nas artimanhas sutis da luta ideológica atual, e não devem cair na defensiva ante o alarido das correntes adversas. O qüinquagésimo aniversário da Revolução Chinesa é uma oportunidade para reflexões mais profundas dos rumos práticos do socialismo no mundo de hoje.
Notas
(1) Jean-Luc Domenach é diretor científico da Fundação Nacional de Ciências Políticas da França. Ver O Estado de S. Paulo, 26 de setembro de 1999, p. D3.
(2) VICENTINI, Paulo Fagundes & CARRION, Raul (org.). Século XXI, Barbárie ou solidariedade?, Editora da UFRGS, 1998, p. 107.
(3) Deng Xiaoping, tomo III (1982-1992), p. 290.
(4) The Economist, 13 de setembro de 1997, por ocasião do XV Congresso do PC da China. Um caminho para o socialismo
Para quem quer entender melhor este tema, o livro China: 50 anos de República Popular, de Haroldo Lima, Duarte Pereira e Severino Cabral, editado pela Anita Garibaldi, é um marco para estudar o significado das atuais comemorações de meio século da Revolução Chinesa – que está produzindo, após cinco décadas e por tortuosos caminhos, uma forma renovada de construção do socialismo; e permite a demonstração prática de que ultrapassado não foi o socialismo, mas um de seus modelos historicamente determinados.
O livro tem sete capítulos e inicia com uma apresentação do deputado federal do PCdoB, Haroldo Lima, que assina também os trechos seguintes "Caminhos atuais do socialismo"; "A propósito do socialismo na China"; "As estatais e o caminho socialista na China"; "E a Inglaterra teve de devolver Hong Kong"; e "Mao Tsetung na História da China".
Nestas passagens o deputado baiano comenta e esclarece questões teóricas e práticas que estão na ordem-do-dia para os estudiosos e curiosos do socialismo – como a transição ao socialismo, a experiência soviética, a China e sua etapa primária de transição ao socialismo, subdesenvolvimento e prosperidade na experiência chinesa, as peculiaridades da China em relação ao Ocidente, problemas e riscos na construção da nova vida, a modernização socialista e reforma da economia, as estatais, a reforma das estatais, o desemprego e o problema dos excedentes, a política “um país, dois sistemas”, e o papel de Mao Tsetung na história da China; enfim, os principais temas que envolvem a experiência do povo chinês nestes cinquenta anos e suas respectivas polêmicas.
O jornalista e escritor Duarte Pereira participa do livro no capítulo "A polêmica sobre o Tibete", em que, contrariando a mídia que segue o consenso a favor dos EUA, esclarece temas referentes à história daquela região, suas particularidades e inserção dentro da China multinacional e milenar.
Severino Cabral, professor de Relações Internacionais da Universidade Cândido Mendes, escreve "O Brasil e a China rumo a um novo milênio", procurando entender o papel desses dois grandes países na construção de uma nova ordem internacional multipolar.
O livro tem 127 páginas (preço: R$15,00) e pode ser solicitado à Editora Anita Garibaldi pelos fones (0xx11) 289-1331 e 3266-4312 ou pelo [email protected]
EDIÇÃO 55, NOV/DEZ/JAN, 1999-2000, PÁGINAS 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21