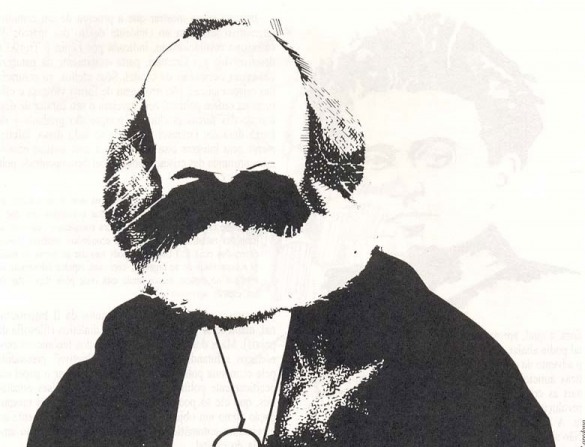A relevância das crises econômicas do capital para a estratégia política das classes trabalhadoras foi estabelecida por Karl Marx a partir do estudo percuciente da crise do comércio mundial em 1847 e dos ventos revolucionários que varreram a Europa em 1848, particularmente a França. As causas imediatas da crise são encontradas no déficit orçamentário, nas altas taxas de juros que favoreciam os banqueiros e investidores da bolsa etc. Neste contexto agravado pelas más colheitas de 1845 e 1846 e pela ruína dos fabricantes e comerciantes parisienses, a revolução explodiu e a possibilidade de lutar diretamente pelo assalto ao aparelho de Estado colocou-se de forma concreta ao proletariado organizado e à sua vanguarda (Blanqui e seus camaradas). Sistematizando essa experiência, disse Marx:
“Semelhante revolução só pode dar-se naqueles períodos em que estes dois fatores, as modernas forças produtivas e as formas burguesas de produção, incorrem em mútua contradição. (…) Uma nova revolução só é possível como consequência de uma nova crise. Mas é tão segura como esta” (1).
Ao fazerem o inventário das revoluções de 1848, Marx e Engels esperavam que seus dividendos políticos viessem com uma nova crise e um proletariado mais experiente e organizado. Por isso rechaçaram a fração ultra-esquerdista na Liga dos Comunistas, liderada por Willich e Schapper, e a tentativa de prosseguir os combates.
De fato, novas crises ocorreram, mas nenhuma revolução significativa eclodiu. O avanço das técnicas de dominação burguesa na Europa Ocidental e a constituição de uma tessitura complexa de instituições políticas impuseram aos partidos socialistas a necessidade de alteração de seus pressupostos táticos e estratégicos.
Engels foi o primeiro teórico do materialismo histórico e dialético a revelar estes novos fatores. No discurso feito na Associação Internacional dos Trabalhadores em 21-09-1871, ele defendeu a participação política legal como meio de preparação para a revolução (2).
Por fim, na célebre “Introdução” à Luta de Classes em França, de 1895, Engels declara que a vitória dos revolucionários não pode mais ser conquistada em um “grande ataque decisivo”, mas “avançando lentamente, de posição em posição, em uma luta dura e tenaz” (3).
Esta formulação de Engels era a resposta prática (ainda pouco consciente) para um desenvolvimento teórico que se operava no pensamento e na obra de Marx. Em 1894, finalmente vieram a lume os três volumes de O Capital, cuja publicação se iniciara em 1867, obra que ninguém conhecia tanto, além do autor, quanto Engels. Então se desvelou o fulcro de toda a nova problemática da luta de classes no Ocidente: as crises econômicas tornam-se objeto teórico, introduzindo análises concretas. O conceito de crise, inserido na totalidade da produção e reprodução do capital, ou seja, induzido a partir das contradições imanentes do modo de produção capitalista (objeto teórico), permite o estudo de formações sociais concretas.
Por outro lado, uma manifestação dessas contradições apenas vislumbrada no século XIX, as crises estruturais, já podia ser perquirida cientificamente depois da publicação de O Capital, pois aparece potencialmente na lei de tendência da quebra da taxa de lucro e noutras variantes analíticas da obra.
A lição mais importante que se tira da formação do conceito de crise em Marx para a classe operária é de natureza estratégica. Até 1848, a luta de barricadas na Europa Ocidental, bem como até 1917 na Rússia o assalto ao Palácio de Inverno, era suficiente para a classe trabalhadora, a qual, aproveitando-se de uma crise cíclica do capital podia abalar e até tomar o aparelho do Estado. Contudo, o advento da complexificação da sociedade civil e das políticas anticíclicas de matriz keynesiana tornou disfuncionais as crises cíclicas para a estratégia revolucionária: a revolução na Alemanha em 1918 demonstrou-o cabalmente. A potencialização política dessas crises desapareceu. Não significa isto que as crises cíclicas tenham sido “solucionadas” ou que o seu caráter deletério (destruição de forças produtivas, desvalorização de capitais etc.) se apagou; tão-somente, a emergência de instituições tão complexas de regulação, diretamente determinada pela luta de classes e pelo seu equilíbrio dinâmico favorável aos de cima na democracia burguesa, depauperou sua instrumentalização política imediata.
Obviamente a estratégia socialista deveria mais do que nunca opugnar frontalmente a conciliação de classes, à medida que esta passa a ser o elemento central da estratégia burguesa e objetivamente fundada em mecanismos sofisticados de intervenção reguladora do Estado em ciclos econômicos.
A análise concreta dessa nova conjuntura, contudo, só era possível com o desenvolvimento do estudo do caráter das crises estruturais que o capitalismo poderia tendencialmente desenvolver. Marx iniciara tal empresa teórica em O Capital, estabelecera o objeto teórico (ainda carente de sistematização), mas cabia conhecer situações concretas. Kautsky, em 1892, já tinha identificado dois tipos de crises:
“Ao lado destas crises periódicas, ao lado desta superprodução momentânea que tem por efeito a destruição momentânea de valores e o desperdiçamento momentâneo de forças, desenvolvem-se com uma potência cada vez mais considerável a superprodução crônica, o desperdício crônico de forças” (4).
Não é possível aqui reconstituir todo o debate sobre as crises do início do século XX, no qual intervieram Lênin, Rosa Luxemburgo, Tugan-Baranovski etc; muito menos as concepções estratégicas, como as de Kautsky e Bernstein.
Importa agora mostrar que a procura de um caminho alternativo socialista no Ocidente, dentro dos marcos do marxismo revolucionário, indicada por Lênin e Trotsky e desenvolvida por Gramsci, parte exatamente da natureza das crises estruturais do capital. Seus efeitos, ao contrário das crises cíclicas, não irrompem de forma violenta e efêmera na ordem política, nem revelam seu caráter de destruição das forças produtivas, porque são graduais e de longa duração. Gramsci percebeu, ao lado disso, infelizmente sem integrar essa percepção a uma análise econômica profunda das crises, o novo papel desempenhado pela sociedade civil:
“(…) A mesma redução deve ser feita na arte e na ciência da política, ao menos no caso dos estados avançados, em que a sociedade civil se tornou uma estrutura complexa e resistente às irrupções catastróficas do elemento econômico imediato (crises, depressões etc…) (…) Uma crise pode não dar as tropas de assalto a capacidade de se organizar com uma rapidez fulminante no tempo e no espaço; menos ainda essa crise pôde lhes dotar de espírito agressivo” (5).
Gramsci, muito mais que os arautos da II Internacional, manteve-se fiel ao materialismo dialético (filosofia da práxis). Marx destacara a politicidade dos fenômenos econômicos refutando a “neutralidade objetiva” pretendida pela economia política, mas não pôde esboçar o papel especificamente político do proletariado nas crises estruturais, que ele só podia vislumbrar a partir de sua investigação como um objeto teórico inscrito potencialmente no movimento automático e sem sujeito de reprodução ampliada do capital.
Curiosamente, quem asseverou em termos estritamente filosóficos o caráter dialético do marxismo e o papel da política marxista nos anos 1930, seguindo Lênin e obstaculizando o subjetivismo e o voluntarismo, bem como o reformismo e o materialismo vulgar, foi Mao Tsetung, criando as categorias processuais e históricas de contradição principal e secundária e aspecto principal e secundário de cada contradição: “Quando a superestrutura (política, cultura etc.) obstaculiza o desenvolvimento da base econômica, as transformações políticas e culturais passam a ser decisivas. Estamos indo contra o materialismo ao afirmar isso? Não” (6).
Essa valorização dos aspectos culturais e políticos na estratégia revolucionária, contraditava as prédicas dos Bernstein, Kautsky, Turatti e demais epígonos da social-democracia. Gramsci sempre se opôs em sua prática ao reformismo e ressaltou a primazia da política tanto quanto Lênin.
Coerção e consentimento
O mérito irrefutável de Gramsci foi realocar o termo “hegemonia” (introduzido nos círculos socialistas pelos russos) para o contexto da especificidade do poder capitalista no Ocidente, onde a classe operária não só era dominada (passiva), mas concedia “voluntariamente” o consentimento para a dominação burguesa, participando e legitimando suas instituições (o que não elimina o fato de que essas, em grande parte, tenham sido justamente o resultado de suas lutas). Mas ao fazer isso Gramsci permite dois erros teóricos em interpretações de sua obra: 1) dissimular a diferença da aliança operário-camponesa na Rússia da relação antagônica entre a burguesia e o proletariado no Ocidente, já que o termo “hegemonia” é usado nos dois casos; 2) omitir os papéis estruturalmente distintos da burguesia, numa formação social feudal, e do proletariado, numa formação social capitalista. Contudo, o equívoco de justificar uma hegemonia cultural anterior sobre classes e frações de classes adversárias para só depois transformar o Estado (como o fez a burguesia na França, antes de 1789), na época do imperialismo, não é corroborado por asserções gramscianas mais conhecidas e citadas como recurso de autoridade pelos “exegetas” reformistas de Gramsci:
“Um grupo social é dominante sobre os grupos inimigos que ele tende a liquidar ou a submeter pela força das armas e é dirigente sobre os grupos que lhe são próximos ou aliados. Um grupo social pode, e mesmo deve, ser dirigente antes de conquistar o poder governamental (essa é uma das principais condições para a conquista do poder); em seguida, quando ele exerce o poder e o mantém solidamente em sua mãos, ele se torna dominante, mas também continua a ser dirigente” (7).
Esta citação situa-se na análise do Risorgimento, em que o Partido Moderado assume a primazia sobre o Partido da Ação, inclusive através do que Gramsci denomina “transformismo”. Mas de modo nenhum se afirma que a hegemonia seja exercida sobre toda a sociedade e que o papel dirigente esgote-se em si mesmo (8).
O cerne da preocupação de Antonio Gramsci reside na questão do consentimento político das massas ocidentais ao papel dirigente e dominante da burguesia no controle dos reinvestimentos sucessivos dos excedentes gerados pela classe operária. O poder sobre a produção e a distribuição do produto social dá à burguesia o controle político sobre o operariado mais ou menos em forma de “compromisso desigual”, em que "um cede o acessório e conserva o essencial” (Lênin), muito bem definida por Adam Przeworski:
“A democracia é o mecanismo social que permite a qualquer um, como cidadão, reivindicar os direitos sobre os bens e serviços que apresentaram um crescimento em virtude de, no passado, parte do produto social ter sido retirada dos produtores imediatos. Enquanto como produtores imediatos os assalariados não possuem direito legal à produção, como cidadãos podem demandar tais direitos por intermédio do sistema democrático. Ademais, ainda como cidadãos e não como produtores imediatos, podem intervir na própria organização da produção e alocação do lucro” (9).
À classe operária caberia deslocar seu foco de lutas para o parlamento, onde se definem as leis e o sistema tributário e se disputa o orçamento público: não se contestaria a exploração enquanto “operário”, mas sim a destinação da parcela tributada da mais-valia surgida no processo automático e sem sujeito de reprodução ampliada do capital. Mas aqui já se trataria do “cidadão” abstrato, etéreo e igual em direitos a qualquer outro.
Se pudermos fazer uma analogia, lembremos o jovem Marx, ainda “democrata radical”. Mesmo invertendo aparentemente os termos por nós expostos, a dicotomia expressa em A questão judaica entre o homem genérico e coletivo que existe para a comunidade política (Estado) e o homem real e particular nos é útil: “O Estado político pleno é, em sua essência, a vida genérica do homem por oposição à sua vida material. As premissas desta vida egoísta se mantêm em pé, à margem da defesa do Estado na sociedade civil, mas como qualidades próprias desta” (10).
Esta cisão homem genérico/homem particular é expressa na apropriação individual imediata do produto social pela classe capitalista, em confronto com as aparências inerentes à esfera da cidadania. Por que isto é possível e torna o poder capitalista resistente à guerra de movimento nos moldes da França em 1848 – esta era a questão de Gramsci já levantada por Engels na sua célebre introdução às Lutas de classe em França, de Marx. Mas algumas soluções fecundas de Gramsci, pelos diversos motivos já alinhavados por Perry Anderson (As antinomias de Gramsci), negligenciaram o papel determinante da coerção em formações capitalistas em que o aspecto cultural (consenso) era dominante. O papel ideológico do Estado representativo, dos rituais eleitorais, dos diversos aspectos atinentes à “cidadania social” (T. H. Marshal) foi suprimido pelos adeptos da “democracia progressiva” (Togliatti), “democracia de massas” (Ingrao) etc.
O equívoco das apropriações social-democrata e eurocomunista de Gramsci não deve ser atribuído (como fazem certos esquerdistas) a uma suposta traição dos seu líderes. Não só é injusto duvidar da superioridade moral e da honestidade intelectual de um Togliatti, por exemplo, como também é estranho ao materialismo histórico deduzir comportamentos políticos objetivos de vontades subjetivas malévolas. A solução não era tão simples: faltava uma diferenciação teórica e histórica entre as sínteses de dois processos com distintas temporalidades históricas e que Gramsci comparou precipitadamente na sua célebre dicotomia geográfica.
Ocidente e Oriente
Perry Anderson destacou a fragilidade dessa dicotomia de maneira incisiva:
“Em outras palavras, a comparação permanente entre os Estados Russo e Ocidentais era um paralogismo, a menos que se especificasse a temporalidade histórica diferente de uns e de outros. Uma compreensão anterior do desenvolvimento do feudalismo europeu era assim um preâmbulo necessário para uma definição marxista do Estado czarista, que foi finalmente destruído pela primeira revolução socialista. Pois apenas este estudo poderia fornecer o conceito teórico do absolutismo, o que permitiria aos militantes socialistas compreender o enorme abismo entre a autocracia russa e os Estados capitalistas com os quais eles estavam confrontados no Ocidente (e cujo conceito teórico deveria ser construído separadamente)” (11).
Ora, no Ocidente medieval as crescentes exigências fiscais constituem um fenômeno endógeno ao feudalismo de reforçamento do poder central nobiliário. A velha ordem, caracterizada pela fusão entre propriedade e soberania, vai progressivamente sendo transformada, caracterizando-se pelo surgimento de um aparelho efetivo do governo monárquico em bases nacionais e das trocas comerciais e urbanas, não controladas pela nobreza. A “compensação” para a perda do controle direto, no nível da aldeia, por parte da nobreza, é o absolutismo. Mas na Europa Ocidental impõe-se uma especificidade para Perry Anderson:
“O Estado absolutista do Ocidente foi o aparelho reforçado de uma classe feudal que aceitara a comutação das obrigações. Foi uma compensação pelo desaparecimento da servidão no contexto de uma economia crescentemente urbana que ele não controlava completamente e à qual tinha de adaptar-se. O Estado absolutista do Leste, ao contrário, foi a máquina repressiva de uma classe feudal que acabara de suprimir as tradicionais liberdades comunais da população pobre. Foi um mecanismo para a consolidação da servidão num ambiente onde não existiam cidades autônomas ou uma resistência urbana” (12).
O motivo central para o surgimento de um absolutismo no Leste foi exógeno, contrariamente ao Ocidente: foi de caráter militar. A necessidade de impor um sistema eficaz de defesa nacional pode parecer estranha ao historiador desavisado. Mas em nenhum instante pode-se descurar o fato de que o feudalismo baseava-se numa coação extra-econômica (militar e religiosa) sobre os servos e numa forma de expansão da riqueza (representada pela posse da terra) que só se resolvia num “jogo de soma-zero”: a guerra de conquista onde um alarga suas posses e alguém necessariamente perde. Contrariamente ao modo de produção feudal, o capitalismo baseia-se no crescimento ilimitado da produção para o mercado, só freado pelas crises (13).
Em decorrência disso, a Rússia logrou manter um Estado feudal mesmo às vésperas da Revolução de 1917, quando o país era capitalista. O impedimento de uma ampla cultura cívica, de uma vida urbana autônoma e uma burguesia frágil alçou o proletariado russo à ponta-de-lança da revolução, dados sua organização, experiência de lutas e avanço teórico de sua vanguarda, tudo isso no contexto de uma autocracia que nada cedia em direitos políticos e sociais e, por isso mesmo, não “permitia” ao proletariado russo as veleidades reformistas do proletariado ocidental. A mesma experiência, entretanto, fracassou na Alemanha de 1918, em parte porque a estratégia do operariado alemão não considerava o verdadeiro caráter do Estado na Alemanha. Mais tarde, mesmo sem avaliar as diversas temporalidades históricas atinentes à Rússia e ao Ocidente, mas observando claramente o papel modificado das crises econômicas cíclicas (as quais não engendravam, como na Rússia de 1917 e na Europa em geral em 1848, situações revolucionárias), Gramsci debruçou-se dramaticamente sobre a estratégia ocidental para a revolução socialista.
O conceito de hegemonia
A noção de hegemonia como direção e síntese de interesses de várias frações de classes subsumidos aos interesses da classe operária encontrou em Gramsci a sua elaboração teórica superior. O comunista sardo não se limitou a repetir os “clássicos”, mas incorporou novos elementos à análise: a hegemonia não é apenas a “representação” que se esgota no processo de luta política, ela é a tradução da idéia de “classe universal” hegeliana para o terreno da práxis.
Mas ao fazer isto Gramsci seguiu os passos do jovem Marx, que já adotava na “Introdução” à Crítica da filosofia do direito de Hegel (1843) o conceito de “classe universal”, cujos objetivos se confundem com os de toda a sociedade. Em A ideologia alemã, Marx e Engels afirmaram:
“A classe revolucionária aparece de antemão só pelo fato de contrapor-se a uma classe, não como classe senão como representante de toda a sociedade, como toda a massa da sociedade, frente à classe única, a classe dominante. E pode fazê-lo assim, porque no início seu interesse se harmoniza (…) com o interesse comum de todas as demais classes não dominantes” (14).
Não há dúvida de que Marx propugnava um arco de alianças cuja delimitação é rigorosamente idêntica à de Gramsci: em torno das “classes não-dominantes”. Esta mesma posição atravessa o Manifesto Comunista, o18 brumário de Luís Bonaparte etc. no que tange à ação do proletariado na sua revolução, anticapitalista, em que não aparece como apêndice de outras classes.
As negligências de Gramsci, por sua vez, são totalmente compreensíveis no pensamento de um revolucionário que abriu um novo campo ao marxismo, inobstante antecipações de Marx e Lênin, e lutava sem tréguas com a dor, e o isolamento e a censura fascista simultaneamente. Mas de forma nenhuma poderemos ocultá-las, pois a maior homenagem que se deve fazer a um marxista revolucionário do porte intelectual e moral de Gramsci é revelar seus erros com o máximo rigor possível.
Eludir, mesmo inconscientemente, a diferença de natureza histórica da progressiva ascensão da burguesia na formação social feudal e do papel da classe operária no capitalismo significa tolerar inúmeros erros.
É claro que Gramsci tinha consciência do papel revolucionário específico do proletariado e da necessidade de destruir violentamente o Estado capitalista, como prova seu último comunicado estratégico ao operariado italiano colhido por Athos Lisa, mas a natureza fragmentária dos Quaderni não permitiu integrá-la sem contradições numa “teoria unificada” (15).
O conceito de hegemonia, não bastassem suas oscilações, foi indistintamente empregado na análise de processos históricos distintos, como o Risorgimento e a Revolução Russa, por exemplo.
Entretanto, há um modelo de hegemonia sugerido por Gramsci que, ao contrapor hegemonia + coerção no Ocidente à predominância de coerção (Oriente), em termos simplificados, constitui um enorme avanço teórico não ressaltado em suas consequências políticas mesmo por P. Anderson. Esse modelo permitiu que uma leitura revolucionária potencial de Gramsci sobrevivesse à avalanche do eurocomunismo e que, mesmo no seio deste, a presença do conteúdo revolucionário do marxismo não fosse de todo minimizada. Nicola Matteucci, insuspeito pela sua interpretação croceana e liberal de Gramsci, notou bem o conteúdo desse modelo:
“Mas ele (Gramsci) parece oscilar entre duas tipologias: aquela que contrapõe hegemonia-domínio, direção-ditadura, consenso-força e aquela que, em vez disso, contrapõe a ditadura com hegemonia à ditadura sem hegemonia. Certamente a segunda é mais evidente; e é também mais próxima a Lênin, porque na medida em que se vê na sociedade política a sede da ditadura continua-se a ver o Estado, em qualquer forma que este assuma (liberal ou autoritária), como instrumento do domínio, como a organização da violência” (16).
Ou seja, o Estado, além do seu papel ideológico, torna-se condição sine qua non para a supremacia de uma classe. Portanto, ao proletariado não cabe somente dirigir amplas massas desfavorecidas, tornando-se protagonista de suas reivindicações, mas destruir o Estado burguês e construir a sua ditadura (conteúdo de todo Estado moderno, seja enquanto conteúdo dominante, como no absolutismo feudal ou no regime fascista da burguesia, seja apenas determinante e sub-reptício, como no regime parlamentar). Essa linha interpretativa é também apresentada por Gruppi, o qual tenta depurá-la de confusões ressaltando o conceito de supremacia em Gramsci: “A supremacia é domínio e direção.
Pode-se dizer que é domínio e hegemonia. A hegemonia avança com a afirmação da capacidade de direção política, ideológica e moral daquela que, até tal momento, era uma classe subalterna” (17).
Gramsci não autorizava uma leitura reformista de estratégia do proletariado do Ocidente. Antes da prisão, ele já caminhava no sentido de uma reflexão madura sobre a disputa pela hegemonia, mas sem ilusões quanto à amplitude das alianças possíveis à classe operária. Seu ponto de partida era Lênin e a política de Frente Única do III Congresso da Internacional Comunista. Se é verdade que o próprio Lênin admitia até mesmo a variação das formas institucionais do poder socialista no Ocidente, afirmando a especificidade e as circunstâncias da Revoluções de Outubro (vide A revolução proletária e o Renegado Kautsky), o próprio Gramsci definia o “leninismo” como doutrina da hegemonia do proletariado (18) na famosa Carta ao Comitê Central do PCUS, de outubro de 1926. O problema que ele se colocava era exatamente traduzir para a realidade italiana a política leninista de aliança operário-camponesa, pois “o princípio e a prática hegemônica do proletariado são as relações fundamentais de aliança entre operários e camponeses” (19).
E referindo-se singularmente à Itália, em A questão meridional, texto inacabado de setembro de 1926, diz Gramsci:
“O proletariado pode se tornar classe dirigente e dominante na medida em que consegue criar um sistema de alianças de classes que lhe permita mobilizar, contra o capitalismo e o Estado burguês, a maioria da população trabalhadora – o que significa, na Itália, dadas as reais relações da classe existentes, que o proletariado pode se tornar classe dirigente e dominante na medida em que consegue obter o consenso das amplas massas camponesas” (20).
Esta formulação gramsciana é uma das mais clarividentes de sua obra e destaca o que é muito olvidado: a hegemonia não é tanto um estágio quanto um processo. Neste sentido, é correto entender a hegemonia, num primeiro momento, como constituição da capacidade de direção operária sobre as classes aliadas: nesse ínterim, a luta ideológica é dominante sem excluir a preparação militar e os ensaios de confronto violento, luta econômica etc. Este momento inicial do processo corresponde ao conceito de hegemonia como direção e consenso ativo dos aliados.
Mas, uma vez rompido o poder de dissuasão da burguesia e instaurada a ditadura do proletariado (como pensava Gramsci, na esteira de Lênin), a classe operária faz-se dirigente e dominante sobre toda a sociedade, portanto hegemônica; tendo transformado o Estado burguês e dirigido uma revolução, a tarefa de construção de uma nova sociedade pressupõe o alargamento da direção intelectual da classe operária em detrimento de seu poder de coerção: a luta mais inglória se inicia, a conquista de mentes e corações para o comunismo (a “vontade coletiva” de Gramsci). Este processo tende à reabsorção do Estado pela sociedade civil e ao desaparecimento das classes sociais. Em síntese, a hegemonia enquanto processualidade pode ser entendida como direção moral e intelectual num primeiro momento e ditadura mais consenso num segundo momento, sem excluir as interconexões entre os dois momentos. O que difere a hegemonia burguesa na etapa do capitalismo organizado do Ocidente e a hegemonia proletária não deve ser apagado. Quando a burguesia torna-se um entrave, bem como as formas de propriedade que expressam as relações capitalistas de produção impedem o desenvolvimento compartilhado do conhecimento puro e aplicado e das forças produtivas em geral, a sua hegemonia tende a ser passiva. Mesmo sob a acumulação acelerada do capital, o consenso da classe operária não é penetrado profundamente por uma ideologia progressiva, por isso Gramsci preocupou-se em definir o caráter orgânico dos liames entre as massas e os intelectuais, entre o senso comum e a filosofia na construção da hegemonia proletária, a qual não separa, como a metafísica atinente ao pensamento anterior, teoria e prática. Veja-se o que diz Gramsci:
“(…) a filosofia da práxis não busca manter os ‘simplórios’ na sua filosofia primitiva do senso comum, mas busca, ao contrário, conduzi-los a uma concepção de vida superior. Se afirma a exigência do contato entre intelectuais e simplórios, não é para limitar a atividade científica e para manter a unidade no baixo nível das massas, mas justamente para que torne possível um progresso intelectual-moral de massas e não só de escassos grupos intelectuais” (21).
Por fim, cumpre dar relevo à diferença estrutural entre o papel da burguesia no seio do feudalismo e do proletariado no capitalismo. Em primeiro lugar, a burguesia era uma classe proprietária, assentada sob um modo de produção em plena expansão. Essa condicionante estrutural era acrescida pelo domínio dos mecanismos de formação e difusão ideológicos. A classe operária no capitalismo é expropriada e, embora seus interesses residam noutro modo de produção, o socialismo não existe de maneira dependente numa formação social capitalista. A natureza do capitalismo, ditada por uma lógica impessoal de autovalorização incessante do capital, subsume integralmente quaisquer formas de produção distintas através do mercado onde as mercadorias se “realizam”, e tendencialmente absorve tudo o que lhe é “estranho” e distinto. Há uma diferenciação vetorial entre as tendências históricas objetivas do feudalismo e do capitalismo, pois este, mesmo sob crise estrutural, não prepara, sob nenhuma hipótese, o socialismo. Ao contrário, desorganiza perenemente a classe trabalhadora, mesmo contendo em si os elementos da negação da lei do valor e, portanto, de si mesmo. Gramsci teve o elevado mérito de demonstrar a necessidade de construção de uma “vontade coletiva” verificada potencialmente nas próprias condições objetivas, ou seja, a consciência de uma necessidade histórica tendencial. A classe operária pode hoje, com o fim do “socialismo de caserna” (22) e a emergência da crise estrutural prolongada do capitalismo, pela primeira vez apropriar-se criticamente do legado marxista de Antonio Gramsci, sem as infecções social-democratizantes que seus textos permitiam, reconduzindo o seu pensamento para o lugar de onde ele partira um dia e para o qual deveria obrigatoriamente retornar: o movimento socialista revolucionário.
* Pós-graduando em História pela USP, coordenador do Núcleo de Estudos d’O Capital, do Partido dos Trabalhadores, e membro de editoria da revista Práxis.
Notas
(1) Marx, K. Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850. Moscou, Progresso, 1974, p. 132. É justo também lembrar que o notável líder operário, companheiro de Marx e Engels na Liga dos Comunistas, Moses Hess, produziu à época das revoluções de 1848 um artigo intitulado “As consequências da revolução do proletariado”, no qual detalha as condições objetivas de um processo revolucionário. No seu artigo, Hess vincula as crises comerciais e as oportunidades históricas da revolução proletária, pois “só então se vêem os trabalhadores lançados à rua em massa, sob a ação das crises econômicas periodicamente reiteradas”. Destarte “caem na miséria e perecem de fome milhares de proletários; a ‘população sobrante’ sucumbe ao império das leis econômicas (…) E se isso ocorre, depois de uma vulgar crise comercial, quais não seriam as consequências de uma crise que sobreviesse abrindo caminho à revolução proletária?” (in MARX, K., ENGELS, F. e HESS, M. De la Liga de los Justos al Partido Comunista. México, Roca, 1973, p. 130 e 133).
(2) In MARX, K. e ENGELS, F. Obras escogidas. Moscou, Progresso, 1983, p. 323.
(3) Ibid, ibidem, p. 680.
(4) KAUTSKY, K. Programa socialista. São Paulo, Paulista, s/d, p. 116.
(5) ANDERSON, P. “Antinomias de Gramsci”, in ANDERSON, P. et alii, Estratégia revolucionária na atualidade. São Paulo, Joruês, 1986, p. 11. Vide também: GRAMSCI, A. Maquiavel, a política e o Estado Moderno. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1978, p. 73.
(6) Vide TSETUNG, Mao. “Sobre la contradicción”, in Obras escogidas. Pequim, Lenguas Estranjeras, 1976, p. 359. Aliás, é surpreendente a coincidência entre os pensamentos de Mao e Gramsci, consoante Goran Therborn: “Para ambos, a revolução socialista é uma guerra prolongada, não resultante de um só golpe insurrecional. Ambos pensam que o problema da mobilização não se reduz a ganhar a maioria da classe operária, mas que é igualmente importante vincular a luta do proletariado com a de outras classes e estratos oprimidos. Gramsci utiliza uma metáfora militar, “guerra de posições”, para fazer ressaltar a importância vital que, dentro de sua estratégia, concede a ideologia. Por outro lado, a idéia de Mao da guerra popular se referia de maneira não-metafórica à guerra de desgaste que a tecnologia proletária de organização militar estava travando”. O autor observa que os dois revolucionários viram o problema da base de massas da dominação burguesa, mas não arrostaram concretamente a democracia burguesa, de tal forma que o “gramscianismo” (dos seguidores, obviamente) correria o risco de converter-se num “narcótico do marxismo ocidental”. Cf. THERBORN, Goran. ¿Como domina la clase dominante? México, Siglo XXI, 4ª edição, 1989, p. 308-309.
(7) Cf. ANDERSON, P., op. cit., p. 44.
(8) Comparar com MARX, K. O capital. Tradução de KOTHE, F. e BARBOSA, R. São Paulo, Abril Cultural, 1985, Vol. III, T. 2, p. 112. “Quanto mais uma classe dominante é capaz de acolher em seus quadros os homens mais valiosos das classes dominadas, tanto mais sólido e perigoso é seu domínio”. O transformismo, numa conotação vulgarizada, refere-se à fluidez ideológica que possibilita a passagem de lideranças políticas de um partido a outro completamente diverso. Esta foi a mácula presente no parlamento italiano depois do Risorgimento – movimento político-militar que levou à unificação da Itália em meados do século XIX, precisamente sob o comando da Casa de Savóia (monarquia piemontesa) e do moderado Cavour, o chefe da direita histórica, esta solução significou a hegemonia dos moderati sobre o Partito d’Azione.
(9) PRZEWORSKI, A. Capitalismo e social-democracia. São Paulo, Companhia das Letras, 1991, p. 172.
(10) MARX, K. Escritos de Juventud. Tradução de ROCES, W. México, Fondo de Cultura Econômica, 1ª ed., 1987, p. 470.
(11) ANDERSON, P., op. cit., p. 50.
(12) ANDERSON, P. Linhagens do Estado Absolutista. Tradução de MARTINS FILHO, João R. São Paulo, Brasiliense, 1989, p. 195. Na Europa Ocidental, uma cadeia mediatizada de dependência pessoal medieval cede lugar ao fim da “nobreza de serviço” e à propriedade alodial progressivamente na Idade Moderna. Na Europa Oriental, dada a situação espacial do feudalismo (território imenso, população escassa), predominaram, no princípio, a “anarquia nobiliária”, a impossibilidade de integração vertical da nobreza numa rede coesa de suserania e vassalagem, e a propriedade alodial, emergindo depois o Estado centralizado e uma nobreza de serviço vinculada a este Estado e não a relações pessoais de serviço. Também fatores endógenos concorreram para o aparecimento de um absolutismo no Leste (vide p. 221 a 235).
(13) Ibid, ibidem, p. 31, 197-198.
(14) MARX, K. e ENGELS, F. La ideologia alemana. Tradução de ROCES, W. Barcelona, Grijalbo/Montevidéu, Pueblos Unidos, 5ª ed., 1974, p. 52.
(15) Athos Lisa foi companheiro de Gramsci na prisão de Turi, mantendo com ele algumas discussões sobre os problemas militares de uma futura revolução na Itália, publicadas na revista Rinascita (12-12-1964), cf ANDERSON, P. Antinomias etc., op. cit., p. 68.
(16) MATTEUCCI. N. Antonio Gramsci e la filosofia de la prassi. Milão, Giuffré, 1977, 2ª ed., p. 157.
(17) GRUPPI, L. O conceito de hegemonia em Gramsci. Tradução de COUTINHO, C. N. Rio de Janeiro, Graal, 1991, 3ª ed., p. 79.
(18) GRAMSCI, A. Revolução Russa e União Soviética. Amadora (Portugal), Fronteira, 1977, p. 149.
(19) Ibid, ibidem, p. 147.
(20) Idem A questão meridional. Tradução de COUTINHO, C. N. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987, p. 139.
(21) Idem Materialismo storico e la filosofia di Benedetto Croce. Turim, Riuniti, 1991, p. 13. A hegemonia passiva fundamenta-se no consenso passivo e inorgânico das massas ao capitalismo, embora possa também adequar-se a períodos históricos em que a burguesia cumpre um papel progressivo quanto ao avanço das forças produtivas. Este foi o caso específico de Vargas, Perón e, particularmente, Cárdenas, que dirigiram processos de industrialização na periferia do capitalismo sob regimes que impediam a auto-organização operária e os rituais democráticos efetivamente. O pensamento de Cárdenas, mais tarde, evoluiu interessantemente para algum tipo confuso de socialismo. Vide ALTMANN, W. “Méjico: El Estado y la unidad nacional cardenista”, Revista de História, n. 115, São Paulo, USP/FFLCH, 1983, p. 100.
(22) Embora se tratasse de uma conquista histórica da classe trabalhadora, os Estados operários do Leste europeu padeciam de uma série de deformações hoje tornadas transparentes. Destarte, a reavaliação crítica do marxismo não é mais sujeita às constrições do stalinismo, o que se espera permitirá evitar velhos erros num segundo ciclo de revoluções socialistas no futuro.
EDIÇÃO 35, NOV/DEZ/JAN, 1994-1995, PÁGINAS 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58