Em 1995, ao concluir a dissertação de mestrado, sobre a Guerrilha do Araguaia, eu tinha plena convicção que havia me envolvido em uma pesquisa, cuja história demoraria a ser concluída.
Muito embora eu carregue a satisfação de ver o primeiro livro publicado sobre o tema, a partir de uma pesquisa acadêmica, era visível o fato que pelos anos seguintes, principalmente com o país consolidando a democracia, novos estudos, pesquisas e livros publicados viessem a ampliar o volume de informações que estavam sendo sonegadas à sociedade e a nós, pesquisadores.
Quando comecei minha pesquisa, – e em minha primeira viagem à região contei com a companhia de um amigo e também pesquisador da guerrilha, Gilvane Felipe, que defendeu sua dissertação de mestrado na França, na Université de La Sorbonne Nouvelle (Paris III), em 1993 – tínhamos grandes dificuldades em ter acesso aos documentos sigilosos, das Forças Armadas, que nos ajudassem a compreender, pela ótica dos militares, aquele conflito. Ou que servissem para identificar as mortes daqueles guerrilheiros cujos corpos não foram jamais encontrados.

Por isso o meu trabalho buscou outro foco. Compreender a Guerrilha do Araguaia pelo olhar dos habitantes daquela região, abrangendo desde Marabá, no Pará, até o outro lado do Rio Araguaia, então Estado de Goiás (hoje Tocantins), em Xambioá e chegando até Araguanã. Subindo até a confluência dos Estados do Maranhão e atual Tocantins, de um lado, Porto Franco, do outro Tocantinópolis.
Viajamos àquela região de Chevette rebaixado, uma verdadeira aventura.
Atolamos três vezes, pois o período era de chuvas, subindo pela Belém-Brasília até a cidade de Araguatins, onde alcançamos a Transamazônica após atravessarmos o Rio Araguaia. Dali, rumamos para Marabá, onde, obtendo o apoio da prefeitura daquela cidade (na época encontramos na secretaria de Comunicação um antigo colega de lutas no Movimento Estudantil em Goiás, o atual deputado estadual pelo Pará, João Salame Neto) pudemos fazer um ótimo trabalho de campo, com entrevistas importantes em um momento ainda de profundo silêncio, em decorrência do temor que se tinha de falar do tema.
O medo era sustentado pela presença de militares, mas também pelo trauma que ficou, criando no inconsciente das pessoas, às vezes, uma falsa convicção que estavam sendo sempre vigiados pelo “pessoal do Curió”, os “secretas” (Sebastião Moura, o Curió, foi um personagem central no combate à guerrilha. Na época era capitão, infiltrou-se na região no período anterior à terceira campanha e tornou-se responsável pela ordem e execução de muitos prisioneiros).
Fizemos várias entrevistas, começando por Marabá, seguindo em direção à São Domingos do Araguaia (na época da Guerrilha São Domingos das Latas), Brejo Grande, Palestina, Bacaba (uma antiga base militar e também local de prisão e tortura), São Geraldo e Xambioá.
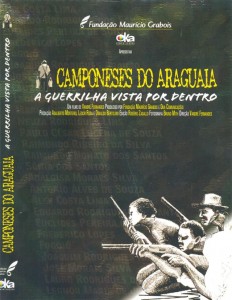
Coincidentemente nos hospedamos, a partir do apoio da prefeitura, em uma casa no conjunto habitacional do antigo Incra. Aquele local, na época da guerrilha, havia se tornado uma espécie de quartel-general no combate ao movimento guerrilheiro.

Bem em frente, ficava a antiga sede do DNER, que passou a ser conhecida como “Casa Azul”, local onde se definiam as operações antiguerrilha – portanto comando de ações das Forças Armadas -, e depois outro local para onde guerrilheiros e moradores da região eram presos e submetidos à tortura.
Mas isso só viríamos saber depois, com o andamento de nossas investigações.
Descobrimos, pelos depoimentos colhidos, que as pessoas detidas eram levadas para a Bacaba e para Xambioá.
Nesses dois lugares haviam dois buracos, cobertos por uma grade cada um, onde os prisioneiros eram literalmente jogados. Um deles, os soldados apelidaram de Vietnã. Água suja, ratos, cobras, eram jogados para assustar e intimidar os presos. Dali, alguns eram levados para a “Casa Azul”, onde eram submetidos a novos tipos de torturas.
Alguns voltavam para Bacaba, quando não ficavam comprovados maiores envolvimentos. Permaneciam mais algum tempo presos e depois eram libertados. Já a partir da terceira campanha, final de 1973 em diante, os prisioneiros mais diretamente envolvidos no movimento eram levados de volta à mata e sumariamente executados.

Quanto mais avançávamos em direção aos municípios onde os conflitos se deram com maior intensidade, mais compreendíamos a dimensão de um movimento que ainda tinha muito a nos revelar.
A cada entrevista, a cada contato com um morador, a cada depoimento de camponeses agredidos e obrigados a tornarem-se guias dos pelotões militares, mais sentíamos que tínhamos em mãos um fato histórico que escondia feridas não cicatrizadas, protegidas a ferro e fogo por quem extrapolou nos limites estabelecidos em acordos internacionais, principalmente no que diz respeito à proteção da população civil e aos combatentes aprisionados com vida.
Aos poucos comprovávamos que aconteceram muitas execuções. Guerrilheiros, e até mesmo moradores da região, após serem torturados eram assassinados friamente.
Gradativamente íamos descobrindo segredos guardados pelas Forças Armadas, cujo objetivo era impedir que os abusos que foram praticados no combate à guerrilha fossem apontados e submetidos às sanções como crimes de guerras. Além da tentativa desesperada de omitir para a história os erros que foram cometidos pelas forças militares institucionais.
Estratégias e táticas equivocadas que levaram a três operações, sendo que duas delas foram mal sucedidas, fracassadas em seus intentos de eliminarem rapidamente um conflito do qual não se tinham ainda maiores informações.
Erros de inteligência, na identificação do grau de capacidade de reação dos insurgentes, foram cruciais para derrotar as forças armadas nas duas primeiras ofensivas.
Soldados mal preparados, e desconhecendo o real objetivo de suas presenças na região do Araguaia, completavam o festival de equívocos cometidos pelos comandantes militares, do Exército, principal força presente na área, mas também em menor medida, da Aeronáutica e da Marinha. No apoio, polícias militares (mais despreparadas ainda) dos Estados de Goiás, Maranhão, Pará e Mato Grosso, completavam o cerco. E alguns agentes da Polícia Federal e do Serviço de Segurança (SNI).
Incapazes de derrotar os guerrilheiros militarmente nas duas primeiras campanhas, os comandantes militares mudaram de tática, recuaram suas forças e elaboraram um plano de preparação anti-guerrilha, com um contingente menor e mais preparado para esse tipo de confronto e com soldados adaptados para a guerra nas selvas.
Um trabalho de inteligência infiltrou agentes por cerca de um ano, mapeou toda a região, identificou possíveis pontos de apoio dos guerrilheiros e nominou todos aqueles moradores da região que, de uma forma ou de outra, tinham contato com os inimigos.
No início da terceira campanha, em outubro de 1973, uma nova guerra também começava, desta vez os militares não estavam pensando em prender guerrilheiros. Pela dimensão do movimento, inclusive com repercussões internacionais, pela capacidade de formar rebeldes altamente capacitados para novos eventuais movimentos guerrilheiros, a ordem dada era eliminar todos os que ainda estavam vivos. De qualquer maneira.
Não foi uma ordem de generais de comando do combate ao movimento. Ela foi determinada pelos altos postos de direção do Estado Militar Brasileiro, a partir de seu presidente, na época o General Emílio Médici. E apoiada por todos que compunham o escalão maior das Forças Armadas Brasileiras. A determinação foi cumprida a contento do ódio nutrido por três anos à ousadia de um pequeno grupo de se preparar para uma guerra de guerrilha no Brasil rural.
Ódio potencializado pelas derrotas iniciais e, claro, pelo embate que se travava internacionalmente, no âmbito da guerra fria, entre os que se alinhavam aos interesses dos Estados Unidos, e defendiam com firmeza o capitalismo, e os que se alinhavam ao bloco socialista, diferenciado em regimes com perfis diferentes: China, Cuba e URSS.
Mergulhando no Araguaia
Em um encontro com blogueiros no começo deste ano, em um evento em Natal – RN, o neurocientista braisleiro, reconhecido internacionalmente, Miguel Nicolelis afirmou que é uma “balela” essa história de imparcialidade, tanto no jornalismo, como na ciência.
“Como neurocientistas, estamos cansados de saber que não existe isso de imparcialidade, como pretendem os jornalistas. Não existe imparcialidade nem jornalística nem científica”, disse ele.
Aproveito para dizer aqui o mesmo em relação à História. Em um evento que participei no final do ano passado, o “Simpósio Internacional sobre o Direito à Informação”, afirmei em palestra que proferi sobre o tema, “O Direito às Informações Pessoais – História e Verdade”, que como historiador não tenho medo de assumir, em absoluto, que o meu olhar é guiado pelos elementos que me conduziram ao longo de anos de intensa atividade política. Abdiquei, faz pouco tempo, de uma ativa militância partidária de três décadas, por uma necessidade premente de formação acadêmica.
Mas não abdiquei dos paradigmas que foram responsáveis por construir a minha visão de mundo, porque ela é fundamentada em valores de respeito à vida humana e à defesa de uma sociedade em que as pessoas sejam respeitadas não pelo que possuem em termos de riqueza material, porém pela sua condição de indivíduos que merecem igualitariamente ser tratados com dignidade.
Por isso, não me preocupo em ser julgado por falta de isenção, desde que dentro do meu critério de verdade, eu esteja me guiando por esses valores e, fundamentalmente, pela honestidade da análise dos fatos. Afirmo que não pode haver história isenta do olhar ideológico, e desconfio daquele historiador que vive a reafirmar a sua isenção enquanto pesquisador, pois isso é impossível. Sua vida está impregnada de valores culturais que conduzem a sua investigação e influenciam suas conclusões.
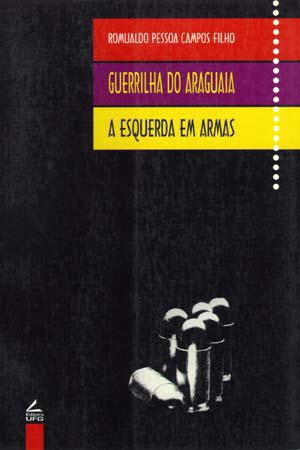
Quando escrevi o meu trabalho, sob uma orientação precisa da Profª Janaína Passos Amado, então do curso de História da Universidade Federal de Goiás, passei por um crivo importante, com o intuito de me conduzir pela honestidade, por uma linguagem que fosse acadêmica e que minha postura não fosse confundida com a de um militante.
Difícil tarefa pelo grau de envolvimento ideológico que eu possuía naquele momento, mas acredito ter cumprido á risca, e os resultados podem ser vistos no que está escrito em meu livro (Guerrilha do Araguaia – A esquerda em armas, Ed. da UFG, 1997) e no que vem sendo divulgado na imprensa e em outras publicações desde então (veja bibliografia ao final) .
Isso, contudo, não foi o suficiente para evitar críticas, inclusive de historiadores conhecidos que me acusavam de ser um historiador oficial do PCdoB. Muito embora, muitos desses críticos jamais tenham se disposto a ouvir sequer um único depoimento de pessoas que foram presas e torturadas e que viveram de perto todo o desespero gerado pela brutalidade com que foram tratados.
Tornaram-se críticos ao longe, simplesmente para fundamentarem suas críticas à guerrilha e, assim, julgarem-se capazes de se incluir como historiadores isentos, porque opositores do regime, mas confiáveis à tarefa de atacarem o movimento guerrilheiro.
Tentavam, assim, intimidar aqueles que se dispunham a olhar a guerrilha com outros olhos, e não enxergar simplesmente uma aventura de colegiais irresponsáveis, conduzidos por dirigentes incompetentes, como esses vorazes críticos se dispunham a retratar a Guerrilha do Araguaia.
Os embates surgidos da avaliação da guerrilha, que dividiu o próprio partido que conduziu o movimento guerrilheiro, terminou por atrapalhar uma ação mais coordenada e ampla, no sentido de se encontrar respostas para os segredos que as Forças Armadas tentavam a todo o custo esconder. Enfraqueceu a luta dos familiares que lutavam para encontrarem as informações sobre dezenas de combatentes, presos com vida, e dos quais não se teve mais notícias.
E, acima de tudo, esses críticos deixaram de lado um aspecto essencial a ser compreendido na análise do movimento: tratou-se de uma escolha, entre as poucas que existiam naquele momento de absoluta falta de liberdade e ausência de democracia.

Por assim ser, cometeram um dos males imperdoáveis ao historiador, tornaram-se anacrônicos, e quanto mais o tempo passava mais se distanciavam da realidade que impôs à esquerda reagir às brutalidades cometidas por aqueles que perpetraram o golpe militar e silenciaram a política brasileira. Caracterizavam os guerrilheiros aos olhos do presente e, por um olhar parcial e evidentemente ideológico, julgavam-nos como aventureiros a insistirem numa prática isolacionista denominada de foquismo.
Aqui retorno aos fatos, e analiso-os com um viés claramente ideológico. Na análise da conjuntura política do país e na identificação do significado das políticas postas em prática pelos governos militares que instalaram uma ditadura aqui no Brasil, não receio em deixar bem claro a visão crítica e o engajamento político que sempre me colocou ao lado das bandeiras defendidas pelos guerrilheiros do Araguaia.
Seria impossível que eu me despisse de tudo isso a fim de me colocar como um “historiador isento”. Se assim eu o fizesse repetiria alguns que modificam seus pontos de vistas com o objetivo de tornarem-se confiáveis ao sistema e poder obter o sucesso como intelectual “respeitado”.
A mim, repugnava as atrocidades praticadas por indivíduos que se julgaram no direito de impor ao povo brasileiro o caminho que deveriam seguir. Afrontaram os valores democráticos e cometeram crimes abomináveis de torturas e assassinatos em nome da democracia; cercearam o direito de os indivíduos se manifestarem livremente, silenciaram a imprensa (alguns jornais sucumbiram aos delírios ditatoriais), fecharam o parlamento, impediram a organização sindical e fecharam as entidades estudantis, e, pela força, tentaram convencer o povo que tudo isso era feito em nome da liberdade.
Alguns desses militares, cujos depoimentos ainda hoje os aproximam de verdadeiros psicopatas, justificam os abusos com o argumento de que os comunistas pretendiam instalar aqui no Brasil o comunismo. Então, pela intenção e pela escolha política diferente do outro, tudo se tornava permitido, inclusive torturar e assassinar. Mesmo se tal regime que esses militantes quisessem instalar ainda se encontrasse na condição de utopia. Mas sonhar também não era permitido.
A Guerrilha do Araguaia não pode ser desconectada desse contexto, e as consequências dessa e de outras poucas escolhas que existiam naquele momento, devem ser analisadas à luz do tempo em que tudo isso aconteceu. Mas não se pode negar a existência de uma brutal repressão que transformavam em marginal todo aquele cidadão que se indignasse com o regime pérfido e ditatorial que se instalara pela força das armas.
As outras escolhas poderiam ser fugir do país (e aqui não há nenhum juízo de valor por trás do verbo); manter-se na clandestinidade sem a opção pela luta armada (isso não impediu a prisão, tortura e assassinato de dezenas de militantes que não pegaram em armas); e tornar-se guerrilheiro, seja na cidade ou no interior.
Qualquer uma delas, pelo alto grau de ferocidade do regime, principalmente a partir do final da década de 1960, implicava em riscos de vida. Inclusive o auto-exílio, haja vista a famigerada “Operação Condor”, que perseguiu militantes de esquerda por todos os países do Cone Sul.
O que queriam os guerrilheiros do Araguaia?
Os moradores da região do Araguaia são testemunhas e também protagonistas do movimento que eclodiu naquele rincão do Brasil. Abandonados pelos governos e de frente para uma densa floresta, que era aberta para ali se instalarem pequenos roçados, os moradores daquele pedaço esquecido do Brasil começaram a ter como vizinhos jovens, idealistas e sonhadores, alguns poucos experientes e até cinquentenários.
Fugindo da perseguição nas cidades grandes, os comunistas em sua maioria militantes do movimento estudantil, aceitaram construir às margens do rio Araguaia e na entrada da Floresta Amazônica, uma resistência guerrilheira ao movimento militar que instaurou no Brasil em 1964 uma ditadura.

Traziam na bagagem pouca experiência de guerrilha, algum treinamento feito em outros países, principalmente na China, muita determinação e alguns problemas de adaptação, que terminou por criar alguns conflitos no grupo.
A estratégia assemelhava-se ao que tinha servido de prólogo à grande transformação levada a cabo por Mao Tsetung, na China: o cerco das cidades por um exército guerrilheiro a partir do avanço de colunas de combatentes vindo da área rural, do interior do país.
Mas a tática a ser adotada, pode-se também mudá-la com o tempo e as condições analisadas, depende obviamente do movimento que o inimigo fizer.
A reação, se inesperada ou maior do que as forças guerrilheiras podem resistir, força a mudanças táticas. Desse jogo de xadrez, que caracteriza a guerra, é que sairá a definição de quem primeiro gritará “xeque-mate”.
Se nas duas primeiras investidas dos militares seus erros impediram que suas táticas fossem vitoriosas, na terceira campanha deu-se o inverso. Cercados e submetidos à uma nova postura tática e com objetivos estratégicos redefinidos pelos militares, os guerrilheiros não resistiram a uma bem montada operação de inteligência e ao uso de grupamentos melhor preparados para a guerra na selva.
Assim, essa terceira ofensiva, muito embora com um prazo de tempo que deu aos guerrilheiros certa mobilidade para fazer um trabalho político, transformou-se, na verdade em uma verdadeira caçada. Incapazes de resistirem à força e determinação com que se deu a organização de novos pelotões, agora não mais fardados e preparados para combater até o final, os guerrilheiros foram sendo abatidos e presos um a um.

O que se escondeu por tanto tempo, mas já não mais se constitui em segredo, não somente pelos documentos que já apareceram, mas pelos inúmeros depoimentos de moradores daquela região, muitos submetidos à humilhação, prisão e torturas, é que dezenas de militantes foram presos com vida e depois eliminados, seguindo a ordem de “não deixar nenhum vestígio da existência da guerrilha”.
Osvaldão, Dinaelza, Dinalva, Juca, Joca, Mário, Joaquim, Fátima, Cristina… São nomes de guerra, de quem vivia na clandestinidade, mas que representavam junto com tantos outros que lutavam nas cidades, corajosos e valorosos militantes comunistas.
Pouco mais de 70 bravos guerrilheiros. Lutadores abnegados de uma causa pela qual hoje todos nós, cidadãos brasileiros, julgamos ser responsável por estar levando o Brasil em direção à liderança mundial.
Lutavam contra a ditadura, pela democracia e pela liberdade. Não eram marginais, constituíram-se em valorosos brasileiros que não se entregaram à covardia daqueles que se curvavam aos interesses imperialistas. Pagaram o valor mais caro à cada um de nós: a própria vida.
Por isso merecem todo o nosso respeito e o engajamento na luta para garantir-lhes o devido reconhecimento e o enterro digno de seus corpos, segundo as crenças de suas famílias.
A “verdade” pode ter muitas faces, servir a muitos interesses, mas os fatos históricos falam por si sós. Só precisamos relatá-los com honestidade. E assim, o tempo se encarregará de fazer justiça àqueles que deram suas vidas para alterar o rumo de nosso país.
Ao governo brasileiro resta cumprir a determinação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, e dar respostas às famílias dos guerrilheiros sobre como se deram as condições de suas mortes e onde se encontram seus corpos.
Que isso não impeça, contudo, de compreendermos que vivemos outra realidade. A luta que travamos pela verdade não implica em condenar instituições, mas identificar aqueles que extrapolaram na condução de seus poderes.
O Brasil vive um novo tempo e as Forças Armadas fazem parte das transformações que consolidam a importância e autoridade que o país exerce internacionalmente, bem como dão suporte às mudanças que possibilitam ao nosso povo atingir outro patamar de desenvolvimento.
Isso não significa, no entanto, esquecer o passado. É preciso encarar nossos fantasmas, para que não nos encontremos no futuro com o repetir de farsas que se escondem por trás da história.
(*) Romualdo Pessoa é professor de Geopolítica no Instituto de Estudos Sócioambientais da Universidade Federal de Goiás (IESA-UFG)
.oOo.
Pequena bibliografia de referência:
Cabral, Pedro Correa. Xambioá, guerrilha no Araguaia. São Paulo: Ed. Record, 1993. http://xambioaguerrilha.blogspot.com/2008/10/xambio-guerrilha-no-araguaia-nota_24.html
Campos Filho, Romualdo Pessoa. Guerrilha do Araguaia – a esquerda em armas. Goiãnia-GO, Editora da UFG, 1997
Felipe, Gilvane. A Guerrilha do Araguaia (Brasil, 1966 – 1975). Paris: Université de la Sorbounne Nouvelle (Paris III), Institute des Hautes Études de L’Amérique Latine, 1993. (http://www.esnips.com/doc/450d1797-d21e-49f9-ba2f-35d1f9ed94bf/História-da-Guerrilha-do-Araguaia)
Gaspari, Elio. A Ditadura Escancarada. São Paulo: Cia. das Letras, 2002
Maklouf, Luis. O coronel rompe o silêncio. São Paulo: Editora objetiva, 2004
Monteiro, Adalberto (org.). Guerrilha do Araguaia – uma epopéia pela liberdade. São Paulo: Editora Anita, 2002.
Morais, Tais e Silva, Eumano. Operação Araguaia – Os arquivos secretos da guerrilha. São Paulo: Geração Editorial, 1995
Studart, Hugo. A lei das Selvas. São Paulo: Geração Editorial, 1997
Fonte: Sul21







