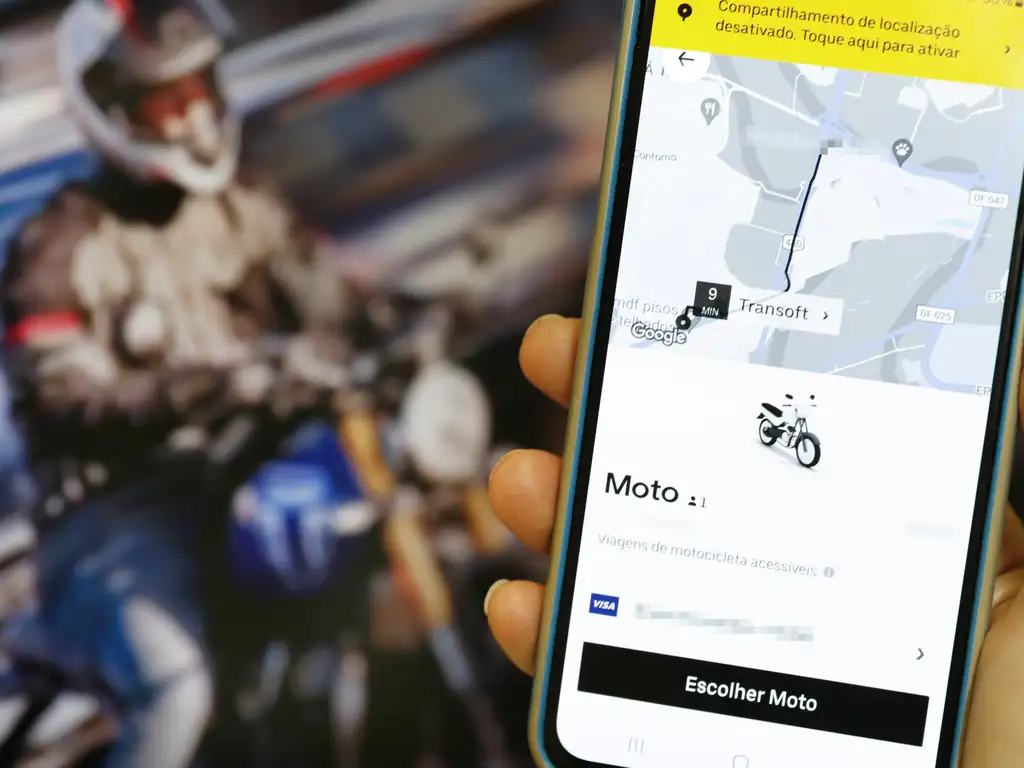“Mas data houve em que se acabaram
Os tempos duros e sofridos
Pois um dia aqui chegaram
Os capitais dos países amigos
País amigo, desenvolvido
País amigo, país amigo
Amigo do subdesenvolvido
País amigo, país amigo
E os nossos amigos americanos
Com muita fé, com muita fé
Nos deram dinheiro e nós plantamos
Só café, só café
É muita terra em que se plantando tudo dá
Mas eles resolveram que nós deveríamos plantar
Só café, só café.”
Trecho da música “Canção do subdesenvolvido”, de 1962, composta por Carlos Lyra e Francisco de Assis.
No início de 1993, o ministro da Fazenda do governo Itamar Franco, Eliseu Rezende, apresentou ao então presidente da República uma lista de empresas estatais que ele considerava passíveis de serem privatizadas com o objetivo de arrecadar US$ 30 bilhões para liquidar a parcela mais cara da dívida mobiliária. Formada por papéis do governo, ela correspondia, à época, a US$ 37 bilhões (hoje, passa de R$ 2 trilhões). Quando se falavam por telefone, Itamar Franco e Eliseu Resende usavam uma linguagem cifrada. Cada US$ 1 bilhão da dívida interna equivalia a um pé de café. ”Vamos arrecadar seis pés de café com a privatização da Vale”, disse Rezende. O presidente respondeu: ”Cuidado que o espírito do Severo Gomes vai lhe puxar os pés esta noite”. Era uma referência ao falecido senador por São Paulo e um dos porta-vozes do nacionalismo brasileiro.
Por expor opinião como essa, Itamar Franco foi tratado pelos donos do poder como um paspalhão. Um caso explícito ocorreu quando ele pediu ao Congresso Nacional que agilizasse a regulamentação do artigo da Constituição que determina o limite de 12% ao ano para a taxa de juros. Mas Itamar já era quase uma voz isolada no país. No entanto, logo se veria que sua preocupação tinha razão de ser — no primeiro dia útil do Plano Real, a taxa de juros, puxada pelo Banco Central, disparou, chegando aos 12%. Um ano depois, já estava em 60%.
Desde então, a mídia só fez esconder informações, não dando a ideia do que estava acontecendo e transformando o que existe de pior para o país — a política macroeconômica e sua fabulosa dívida — em um mundo róseo. Ancorada na elevada taxa básica de juros, a Selic, a “estabilidade” também tem estimulado a entrada de recursos externos de curto prazo, favorecendo a valorização excessiva do real.
Essa bomba-relógio é a espinha dorsal do que se convencionou chamar de ”herança maldita” deixada pela ”era FHC”: a política macroeconômica voltada para a voracidade de uma entidade mágica chamada ”mercado”. Trata-se, na verdade, de uma medida de caráter ideológico, anti-Estado, que atua segundo os interesses dos segmentos financeiros especulativos. Em síntese: a política fiscal-monetária posta em prática no Brasil era economicamente injustificável e regressiva, além de ser socialmente perversa. O governo, aprisionado por essa lógica, tem de conter investimentos em saúde, educação, segurança e infra-estrutura para ter os recursos exigidos pela voracidade dos juros.
Desconstrução nacional
O problema é que mesmo diante desse quadro parece que a política monetária atual se resume a continuar o curso iniciado com a explosão da dívida pública com o Plano Real: produzir superávits primários, sentar e esperar. Por este critério de gestão da macroeconomia, o país fica preso em um dilema — se a taxa de juros cair, a inflação pode subir. É uma camisa de força, que amarra a economia e se apresenta como palco de combates em uma arena complexa. Possivelmente estejamos diante do que o camarada Mao Tse Tung chamaria de ”a diferença entre as contradições antagônicas e as contradições não-antagônicas”.
Existe quase que uma obrigação de se unir forças para dar combate à essa linha de desconstrução nacional que vem desde a ditadura militar e que ainda se expressa no atual modelo macroeconômico brasileiro. Há, no Brasil hoje, como tem dito recorrentemente a presidenta Dilma Rousseff, muitas oportunidades prontas esperando por empreendedores. E há outras tantas por inventar. Mas para destravar essas oportunidades o país precisa manter a prática de tratar questões complexas com iniciativas políticas. Pouco antes de morrer, o economista Celso Furtado, em uma mensagem em vídeo para os participantes da mesa redonda “Diálogo social, uma alavanca para o desenvolvimento”, promovida pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), perguntou: “Como você pode dirigir uma sociedade sem saber para aonde vai?”.
A intervenção trazia palavras de estímulo ao trabalho a que se propunha o Conselho, de elaborar uma agenda nacional de consenso entre os vários atores sociais lá representados. “A hegemonia do pensamento neoclássico-neoliberal acabou com a possibilidade de pensarmos um projeto nacional; em planejamento governamental, então, nem se fala. O Brasil precisa se pensar de novo, partir para uma verdadeira reconstrução. Para mim, o que preza é a política”, disse ele. As palavras de estímulo de Celso Furtado foram uma incitação à coragem. “Temos que ter coragem política. Coragem política é um fenômeno social que decorre do estado da sociedade. Ter coragem política na ditadura é uma coisa. Outra, muito diferente, é ter coragem política na complexa e instável realidade em que vivemos. Considero fundamental que a coragem política seja posta a serviço das autênticas causas do povo brasileiro”, afirmou.
Acordo tácito
A mensagem de Celso Furtado, atualíssima, se soma à constatação do então assessor econômico do candidato Luis Inácio Lula da Silva, em 2002, o hoje ministro da Fazenda Guido Mantega, de que a saída para a crise econômica brasileira era política. A saída é política — sempre. Ela define os rumos da economia. “Afora os marqueteiros oficiais, todos concordam que o resultado final desta política de FHC foi um grande desastre. Nestes oito anos, o Brasil regrediu brutalmente nas relações de trabalho. Os milhões de desempregados, de brasileiros que subsistem no mercado informal, de precarizados e dos que perderam seus parcos direitos sentiram na carne os efeitos desta política”, afirma a apresentação do livro “Era FHC: a regressão do trabalho”, escrito por Altamiro Borges e Marcio Pochmann em agosto de 2002. Dois meses depois, FHC seria rechaçado pelas urnas.
Segundo o presidente do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), Renato Rabelo, para estabilizar os preços houve um “acordo tácito”, firmado desde a implantação do Plano Real, que impõe a manutenção de uma média de juro real elevado e o câmbio sobrevalorizado, um círculo vicioso perverso que inibe os investimentos. É preciso superer esse pacto, diz ele. Não se está pedindo a aparição de um santo milagreiro, capaz de fazer os juros desabarem até patamares norte-americanos, a inflação se manter em um padrão japonês e o Produto Interno Bruto Brasileiro (PIB) crescer em ritmo chinês. A questão é que ninguém mais imagina, de verdade, que o desenvolvimento econômico possa prescindir do Estado, que precisa ser dotado de recursos funadamentais para alavancar os investimentos.
O país precisa urgentemente se consolidar como potência alimentar, energética e industrial. Ao mesmo tempo, exige crescente investimento em educação e inovação tecnológica. São premissas decisivas para elevar cada vez mais o padrão de vida dos brasileiros. Evidentemente, um desafio deste porte exige, como disse Celso Furtado, iniciativas políticas para superar entraves políticos históricos. Tomemos, como exemplo, a polêmica que se instalou no país em torno do aumento do consumo como fator para a dinamização da economia nacional.
Consumo de massas
Muita gente no Brasil ainda vê o consumo como um gesto pouco nobre. Um marciano de boa índole, que tivesse chegado à Terra pelo Brasil e estivesse estudando a humanidade munido da língua portuguesa, certamente anotaria na agenda que ”consumir” é uma das coisas ruins que se fazem por aqui. O verbo ”consumir”, segundo o Aurélio, significa ”1. Gastar ou corroer até a destruição; devorar, destruir, extinguir (…) 2. Gastar, aniquilar, anular (…) 3. Enfraquecer, abater (…) 4. Desgostar, afligir, mortificar (…) 5. Fazer esquecer; apagar (…) 6. Gastar; esgotar (…)”.
Os sentidos são negativos; as conotações, pejorativas. Não há uma única referência à ideia de comprar ou adquirir, de consumir mais e melhor. Muito menos uma associação com o ato de satisfazer uma necessidade ou saciar um desejo. Claro que para um país como o Brasil o ganho mais visível e imediato que o consumo tem a oferecer é mesmo a elevação do nível de conforto material. Consumir mais e melhor significa também ter arte, absorver informação, ter acesso ao patrimônio cultural da humanidade. Ou seja: obter satisfações que transcendem à mera necessidade imediata.
Por que há tantas reservas em relação ao consumo de massas no Brasil? É que o consumo popular funciona como o estopim econômico de transformações sociais. Para o povo, ele é bem-vindo também por isso. As travas brasileiras em relação ao consumo estão no fato de que ele sempre foi privilégio de poucos. A arquitetura social brasileira, sempre caracterizada por políticas públicas tímidas e insuficientes, ainda conserva traços escravocratas. Uma das alegações dos conservadores era a de que a inflação em alta impedia uma ação social mais vigorosa. Como distribuir os frutos de um desenvolvimento não realizado? Primeiro era preciso fazer o bolo crescer para só depois distribuí-lo.
Baldeação em 2002
No início dos anos 1960, essa fantasia ganhou conotação ainda mais autoritária. Os economistas que assumiram o controle depois do golpe militar de 1964 chegaram dizendo que o dilema inflação-desenvolvimento era discussão da pré-história. Segundo Roberto Campos, ícone brasileiro deste pensamento, este dilema era um “idílio” — ou produto de fantasia; devaneio, utopia. A política econômica da ”era militar” chegou à crise dos anos 1980, que levou à guinada ”ortodoxa” da linha de condução da economia quando o país ingressou na “era neoliberal”. Foi pelo caminho da prioridade à política de “estabilização monetária” em detrimento da postura desenvolvimentista, iniciado no governo do presidente Fernando Collor de Mello, que o Brasil chegou ao Plano Real.
A “estabilidade”, vendida por um marketing internacional muito bem arquitetado, era apresentada pela mão espalmada de FHC, que significava para o eleitor a promessa de melhorias sociais e infra-estruturais no país. Nenhuma ”reforma” de cunho liberal foi claramente referendada pelo pleito de 1994. Elas vieram a reboque — eram as cláusulas do contrato escritas em letras minúsculas. Para conseguir o segundo mandato, este projeto utilizou-se de um novo engodo. Eram mais do que óbvios os laços que uniram aquela política com a perda de empregos e o aumento da precariedade dos serviços públicos — como saúde, segurança e educação. Mas a campanha veio com um slogan apelativo: era preciso garantir as ”conquistas” da ”estabilidade” para dar prioridade aos outros dedos da mão espalmada, principalmente o combate ao desemprego.
Como era uma impossibilidade evidente, à primeira chance houve a baldeação; Lula se elegeu em 2002 e se reelegeu em 2006 empunhando as bandeiras das questões sociais. Com dificuldades gigantescas pela frente, o novo governo direcionou sua política para o consumo interno e procurou redirecionar a política externa do país, preso à lógica de que a produção ficaria para os malaios, indonésios, mexicanos e brasileiros enquanto o “primeiro mundo” se limitaria a produzir ideias, modelos, campanhas de marketing, logística, sites, comunicação visual, administração, finanças e desenvolvimento tecnológico.
Fel contra a política externa
Quando Lula chegou à Presidência da República, uma de suas primeiras ações foi a de desmontar a trama criada pelo governo anterior para a adoção da Área de Livre Comércio das Américas (Alca). Esse foi um dos principais motivos do fel que os conservadores destilaram contra as lideranças do Itamaraty. E um dos efeitos dessa mudança começou a aparecer com a melhora no comércio internacional. Os fatos mostravam que durante a “era FHC” exportar era uma das coisas que o Brasil não fazia bem. Se fizesse, não haveria tanta gente — Apex, Camex, Decex, Funcex, CCEX, Secex, Cacex — rimando e remando para fazer do Brasil um exportador medíocre.
Quando FHC deixou Brasília, o Brasil respondia por apenas 18% das exportações latino-americanas. Outro exemplo da debilidade brasileira à época: em 1997, o país exportou US$ 109 milhões em frutas — só 0,43% das vendas internacionais do produto no período, que foram de 25 bilhões. (Pior: o Brasil comprou US$ 237 milhões em frutas naquele ano, amargando, em uma categoria em que teria significativas vantagens competitivas, um déficit de US$ 128 milhões.) O Brasil era, enfim, um exportador acanhado. Várias vezes, e em muitos aspectos, canhestro.
No imaginário da “era FHC”, o mercado externo se reduzia aos Estados Unidos e à Europa. Empresa brasileira molhando os pés em águas internacionais do Sul do planeta era uma imagem que jamais frequentou o pensamento daquela “era”. Para os neoliberais, a ideia de que o Brasil deveria fincar sua bandeira em outras terras soava exótica. Quando a política externa do governo Lula chegou, o Brasil logo mostrou como desataria o nó da política comercial brasileira, responsável por seguidos déficits desde a implantação do Plano Real: o governo sairia pelo mundo, disputando terreno em vários mercados. Para os novos líderes do Itamaraty, eventuais perdas em uma trincheira mundo afora poderiam ser compensadas por ganhos em outra.
Carta de Lula a FHC
Em agosto de 2002, Lula, ainda candidato à Presidência da República, entregou uma carta a FHC, durante o encontro com os candidatos no Palácio do Planalto, em Brasília, na qual disse que era urgente “gerar um elevado superávit comercial, fundado no aumento expressivo das exportações, de modo a diminuir a vulnerabilidade do país com relação à volátil liquidez internacional”. “Isso requer, de imediato, uma ampla ofensiva diplomática, que mobilize todas as embaixadas e consulados brasileiros para apoiar o esforço exportador do Brasil. Exige, além do mais, uma ação decidida nas frentes de negociação internacionais, como a Organização Mundial do Comércio (OMC), contra o protecionismo injustificado e os subsídios indevidos dos países ricos que prejudicam as vendas de nossos produtos, como o suco de laranja, o açúcar, a soja e o aço, entre outros”, dizia a carta.
Na sua posse, Lula disse que, “em relação à Alca, nos entendimentos entre o Mercosul e a União Européia, na OMC o Brasil combaterá o protecionismo, lutará pela sua eliminação e tratará de obter regras mais justas e adequadas à nossa condição de país em desenvolvimento”. “Buscaremos eliminar os escandalosos subsídios agrícolas dos países desenvolvidos que prejudicam os nossos produtores, privando-os de suas vantagens comparativas. Com igual empenho, esforçaremo-nos para remover os injustificáveis obstáculos às exportações de produtos industriais. Essencial em todos esses foros é preservar os espaços de flexibilidade para nossas políticas de desenvolvimento nos campos social e regional, de meio ambiente, agrícola, industrial e tecnológico”, afirmou.
Lula disse ainda que a grande prioridade da política externa do seu governo seria “a construção de uma América do Sul politicamente estável, próspera e unida, com base em ideais democráticos e de justiça social”. “Para isso é essencial uma ação decidida de revitalização do Mercosul, enfraquecido pelas crises de cada um de seus membros e por visões muitas vezes estreitas e egoístas do significado da integração. O Mercosul, assim como a integração da América do Sul em seu conjunto, é sobretudo um projeto político. Mas esse projeto repousa em alicerces econômico-comerciais que precisam ser urgentemente reparados e reforçados”, disse o presidente.
Com palavras claras, o novo presidente da República disse que priorizaria as relações com os países vizinhos. “Cuidaremos também das dimensões social, cultural e científico-tecnológica do processo de integração. Estimularemos empreendimentos conjuntos e fomentaremos um vivo intercâmbio intelectual e artístico entre os países sul-americanos. Apoiaremos os arranjos institucionais necessários, para que possa florescer uma verdadeira identidade do Mercosul e da América do Sul. Vários dos nossos vizinhos vivem hoje situações difíceis. Contribuiremos, desde que chamados e na medida de nossas possibilidades, para encontrar soluções pacíficas para tais crises, com base no diálogo, nos preceitos democráticos e nas normas constitucionais de cada país”, afirmou.
Odor de santidade
O presidente também falou das relações de seu governo com os Estados Unidos e a União Europeia. “Procuraremos ter com os Estados Unidos da América uma parceria madura, com base no interesse recíproco e no respeito mútuo. Trataremos de fortalecer o entendimento e a cooperação com a União Europeia e os seus Estados-Membros, bem como com outros importantes países desenvolvidos, a exemplo do Japão”, disse. Mas ressaltou que não deixaria de dar atenção a outras regiões do planeta. “Aprofundaremos as relações com grandes nações em desenvolvimento: a China, a Índia, a Rússia, a África do Sul, entre outros. Reafirmamos os laços profundos que nos unem a todo o continente africano e a nossa disposição de contribuir ativamente para que ele desenvolva as suas enormes potencialidades”, afirmou Lula.
O discurso reforçou o aspecto político das novas relações internacionais do Brasil. “Visamos não só a explorar os benefícios potenciais de um maior intercâmbio econômico e de uma presença maior do Brasil no mercado internacional, mas também a estimular os incipientes elementos de multipolaridade da vida internacional contemporânea. A democratização das relações internacionais sem hegemonias de qualquer espécie é tão importante para o futuro da humanidade quanto a consolidação e o desenvolvimento da democracia no interior de cada Estado”, disse o presidente.
Com essa política, o Brasil ajudou a despachar o conservadorismo sul-americano, no que diz respeito a políticas externas — com expressões de pesar e desapontamento manifestadas pela mídia —, para a vala comum onde jazem as carcomidas ideias neoliberais que no passado recente floresceram na região. Por aqui, a maior parte do encanto com o neoliberalismo já se desfez há tempos, moído por índices vergonhosos de injustiças sociais, pela violência, pela inépcia geral da administração e pelo que existe de pior na política. Com o tenebroso desfile público das práticas de gangsterismo que se sucederam em volta desses governos, os povos da região deram demonstrações de não querem mais ver seus países no balaio geral de roubalheira, irresponsabilidade e primitivismo que marcaram as políticas neoliberais. São práticas que fizeram seus defensores perderem o odor de santidade com o qual se apresentavam ao público — como fizeram os próceres da “era FHC” com o Plano Real.