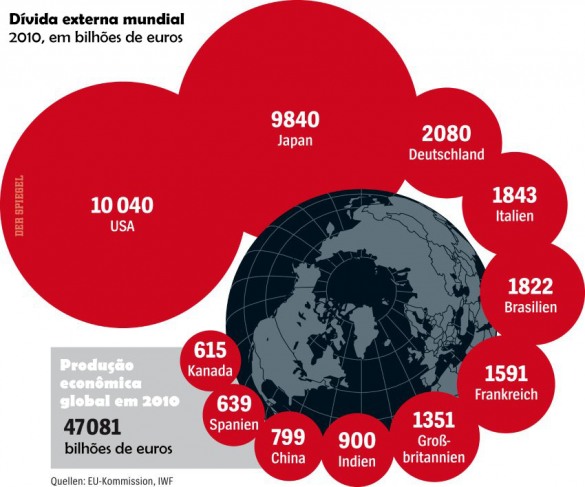Dois autores do grupo de pesquisadores da “crítica do valor” (Grupo Krisis), Ernst Lohoff e Norbert Trenkle escreveram, em alemão, um livro importante de interpretação da crise estrutural do capitalismo, propelida a partir da década dos anos 1980, e de seu maior episódio, a “grande recessão”, iniciada em 2008. Traduzido para o português, o título da obra fica assim: A grande desvalorização – porque a especulação e a dívida do Estado não são as causas da crise. O texto original foi publicado em 2012 e uma tradução para o francês apareceu em 2014. Aqui se pretende examinar a sua tese central em seus grandes traços. Esta contém duas partes que se complementam:
a) O capitalismo contemporâneo está passando por uma mudança estrutural com consequências decisivas para o seu destino histórico; como a produção efetiva de mais-valor entra em queda nessa transformação, esse modo de produção passa a experimentar uma tendência constante e inexorável à estagnação, ao definhamento e mesmo ao colapso; entretanto, ele não desaparece sem que ocorra um esforço excepcional para manter a acumulação, mas ela só pode acontecer agora de um modo crescentemente irracional.
b) Como o capital é em si e por si mesmo um processo infinito de expansão, diante da insuficiência crescente da acumulação na esfera do capital funcionante, ele passa a se desenvolver de modo desmedido, ilusório e enlouquecido na esfera do capital fictício. Sobrevém, assim, a chamada financeirização do sistema. Em consequência, o processo de acumulação passa a se nutrir de sucessivas bolhas especulativas, as quais dão sustentação temporária, mas ao fim e ao cabo não poderão garantir a efetiva continuidade do processo de acumulação.
A tese central encontrada no livro de Lohoff e Trenkle não nasceu aí. Como sabem aqueles que prestam atenção aos escritos desse conjunto de autores que se orientam pela leitura de Karl Marx, essa predição foi feita pela primeira vez por Robert Kurz num ensaio fundador, intitulado A crise do valor de troca (Kurz, 2014), o qual foi escrito e publicado em alemão, em 1986, portanto, há quase trinta anos atrás. Desde então, as crises têm se sucedido no curso da história do capitalismo, cada vez mais ameaçadoras, mas o colapso propriamente dito ainda não despontou. Isto, porém, não tem impedido que os diversos pensadores críticos que formam essa corrente continuem procurando compreender os desenvolvimentos desse modo de produção sob a perspectiva de sua catástrofe possível – e, talvez mesmo, iminente no tempo histórico. Os dois autores citados, porém, não apenas dão continuidade à tradição, mas foram capazes de avançar substantivamente na compreensão da lógica da expansão do capital fictício, da financeirização.
Naquele ensaio, Kurz sustentou que o sistema produtor de mercadorias se encontrava no rumo de sua crise final porque, com o advento da terceira revolução tecnológica, ocorrida a partir dos anos 60 do século XX, a produção global de mais-valor passara de crescente à decrescente. Segundo ele, a revolução da informática e da comunicação trouxera consigo um aumento extraordinário da produtividade do trabalho, o qual gerava não apenas uma redução muito significativa do valor produzido, mas também do mais-valor, por unidade de riqueza material, a qual não podia mais ser compensada pelo aumento da produção de mercadorias, ou seja, pelo crescimento da riqueza material. A tese era bem bombástica. Como o sistema capitalista é movido pela acumulação de capital e como o capital acumulado já não podia mais ser aumentado persistentemente por meio da captura de um volume crescente de mais-valor, então o sistema como um todo tinha de entrar em agonia, mantendo, contudo, uma sobrevida com consequências devastadoras para todos os que continuavam vivos.
Essa tese é apresentada por Kurz e seus seguidores como uma concretização histórica de duas afirmações feitas por Marx nos Grundrisse. Uma delas, encontrada no parágrafo 582, diz que “o próprio capital é a contradição em processo, pelo fato de que procura reduzir o tempo de trabalho a um mínimo, ao mesmo tempo em que, por outro lado, põe o tempo de trabalho como única medida e fonte da riqueza” (Marx, 2011, p. 588-589). A outra, encontrada do parágrafo 577, afirma que, com o desenvolvimento da grande indústria, reduzindo o trabalho a “elemento subalterno” do ponto de vista qualitativo e a “proporção insignificante” do ponto de vista quantitativo, “o capital trabalha, assim, pela sua própria dissolução como a forma dominante da produção” (Marx, 2011, p. 583).
Para melhor compreender a tese de Kurz e de seus seguidores é preciso construir um modelo simples de crescimento que respeita certas determinações do processo de acumulação capitalista e está de acordo com a própria compreensão dele desenvolvida por Karl Marx. O ponto de partida é tautológico: sabe-se que a taxa de variação da massa de mais-valor é igual à soma da taxa de variação da massa de mais-valor por trabalhador produtivo e da taxa de variação do número de trabalhadores produtivos subordinados ao capital funcionante.2 Ora, mesmo se a segunda dessas taxas mencionadas depende da taxa de exploração, isto é, do nível do mais-valor absoluto e do grau do mais-valor relativo, ela deve aumentar no longo prazo conforme cresce a produtividade do trabalho no evolver do capitalismo. Como essa evolução, porém, está restringida pelas condições da exploração dos trabalhadores, se a massa de mais-valor deve mesmo crescer ao longo do tempo – isto é, se a sua taxa de variação deve se manter positiva – é preciso também que um volume crescente de força de trabalho seja submetido à relação de capital. Ora, como já havia mostrado Marx, o aumento da produtividade economiza trabalho, sabota o emprego e, assim, abate o crescimento da massa de mais-valor gerada.
A tese dos autores da “crítica do valor” repercute certa preocupação de muitos analistas liberais que olham para as economias desenvolvidas e, em particular, para a economia norte-americana, duvidando de sua capacidade futura de gerar empregos suficientes para a grande massa da população e, assim, de se sustentar historicamente de modo saudável. Uma certa ansiedade se revela, por exemplo, na seguinte colocação de Jeremy Rifkin, enunciada já no final do século passado: “pela primeira vez, agora, o trabalho humano está sendo sistematicamente eliminado do processo de produção. (…) Máquinas inteligentes estão substituindo os seres humanos em incontáveis tarefas, forçando milhares de trabalhadores de colarinhos azuis e brancos a entrar na fila do desemprego, ou pior, na fila da comida” (Rifkin, 1995, p. 3). Já Martin Ford, em seu livro recém-publicado, nota que, com os robôs, a relação entre os trabalhadores e as máquinas está mudando radicalmente: pensa-se, diz ele, “que as máquinas são ferramentas que elevam a produtividade dos trabalhadores; na verdade, as próprias máquinas estão se transformando em trabalhadores; a linha que separa a capacidade de trabalho do capital [isto é, das máquinas] está sendo borrada tal como nunca antes” (Ford, 2015, p. xii).
A tese de que, por exemplo, a potência imperialista dominante, isto é, a economia norte-americana, vai emagrecer e, possivelmente, morrer de fome por falta de mais-valor, no entanto, não pode ser sustentada apenas com base nesse tipo de conjectura sobre o desenvolvimento futuro da tecnologia e, assim, dos processos de produção. É preciso observar também a evolução histórica do emprego nessa economia, pois, como base nela, pode-se fazer uma inferência sobre a evolução da massa de mais-valor que está sendo criada. Para tanto, é preciso notar que a produtividade do trabalho aí é bem mais alta do que aquela observada em grande parte do resto mundo. Ora, por isso mesmo, o desempenho da economia norte-americana na absorção de trabalhadores fornece diretamente uma evidência estatística que permite testar a conjectura dos autores da “crítica do valor”. As séries históricas do emprego total e do emprego produtivo (no sentido de Marx3) relativas a essa economia nacional, apresentadas na figura em sequência, não mostram de forma alguma que há um movimento rumo ao colapso.
Nessa figura, apresenta-se a evolução temporal do emprego total e do emprego produtivo na economia norte-americana, mostrando que, grosso modo, ambos têm crescido ao longo dos anos, desde o fim da II Guerra Mundial. Nos cinquenta anos registrados, o emprego total cresceu 145 por cento e o emprego produtivo aumentou em 120 por cento. Já no período que começa em 1980 e chega ao momento atual, o emprego total se elevou em 51 por cento e o emprego produtivo cresceu 44 por cento. Ora, sem recorrer a qualquer consideração mais sofisticada, é possível ver que se tem aqui um indicador de que a massa de mais-valor gerada no interior da economia dos Estados Unidos tem-se ampliado – e não se contraído como preveem os autores da “crítica do valor”. O máximo que se observa, aliás em ambos os gráficos, é que, na última década e meia, parece ter ocorrido uma estagnação na criação de empregos, o que certamente está relacionado às crises (ditas “ponto com” e imobiliária) que ocorreram no começo e no fim do período. Se esse fato pode sim ser uma ameaça para os trabalhadores norte-americanos, tendo em mente o contexto como um todo, ele não anuncia ainda que há um fechamento completo das perspectivas de desenvolvimento do capitalismo nos Estados Unidos.
.jpg)
Fontes dos dados: a) emprego total: série do FRED Statistics; b) emprego produtivo: série construída pelo autor com base numa decomposição do emprego total que se encontra num artigo de Paitaridis e Tsoulfidis (2012).
Porém, mesmo essa figura que nega o rumo do colapso não mostra que há um horizonte aberto à expansão sem limites da relação de capital. Ela não indica que o futuro do capitalismo nesse país se encontra completamente desimpedido. Pois, um fato notável pode ser visto no confronto das duas séries aí contidas: ao longo dos anos há um crescimento persistente do trabalho improdutivo vis-à-vis do trabalho que produz mercadorias, que cria mais-valor e, assim, alimenta a acumulação de capital. Se, no começo do pós-guerra, a fração do trabalho improdutivo no emprego total montava cerca de 43 por cento, ao fim do período essa fração começou a superar os 50 por cento.4 E esse fato não indica um fenômeno que possa ser considerado como meramente contingente. Ao contrário, trata-se de manifestação de uma tendência inerente ao curso do desenvolvimento do modo de produção capitalista. Conforme este evolve, acentua-se o caráter social da produção em contradição com o caráter privado da apropriação. Ora, isto tende a aparecer como um aumento das atividades de distribuição (isto é, de transferência da posse dos valores de uso das mercadorias reais e fictícias) e de manutenção social (isto é, concernentes à administração pública, social ou mesmo privada) em relação às atividades produtivas propriamente ditas. E a efetivação dessa tendência no curso da história dificulta a expansão do capitalismo porque uma parte importante das atividades improdutivas não apenas não gera mais-valor, mas o consome.
O segundo fenômeno que marca a transformação estrutural do capitalismo nos países desenvolvidos, assim como nos Estados Unidos, é a desindustrialização e, assim, o surgimento de um grande predomínio das atividades geradoras de serviço na pauta da produção mercantil como um todo. Ora, esses setores, diferentemente do que ocorre tipicamente com os setores industriais, não evolvem por meio de uma dinâmica acelerada de aumento da produtividade do trabalho, da criação crescente de demanda uns para os outros, da geração de novas oportunidades de investimento e, assim, de forte crescimento econômico. Mesmo se essa dinâmica não está ausente do atual processo de expansão da economia de serviços, ela não ocorre aí com a mesma intensidade com que, no passado, ocorreu no processo de industrialização das economias desenvolvidas – num processo que se iniciou no século XVIII, que prosperou arrebatadoramente no século XIX e se estendeu por boa parte do século XX. Em consequência, conforme vem avançando agora o processo de desindustrialização, cai o ritmo possível de crescimento da riqueza material, o que vem reduzir de modo inexorável a possibilidade de expandir a massa de mais-valor no volume necessário para manter o capitalismo como um sistema vibrante.
É bem conhecido o fato de que, nos Estados Unidos, a participação do emprego industrial no total do emprego cai entre a primeira década após o fim da II Guerra Mundial e o começo do século XXI de 25 para 10 por cento. Mesmo que o setor industrial, no máximo, tenha chegado a gerar em torno de 30 por cento do emprego total, ele é reconhecido na história do capitalismo como o “motor do crescimento” (Kaldor, 1966). Em primeiro lugar, porque as atividades aí desenvolvidas são altamente parceláveis, divisíveis em trabalho rotineiros e mecânicos e, assim, organizáveis e substituíveis por máquinas cada vez mais aperfeiçoadas. Como consequência dessa característica, o aumento incessante da produtividade do trabalho se apresenta como a condição normal de existência tanto da velha manufatura quando da moderna maquinofatura. Em segundo lugar, porque essas atividades também se dividem e são levadas a efeito por meio de subsetores especializados, os quais, entretanto, acabam por formar complexos industriais fortemente integrados entre si e que evolvem como se fossem sistemas orgânicos em fase de crescimento. Como notara Kaldor, o desempenho excepcional do setor industrial como motor do crescimento da economia nacional é que o seu próprio crescimento ocorre com ganhos crescentes de escala.
Note-se nesse ponto que há uma certa correlação entre a elevação da parcela do trabalho improdutivo no emprego total e a ampliação da parcela dos serviços na produção da riqueza material. Pois, uma parte importante dos serviços em ampliação atendem às necessidades de manutenção dos mercados e do sistema como um todo. Por exemplo, os serviços relacionados à produção, em que se incluem os serviços financeiros, de seguros, imobiliários, etc. passaram de 5 por cento do emprego total, em 1950, para cerca de 15 por cento, em 2010. Os serviços sociais que não são necessariamente improdutivos, nos quais se incluem os médico-hospitalares e as escolas, cresceram de 12 para 25 por cento no mesmo período. A tendência ao crescimento dos serviços proporcionados pelo Estado e, assim, do emprego estatal é também um fato bem conhecido.
O terceiro componente da transformação estrutural das economias desenvolvidas vem mesmo da terceira revolução industrial. Eis que a revolução da informática e da comunicação tem propiciado um aumento da produtividade do trabalho – e, assim, uma redução do emprego nas atividades econômicas –, de um modo bem assimétrico: acelerou a substituição de trabalho por máquinas (agora inteligentes) nas funções rotineiras, mas não sido eficaz na redução do trabalho nas funções intrinsecamente não-rotineiras, sejam elas predominantemente manuais ou intelectuais. Em consequência, vem ocorrendo aí o que tem sido chamado de “polarização da ocupação”5: o emprego de força de trabalho tem ficado cada vez mais concentrado nas funções que exigem ou muita ou pouca habilidade técnica e intelectual. Pois, por paradoxal que pareça, há muitas funções relativamente simples e que requerem pouca qualificação – um exemplo, é a de barbeiro – que são muito difíceis de automatizar.
Assim, as funções repetitivas e/ou padronizáveis6 que obedecem a regras bem definidas passam todas a serem feitas por máquinas operatrizes, computadores ou mesmo robôs. Já as funções que requerem criatividade, sensibilidade emocional, flexibilidade de decisão, raciocínio heurístico etc., exijam elas muita ou pouca qualificação, não só continuam a ser feitas por pessoas, mas assim tendem a permanecer. Pois é muito difícil ou mesmo impossível automatizar os processos de trabalho em que ocorrem eventos imprevisíveis ou que exigem respostas não padronizáveis. Ao contrário do que sugere a visão ficcional da terceira revolução industrial, após um impacto inicial muito significativo, a sua difusão transformadora passou a enfrentar desafios cada vez maiores.7 Ora, essa restrição intrínseca na possibilidade de substituir seres humanos por máquinas nas atividades produtivas em geral, a qual já se manifesta nos países desenvolvidos, reduz a partir de certo ponto o dinamismo do incremento das forças produtivas, fazendo com que esmoreça a competição mercantil e, assim, a acumulação de capital.
Sem prejuízo da consideração eventual de outras questões, parece evidente que as transformações estruturais ocorridas nas últimas décadas não favoreceram um evolver ainda ascendente do capitalismo no centro do sistema; ao contrário, elas parecem ter produzido uma tendência à estagnação prolongada e mesmo a um relativo declínio das economias dos países de capitalismo desenvolvido (Prado, 2014A). Diante de um mundo econômico cada vez mais integrado e globalizado, se há ainda dinamismo na acumulação de capital, este não pode ser encontrado nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, na França, na Alemanha etc.
Um indicador adicional das dificuldades que as economias centrais encontram para avançar no processo de acumulação é o comportamento da taxa de lucro no período que vai do fim da II Guerra Mundial até os dias de hoje. Esta tem sido calculada de vários modos e sob diversas suposições, a massa de lucro tem sido medida com e sem as transferências devidas ao pagamento de impostos, juros etc., o estoque de capital tem sido mensurado ao custo histórico e ao custo corrente, mas um mesmo resultado sempre tem aparecido: o comportamento da taxa de lucro, mesmo oscilando de algum modo no curso dos ciclos, tem mostrado uma tendência de longo prazo ao declínio.
A figura que aparece em sequência foi tirada de um artigo de Bakir (2014) em que ele discute o evolver da taxa de lucro nos Estados Unidos e sua relação com a acumulação de capital e a crise econômica. Nota-se aí um padrão de evolução que pode ser tomado como um indicador do desempenho não apenas dessa economia em particular, mas das economias centrais, particularmente e como um todo. Medindo o estoque de capital ao custo corrente, ele observa, junto como muitos outros analistas, que a taxa de lucro se recuperou em parte no período neoliberal: “o valor médio no período neoliberal ficou um pouco acima da taxa de lucro mínima alcançada durante o período do compromisso keynesiano” (Bakir, 2014, p. 11). E o que ele diz, aparece de modo claro no comportamento da série exposta no gráfico: no período que ele chama de keynesiano e que é também chamado de período dourado do capitalismo, a taxa de lucro se manteve num patamar superior; no período de crise dos anos 1970, com o esgotamento do fordismo e do keynesianismo, essa taxa caiu fortemente para vir a se recuperar sensivelmente após 1980, sem, porém, voltar ao nível anterior.
Nessa figura também aparece a taxa de acumulação de capital observada durante o período que vai do fim da II Guerra Mundial até 2010, ou seja, até os primeiros dois anos da “grande recessão” iniciada com a crise de 2008. Aí se observa uma evolução histórica que é acolhida consensualmente pelos estudiosos críticos do capitalismo contemporâneo: ao contrário do que aconteceu com a taxa de lucro, a taxa de acumulação na economia norte-americana, refletindo o que aconteceu com as economias centrais em geral, não se recuperou no período neoliberal. Dito de outro modo, a taxa de acumulação manteve uma tendência ligeiramente crescente até 1965, aproximadamente, mas, a partir daí, apresentou uma persistente tendência de queda. E isto ocorreu – é preciso notar – mesmo quando a taxa de lucro se elevou a partir dos anos 1980. Ora, a divergência dessas duas taxas põe uma questão importante para a investigação marxista já que ela espera a ocorrência da convergência, isto é, que o contrário do observado aconteça. Se assim é, por que então a divergência ocorreu?
.jpg)
Até esse momento, tratou-se apenas da primeira parte da tese central de Lohoff e Trenkle. Agora, aproxima-se o momento de abordar a segunda parte antes mencionada. Antes de fazê-lo, porém, é preciso mostrar que, no debate marxista sobre a questão aventada no final do último parágrafo, há duas linhas de respostas, indicando já que elas aí são objeto de controvérsia. Para facilitar a compreensão, elas serão aqui indicadas por dois termos que transmitem de maneira sintética como vem a ser concebida a natureza da relação entre o capital funcionante e o capital financeiro: há, por um lado, a resposta que se vale da antiga noção de parasitismo e, por outro, a que emprega uma noção (a ser explicada) de simbiose desvairada.
A primeira delas sustenta que a redução progressiva da taxa de acumulação após os anos 1970 se deve basicamente à crescente transferência dos lucros criados na esfera da produção para a esfera financeira, a qual se intensificou enormemente com a ascensão do neoliberalismo.8 A taxa de lucro se elevara porque aumentara a taxa de exploração como consequência das políticas implementadas por essa nova orientação, a qual viera para contrariar o consenso keynesiano até então vigente. A massa de lucros aumentada, porém, passou a ser consumida pelo pagamento majorado dos juros e dividendos, de tal modo que os lucros retidos ao fim e ao cabo se reduziram expressivamente. E essa contração dos recursos verdadeiramente disponíveis para o investimento é, segundo essa linha de pensamento, o que vem explicar a queda da taxa de acumulação.9
Essa explanação para a discrepância entre o aumento dos lucros e a queda do investimento e, assim, do crescimento econômico, está fundada obviamente na tese do parasitismo inerente do capital financeiro. Para fechar o argumento, os autores que se alinham à essa corrente de pensamento crítico precisaram explicar o advento do neoliberalismo no final da década dos anos 1970 e começo dos anos 1980. Para tanto, associaram a ascensão – e posterior hegemonia – dessa complexa política de regulação econômica e mesmo da vida social como um todo à crise de lucratividade ocorrida na década dos anos 1970.
Duménil e Levy, por exemplo, autores que argumentaram em favor dessa tese em seus grandes traços, consideraram a mudança da hegemonia de classe como questão central na explanação dos eventos históricos do último terço do século XX: “a dinâmica geral do capitalismo sob o neoliberalismo, tanto nacional quanto internacionalmente, foram determinadas por novos objetivos de classe, os quais trabalharam em benefício das classes de maiores rendas. Uma maior concentração da renda em favor de uma minoria privilegiada foi a conquista crucial da nova ordem social” (Duménil e Levy, 2011, p. 8). Bakir, no texto do qual foi colado a figura acima apresentada, afirma, primeiro, que “a recuperação parcial da taxa de lucro foi baseada quase inteiramente na super-exploração do trabalho”; em sequência, diz que para “evitar a contradição usual enfrentada pela supina agressão ao trabalho (…) [o capital produziu] uma série de bolhas de ativos e de dívidas com colaterais”; finalmente, aponta que “três grupos se beneficiaram direta e indiretamente da super-exploração do trabalho: os capitalistas do setor corporativo por meio da extração de excedente, a classe gerencial por meio da redistribuição para cima dos salários e os financistas por meio da transferência do excedente no circuito financeiro, assim como por meio da dívida imobiliárias das famílias” (Bakir, 2014, p. 16).
O problema com essa explanação é que ela explica os fatos econômicos evidenciados focando somente a esfera da circulação do capital, razão pela qual se concentra numa questão distributiva. A tendência à estagnação do período neoliberal é explicada, primeiro, por uma mudança na repartição do valor criado na esfera da produção pelos trabalhadores, em favor das classes capitalistas (incluindo nela os gerentes) e, depois, do mais-valor assim aumentado, em detrimento dos lucros retidos nas empresas e em favor os ganhos financeiros. Nessa perspectiva, o capital financeiro aparece não só como exterior ao capital funcionante, mas meramente como forma de propriedade extratora de renda. Critica-se, assim, antes o extrativismo10 excrescente do capital financeiro do que propriamente o capitalismo (Prado, 2014A).
Ademais, essa forma de explanação parte da luta de classes para explicar os movimentos do sistema, não se advertindo de que as classes enquanto tais, como sínteses de ação coletiva, são, antes de tudo, suportes ativos das relações produção constitutivas do modo de produção capitalista.
Assim, se o capital é o sujeito automático do processo econômico, é preciso começara a explanação das manifestações fenomênicas da economia capitalista pelas contradições próprias da relação de capital, focando sobretudo a produção de capital.
Porém, nessa perspectiva que respeita a dialética marxiana, não se pode conceder apenas que o capital financeiro atua na esfera da circulação, em certa medida, como criador de algumas condições que são necessárias para a continuidade da efetiva produção de mais-valor na esfera do capital funcionante. Pois, na verdade, essas duas formas de capital se solicitam uma à outra e interagem de um modo orgânico e essencial para o funcionamento do sistema como um todo. Se o capital funcionante cuida da geração efetiva do mais-valor, da transformação do trabalho vivo em trabalho morto, o qual é conservado e, assim, atua no presente, o capital financeiro cuida da antecipação de mais-valor, da posição no presente de trabalho vivo que ainda, eventualmente, vai ser posto em ação no futuro para gerar mais trabalho morto na forma de mais-valor.
Daí a importância dada por Marx à categoria de capital fictício que nasce das relações de crédito e débito por meio das quais o capital futuro, ainda de fato inexistente, é posto a funcionar no presente para propiciar o melhor funcionamento, o amadurecimento institucional e para fazer a alavancagem da produção capitalista. No capítulo XXVII do livro terceiro de O Capital, ele elenca o papel essencial do crédito e, assim, do capital financeiro, na produção capitalista: mediar a equalização da taxa de lucro, diminuir os custos de circulação; acelerar as metamorfoses das mercadorias e do capital; propiciar a socialização do capital (Marx, 1983, p. 331-335).
Portanto, a relação do capital financeiro com o capital funcionante não é sempre e meramente de parasitismo, mas de simbiose. É preciso ver aqui que a criação de capital fictício se encontra em geral ancorada, de algum modo, na produção real possível de mercadorias e, assim, na geração futura de valor. O capital fictício, em última análise, existe somente como capital possível, mas é nessa condição que interage com o capital funcionante e o faz de um modo crucial para o prosseguimento efetivo da acumulação.
Agora, como se sabe muito bem em geral, a acumulação de capital nunca é um processo sossegado; ao contrário, como ensina Marx, trata-se um processo anárquico, nervoso e insaciável que procura derrubar todas as barreiras que encontra, sejam elas exteriores (ecológicas) ou imanentes à própria acumulação de capital. Ora, em sua fúria acumulativa, o capital procura superar até mesmo a barreira do dinheiro metálico, assim como – e isto está em Marx – a própria barreira da produção de riqueza material. Ademais, essa expansão ocorre por meio da competição e da luta sem trégua dos capitais particulares, os quais, em sua cegueira, são indiferentes à forma por meio da qual existem e atuam no sistema, funcionante ou financeira. Assim, quando surgem barreiras à ávida expansão dos capitais na primeira esfera – isto é, quando faltam investimentos suficientemente lucrativos na esfera da produção de mercadorias reais –, eles não se tolhem – os seus portadores conscientes não hesitam – em se expandir na segunda, isto é, na esfera do capital fictício, desbordando assim os limites que a produção real impõe. Como na esfera financeira, desenvolve-se a “produção privada, sem o controle da propriedade privada” (Marx, 1983, p. 333), a expansão do capital pode mesmo assumir aí formas fraudulentas, parasitárias e enlouquecidas.11 Mas isto não é uma excrecência eliminável que aparece no curso do desenvolvimento do modo de produção capitalista por causa de uma falha de regulação; ao contrário, é algo que vem da essência do próprio modo de produção capitalista e que se impõe com a força de um furacão tanto aos capitalistas como aos reguladores do sistema.
Lohoff e Trenkle, seguindo os passos de Kurz, observaram como clareza que a expansão da esfera financeira se tornou colossal, imensa, conforme caminhou o desenvolvimento do capitalismo após o fim da II Guerra Mundial e, especialmente, após o fim dos anos 1970. Eles notaram, também, que esse inchaço desmedido – não enquanto evento qualitativo, mas em sua dimensão quantitativa – é algo inusitado na história do capitalismo. E, para compreendê-lo racionalmente, formularam então uma tese sobre a acumulação real que soa definitiva: eis que a massa de mais-valor, segundo eles, começou já a se contrair historicamente, o que, se verdadeiro, põe mesmo o capitalismo diante do abismo. Assim, fugindo desse destino, isto é, do colapso iminente, a acumulação de capital, que não pode parar nunca, passa a não ter outro caminho senão aquele mencionado de se expandir na esfera financeira, dando assim um fôlego adicional para o sistema, mas também, entretanto, agravando mais e mais a contradição da qual se origina.
No presente artigo, porém, indicou-se que a suposição do colapso, por enquanto pelo menos, não se mostra verás diante da evidência estatística disponível. Mostrou-se apenas um fato importante, mas outros poderiam ser encontrados pesquisando as estatísticas dos outros países. Porém, acompanhando a literatura crítica que tem examinado as condições da evolução do capital no capitalismo contemporâneo, sugeriu-se também que há de fato um emperramento real da acumulação na esfera do capital funcionante, pelo menos nos países desenvolvidos, em particular, na economia da maior potência imperialista. E que, portanto, há fundamentos reais para o fato iniludível de que a simbiose intranquila entre o capital funcionante e o capital financeiro tenha se tornado mesmo desvairada.
Nessa perspectiva, o enigma da queda da taxa de acumulação junto com o crescimento da taxa de lucro mostrada na última figura pode ser também esclarecido. A discrepância observada apenas mostra um resultado que é inerente ao estágio de desenvolvimento da contradição entre a produção e a valorização, entre a criação de riqueza material e a criação de riqueza abstrata, a qual é inerente ao processo de produção capitalista. A política econômica neoliberal elevou sim a taxa de exploração e, por esse meio, produziu uma elevação da taxa de lucro; a expansão financeira acelerou sim a geração de mais-valor na esfera do capital funcionante – mas também, como o mesmo ímpeto, incrementou a proporção das atividades improdutivas vis-à-vis das produtivas, contribuiu ademais para a desindustrialização dos países desenvolvidos e, assim, elevou o consumo improdutivo da massa de mais-valor.
Logo, pode-se concluir essa nota reconhecendo que o livro de Lohoff e Trenkle traz mesmo uma contribuição importante à compreensão do capitalismo contemporâneo. Frente às vacilações de muitos outros, ele tem o grande mérito de não difundir ilusões desenvolvimentistas…
Notas de Rodapé:
1 Professor titular e sênior da FEA/USP. Correio eletrônico: [email protected]. Blog na internet: https://eleuterioprado.wordpress.com
2 A massa de mais-valor consiste de trabalho abstrato, sendo medida como tempo de trabalho socialmente necessário; já o emprego consiste de capacidade de trabalho que é medida por meio da quantidade de trabalhadores. A fórmula pressupõe implicitamente que a redução do trabalho concreto ao trabalho abstrato é um processo real.
3 Emprego produtivo no sentido de Marx, como se sabe, é aquele que produz ou transforma valores de uso e que gera efetivamente valor e mais-valor, isto é, que faz crescer o capital (Shaikh e Tonak, 1994, p. 30).
4 Não há estatísticas que permitam comparar esses valores com aqueles que se verificaram, mas não foram registrados, na economia norte-americana nos séculos XVIII, XIX e primeira metade do XX. Mas parece adequado conjecturar que eles eram expressivamente menores.
5 Em inglês, esse fenômeno é denominado de “job polarization”. A literatura sobre o tema é grande, mas se pode mencionar a título de exemplo o artigo de Autor, Katz e Kearney (2006).
6 Rigorosamente não apenas as operações rotineiras são automatizáveis seja por meio de um funcionamento fisicamente mecânico, uma máquina clássica, seja por meio de um computador, uma máquina eletrônica; também aquelas que são padronizáveis podem ser executadas sob o comando de programas computacionais. O exemplo da moda é a condução de veículos motorizados em ruas e em estradas movimentadas.
7 Como o capital tem um impulso irracional para superar todos os desafios com que se defronta, ele pode corromper certas atividades no afã de automatizá-las, por exemplo, substituindo uma enfermeira por um robô.
8 Andrew Kliman escreveu um artigo para contestar essa afirmação (Kliman, 2015). Aqui vai-se acolher a tese de Bakir, assim como a sua evidência empírica, para poder contestá-la de outro modo.
9 Note-se que o investimento pode ser acelerado na economia capitalista por meio do crédito e que, portanto, ele não depende só dos lucros retidos pelas empresas como um todo.
10 Na literatura marxista atual, por influência das ideias keynesianas, se trata esse extrativismo como “rentismo”, confundido, assim, as categorias de renda da terra e grosso modo de juros. Uma crítica do uso desse termo para fazer a crítica do capitalismo contemporâneo encontra-se em Prado (2015).
11 Devido ao caráter antitético da produção capitalista (ou seja, o processo de produção e o processo valorização contradizem um ao outro), diz Marx, a valorização real encontra limites e entraves, os quais são rompidos pelo sistema de crédito. “O sistema de crédito acelera, portanto, o desenvolvimento material das forças produtivas e a formação do mercado mundial, os quais, enquanto bases materiais da nova forma de produção, devem ser desenvolvidos até certo nível como tarefa histórica do modo de produção capitalista. Ao mesmo tempo, o crédito acelera as erupções violentas dessa contradição, as crises e, com isso, os elementos da dissolução do antigo modo de produção” (Marx, 1983, p. 335).
Referências
Autor, David H.; Katz, Lawrence F.; Kearney, Melissa S. – The polarization of the U. S. labor market. NBER working paper nº 11986, jan. 2006.
Bakir, Erdogan – Capital accumulation, profitability, and crisis: neoliberalism in the United States. In: Review of Radical Political Economy, 2014, p. 1-23.
Duménil, Gérard; Lévy, Dominique – The crisis of neoliberalism. New York: Harvard University Press, 2011.
Ford, Martin – Rise of the robots – Tecnology and the threat of a jobless future. New York: Basic Books, 2015.
Kaldor, Nicholas – Causes of slow rate of economic growth of the United Kingdom. Cambridge: Cambridge University Press, 1966.
Kliman, Andrew; Williams, Shannon D. – Why financialization hasn’t depressed U. S. production invesment. In: Cambridge Journal of Economics, vol. 39 (1), 2015, p. 67-92.
Kurz, Robert – The crisis of exchange value: Science as productive force, productive labor, and capitalistic reproduction. In: Marxism and critique of value. Org. Larsen, N. et alii., Chicago, Alberta: MCM, 2014, p. 17-75.
Lohoff, Ernst; Trenkle, Norbert – Die große Entwertung – Warum Spekulation und Staatsverschuldung nicht die Ursache der Krise sind. Berlim: Verlag, 2012.
___________ – La grande dévalorisation – Pourquoi la spéculation et la dette de l’État ne sont pas les causes de la crise. Paris: Post-éditions, 2014.
Marx, Karl – Grundrisse – Manuscritos econômicos de 1857-1858. São Paulo: Boitempo, 2011.
___________ – O capital – Crítica da Economia Política (volume III, tomo 1). São Paulo: Abril Cultural, 1983.
Paitaridis, Dimitris; Tsoulfidis, Lefteris – The growth of unproductive activities, the rate of profit, and the phase change of the U. S. Economy. In: Review of Radical Political Economics, vol. 44 (2), 2012, p. 213-232.
Prado, Eleutério F. S. – EUA: um pais extrator de mais-valor. Blog do autor, 2015.
___________ – Exame crítico da teoria da financeirização. In: Crítica Marxista, nº 39, 2014A, p. 13-34.
___________ – A estagnação secular e o futuro do capitalismo. In: Revista do NIEP – Marx e o Marxismo, vol. 2, nº 3, 2014B, p. 251-273.
Rifkin, Jeremy – The end of work – Decline of the global labor force and the dawn of the post-market era. New York: Putnam Book, 1995.
Shaikh, Anwar M. e Tonak, E. Ahmet – Measuring the wealth of nations – The political economy of national accounts. Cambridge : Cambridge University Press, 1994.
Publicado em O Olho da História, n. 21, Salvador (BA), junho de 2015.