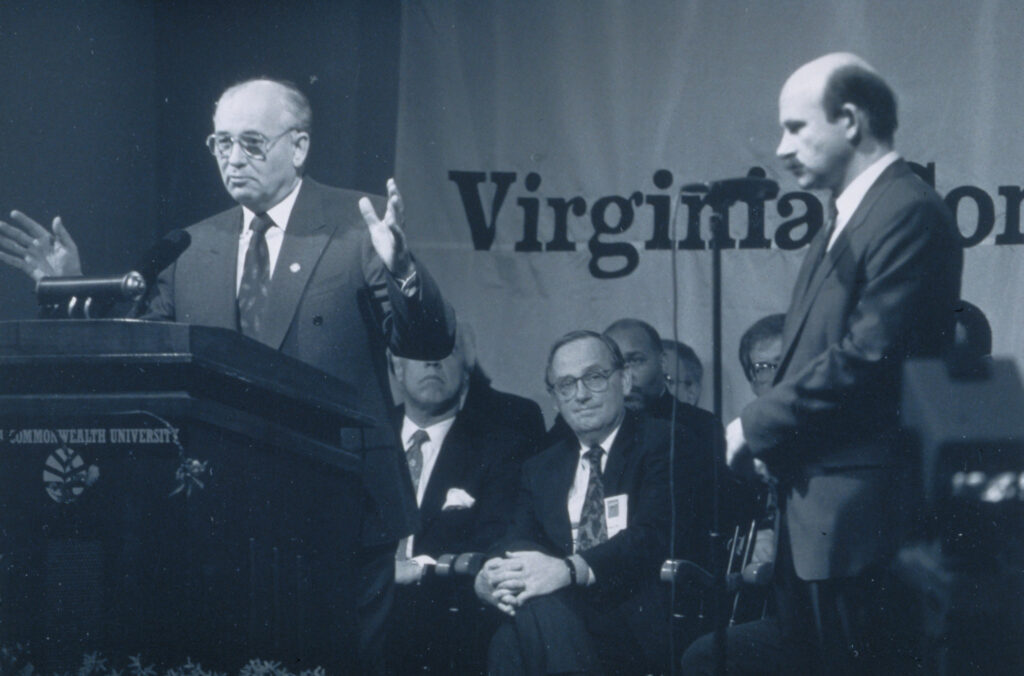Meu amigo, e velho companheiro, Carlos Alberto Pereira, está lançando sua coletânea Produção versus Rentismo – Trabalhadores e empresários pela reindustrialização do Brasil.
Nada mais oportuno. Em um cenário de desindustrialização do país, em que o parasitismo usurário drena a maior parte da riqueza – sobretudo a riqueza líquida, isto é, em dinheiro – do Brasil, não existe como crescer sem que coloquemos a produção acima do rentismo (ou, pode ser, o rentismo a serviço da produção).
Mas isso quer dizer que, no momento, a produção está a serviço do rentismo – ou, este predomina na política econômica, sem produzir nada, ou como proprietário de parte ponderável da produção.
Entretanto, apesar da aparência, isso ainda não define o que é a essência do “rentismo”.
Na maior parte da mídia, inclusive entre comentaristas críticos ao rentismo ou ‘de esquerda’, tem-se a impressão de que o rentismo é um fenômeno interno ao país.
Fala-se em “Faria Lima” como sinônimo de rentismo. A “Faria Lima”, evidentemente, é uma avenida de São Paulo, cidade que fica no Brasil.
Agora, como novo cume dessa tendência, procura-se separar a ‘Faria Lima’ da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) — que também, por sinal, fica na Faria Lima — como dois fenômenos — e duas frações de classe — diferentes.
No entanto, o Brasil é um país subordinado ao imperialismo — e, portanto, subordinado ao rentismo imperialista. Nosso rentismo é um sub-rentismo. O rentismo interno é um dreno da força de trabalho dos brasileiros em direção ao exterior, basicamente aos EUA e a Wall Street.
Sobretudo quando qualquer pilantra do ‘mercado’ financeiro daqui pode se sentar em frente ao computador e jogar com papéis em Nova Iorque ou em Londres.
Muitos — inclusive nós — já datamos o início do rentismo no Brasil a partir da gestão, na Fazenda, de Maílson da Nóbrega, no governo Sarney. De forma ostensiva, é verdade. No entanto, a especulação bancária atual teve origem anterior, com a manipulação da dívida externa pelos bancos internos ou filiais internas de bancos estrangeiros (v. Ary Cesar Minella, Banqueiros: Organização e poder político no Brasil, Espaço e Tempo/AMPOCS, 1988).
Posteriormente, a própria dívida externa foi internalizada.
Assim, o rentismo é uma consequência da subordinação da economia brasileira à economia imperialista, vale dizer, norte-americana. Esta é a camisa de força de que precisamos nos livrar — tanto no que se refere à produção quanto à economia em geral.
Leia também: Juros no Brasil é caso de polícia
Obviamente, é incompatível o jugo imperialista com o pleno combate ao rentismo. Por isso, movimentos pela produção e pela restrição ao rentismo são tão importantes, pois são uma parte da nossa libertação dos obstáculos externos ao desenvolvimento.
Mas, é possível existir capitalismo sem rentismo dentro do Brasil?
Existe quem diga que não, pois o rentismo seria o capitalismo atual em qualquer lugar do mundo.
Entretanto, isso ignora a condição de país dependente do Brasil.
Já que não temos, hoje, as condições objetivas e subjetivas para passar ao socialismo, isso significaria eternizar a dependência — e, portanto, o rentismo – do país.
Por outro lado, somente podemos criar as condições (objetivas e subjetivas) para passar ao socialismo, através de uma revolução nacional, ou seja, através de instalar a produção, ainda nos marcos capitalistas, como instância superior ao rentismo.
Não existe outra forma de chegar ao socialismo, que não seja através de um desenvolvimento do capitalismo nacional e independente.
Mas, então, o que é o domínio imperialista, do qual resulta o rentismo?
Esse domínio — e o consequente rentismo — está inscrito na própria natureza do imperialismo.
Nas palavras de Lenin, em seu O Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo (1917):
-
“… o imperialismo é, pela sua essência econômica, o capitalismo monopolista.”
-
“… o monopólio é um produto da concentração da produção num grau muito elevado do seu desenvolvimento.”
-
“… os monopólios vieram agudizar a luta pela conquista das mais importantes fontes de matérias-primas.”
-
“… o monopólio surgiu dos bancos, os quais, de modestas empresas intermediárias que eram antes, se transformaram em monopolistas do capital financeiro. Três ou cinco grandes bancos de cada uma das nações capitalistas mais avançadas realizaram a ‘união pessoal’ do capital industrial e bancário, e concentraram nas suas mãos somas de milhares e milhares de milhões, que constituem a maior parte dos capitais e dos rendimentos em dinheiro de todo o país. A oligarquia financeira, que tece uma densa rede de relações de dependência entre todas as instituições econômicas e políticas da sociedade burguesa contemporânea sem exceção: tal é a manifestação mais evidente deste monopólio.” (grifos nossos)
-
“… o monopólio nasceu da política colonial. Aos numerosos ‘velhos’ motivos da política colonial, o capital financeiro acrescentou a luta pelas fontes de matérias-primas, pela exportação de capitais, pelas ‘esferas de influência’, isto é, as esferas de transações lucrativas, de concessões, de lucros monopolistas, etc., e, finalmente, pelo território econômico em geral.”
No mesmo capítulo de seu livro, diz Lenin:
“Os monopólios, a oligarquia, a tendência para a dominação em vez da tendência para a liberdade, a exploração de um número cada vez maior de nações pequenas ou fracas por um punhado de nações riquíssimas ou muito fortes: tudo isto originou os traços distintivos do imperialismo, que obrigam a qualificá-lo de capitalismo parasitário, ou em estado de decomposição. Cada vez se manifesta com maior relevo, como uma das tendências do imperialismo, a formação de ‘Estados’ rentiers, de Estados usurários, cuja burguesia vive cada vez mais à custa da exportação de capitais e do ‘corte de cupões’.” (grifo nosso)
Reparemos que Lenin está se referindo aos países centrais do imperialismo, não aos países dependentes. Esta foi a base econômica da Revolução Russa, uma revolução em um país imperialista, ainda que atrasado.
Mas será tudo isso válido para um país dependente como o Brasil?
Somente em parte.
Nesse caso, serve o velho adágio: a nossa miséria é a riqueza deles (em verdade, a riqueza da oligarquia deles, e, somente em parte, da nossa oligarquia financeira).
Assim, muitos se perguntam por que o juro (básico) é tão baixo nos EUA e tão alto no Brasil. Exatamente porque a taxa de juros básica é tão alta no Brasil, é que pode ser tão baixa nos EUA.
Leia mais: Meta de inflação e juros altos: política monetária prejudica o Brasil e enriquece setor financeiro
Na história do Brasil, os momentos em que a produção se impôs sobre o rentismo foram, exatamente, aqueles em que a pressão externa teve algum alívio (durante o século XX: a Primeira Guerra Mundial, a crise econômica de 1929 e a Segunda Guerra Mundial).
Isso não quer dizer, obviamente, que o rentismo dessas épocas fosse o mesmo de hoje. Em nenhuma época “rentista” do passado, o Estado brasileiro transferiu o equivalente a R$ 1 trilhão de juros, como no ano passado.
No entanto, o rentismo da época de Campos Sales e seus sequazes também era rentismo, e com semelhantes consequências: a trava na produção e industrialização do país. E estava ligado diretamente à especulação dos Rothschilds sobre a dívida pública brasileira.
Naquelas épocas do passado — logo após a República (nos dois primeiros mandatos presidenciais) e depois da Revolução de 30 — o instrumento do país para conter o rentismo e implementar a produção (leia-se, a indústria de transformação) foi o Estado. Daí o que se chamou “nacional-desenvolvimentismo”, assentado sobre a sua peculiar aliança de classes (trabalhadores, empresariado nacional e Estado nacional).
Na verdade, em todos os lugares onde se pretendeu restringir o rentismo em benefício da produção, o Estado (o Estado nacional) foi o fator fundamental — mesmo em um país imperialista, como foi o caso dos EUA durante o governo Roosevelt e o New Deal.
Se isso foi verdade em um país central, muito mais o é (se assim é possível dizer) em um país periférico, como o Brasil.
Não há nisso novidade alguma, pois foi o que fizemos de 1930 em diante, com um esplendoroso resultado.
Tivemos, infelizmente, algumas interrupções nesse processo, das quais a maior — e mais trágica — foi o golpe de Estado de 1964.
Leia também: Por que o Brasil perdeu sua indústria – e como reverter
O motivo pelo qual uma economia imperialista central — como a economia dos EUA — torna-se progressivamente mais “financeirizada” já é conhecido há muito tempo: a concentração da produção, de que falava Lenin, leva a uma maior composição orgânica do capital, e, por consequência, como demonstrou Marx em O Capital, a uma queda na taxa de lucro.
A “financeirização” (isto é, o rentismo) é uma tentativa de contrarrestar a queda na taxa de lucro. Daí, a moeda, nesses países, e seus sucedâneos (títulos dos mais variados tipos, derivativos etc.) tornam-se independentes em relação à produção, na tentativa de manter ou aumentar a taxa de lucro autonomamente em relação à produção.
É isso o que explica a seguinte aberração:
“De acordo com os boletins estatísticos do BIS, em dezembro de 2023 haveria estoque total de US$ 667 trilhões aplicados em tais títulos espalhados pelo mundo. Para se ter ideia de comparação, o FMI (Fundo Monetário Internacional) estima o valor do PIB global para o mesmo período em US$ 110 tri. Assim, a economia mundial contaria com alavancagem financeira equivalente a 6 vezes o valor da base material da economia real do conjunto dos países do planeta. É importante registrar, além disso, que estas estatísticas não contabilizam toda a enorme quantidade de capital que opera no submundo das práticas ilegais, a exemplo do tráfico de armas, drogas e minerais valiosos.” (v. Paulo Kliass, Riscos do financismo globalizado)
Ou, senão:
“A BlackRock, gestora de ativos (asset management), administra US$ 10 trilhões; o orçamento federal dos Estados Unidos é de US$ 6 trilhões. Se somarmos duas empresas de mesmo perfil, State Street e Vanguard, chegamos a US$ 20 trilhões, perto do valor do PIB americano. O PIB mundial é da ordem de US$ 100 trilhões, mas o volume de transações no mercado de derivativos ultrapassa US$ 600 trilhões.” (v. Eduardo M. Rodrigues e Ladislau Dowbor, Quem controla a economia brasileira, OutrasPalavras, 21/12/2023)
Se isso é verdade até em seus próprios países — isto é, nos países centrais do imperialismo —, muito mais o é, e muito mais violento é, nos países periféricos.
Não há dúvida de que, apesar de a base de massas do nacional-desenvolvimentismo ter sido constituída principalmente pelos trabalhadores, o elemento decisivo — que, inclusive, conformou os demais termos da aliança — foi o Estado nacional.
Por esse motivo, a face sempre lembrada desse período é a do presidente Getúlio Vargas.
Hoje, existe quem argumente que o empresariado — isto é, a burguesia — não existe mais tal como existia naquela época; portanto, o nacional-desenvolvimentismo seria, nos tempos atuais, impossível.
Resta saber o que seria possível.
Mas é evidente o que há de falacioso nesse argumento: o nacional-desenvolvimentismo expressa interesses sobretudo dos trabalhadores. É nessa medida que ele interessa também ao empresariado. Exceto se os trabalhadores deixassem de existir, o argumento peca por alicerçar a possibilidade do desenvolvimento nacional apenas no empresariado.
É verdade que o empresariado atual (estamos nos referindo ao empresariado produtivo) não é o mesmo da época de Getúlio. É verdade que, durante a ditadura, apesar do II PND, o empresariado nacional perdeu significação, e sobretudo depois, com o neoliberalismo de Collor e Fernando Henrique, do qual ainda não saímos.
Mas não é isso o que determina o destino da contradição entre produção e rentismo. Evidentemente, ninguém jamais pretendeu uma economia capitalista onde não houvesse qualquer financiamento ou atividade bancária.
O problema nosso é que as barreiras estatais ao rentismo (inclusive a maioria dos bancos estatais) foram derrubadas.
Hoje, o próprio Estado foi capturado pelo rentismo. É o que explica a quantidade de juros (R$ 1 trilhão em um ano!) em dinheiro público, drenada, do Estado para o setor rentista.
Mas esse, exatamente, não é um Estado nacional. Esse papel de dreno corresponde a um Estado colonial, não importa quão sofisticado ele pareça, com instituições tão solenes (e ridículas) quanto esse Banco Central “independente” apenas da nossa Nação.
O rentismo, portanto, existe como função desse Estado colonial – que, por sua vez, é uma filial do Estado imperialista, do Estado externo ao Brasil, basicamente do Estado norte-americano e outros menores ou assemelhados.
Portanto, a nossa questão, para libertar o país do rentismo, é, precisamente, recuperar ou reconstruir o Estado nacional, que foi avacalhado (desculpem-nos o termo) sobretudo durante os anos do neoliberalismo.
Aliás, o neoliberalismo é, em síntese, exatamente, a avacalhação do Estado nacional.
O que acontecerá depois de recuperarmos o Estado nacional – se iremos para o socialismo ou se iremos até um imperialismo brasileiro, ou, mesmo, se vamos regredir outra vez ao rentismo – é uma questão que veremos depois.
Seja como for, hoje, que estamos sufocados pelo rentismo, é uma questão ociosa.
Carlos Lopes é redator-chefe do jornal Hora do Povo, vice-presidente nacional do PCdoB e membro do Grupo de Pesquisa sobre Problemas e desafios contemporâneos da teoria marxista.
Este é um artigo de opinião. A visão dos autores não necessariamente expressa a linha editorial da FMG.