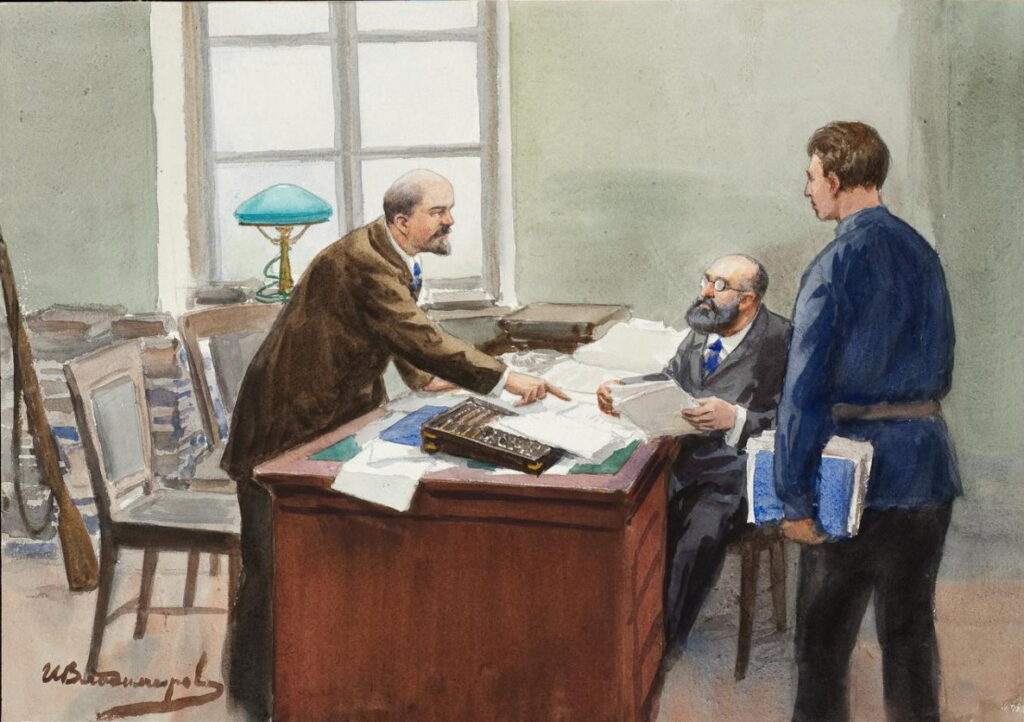Uma questão de classe. De luta de classes! – Quantas vezes não ouvimos, ao longo do tempo, que a luta de classes não existe, que nada mais é do que uma invenção dos comunistas, criação de Karl Marx, entre outras tantas enormes bobagens do tipo? Li e ouvi isso ao longo das décadas, de variadas pessoas, em diversos meios de comunicação e pessoalmente. Essa concepção, claro, é disseminada pela classe dominante e faz parte de uma faceta da luta de classes: a disputa pelas consciências coletivas.
Luta de classes não é “só” fazer greve, passeata, protesto ou organizar partido para tomar o poder. Esse é o outro lado da moeda, o lado da resistência. Luta de classes é uma imposição das classes dominantes à maioria da população para se manterem no poder, acumulando riquezas, explorando a mão de obra o máximo possível através de uma grande variedade de formas de trabalho, conforme os modos de produção predominantes ao longo da história, com rígido controle sobre as propriedades privadas dos meios de produção e domínio sobre o Estado, independentemente da sua forma.
É o conjunto dessa obra nefasta que gera a reação da força de trabalho explorada. Reação que também é realizada de múltiplas maneiras, independentemente do tempo e do espaço, e muitas vezes assume facetas, digamos, não diretamente políticas, mas como resistência cultural — como podemos ver nas periferias dos grandes centros urbanos hoje em dia. Manifesta-se, atualmente, de modo muito intenso em torno das lutas contra a opressão sobre a mulher e no combate ao racismo em suas diversas vertentes.
Luta de classes é um fenômeno real e concreto de toda e qualquer sociedade dividida e hierarquizada a partir da apropriação individual da riqueza material, que é produzida coletivamente e põe em movimento a resistência, a um tempo, e a disputa pelo poder, conforme as circunstâncias.
O raciocínio oposto — o de que não há luta de classes, logo, que não existem contradições profundas, antagonismos inconciliáveis entre as classes sociais — conduz, de maneira elementar, à conclusão de que não há motivos para promover alterações radicais na estrutura econômica e social. Aliás, segundo os arautos da conciliação entre explorados e exploradores, o melhor caminho para superar problemas profundos que afligem a sociedade não é a luta coletiva, mas a busca por realização pessoal, conforme o esforço, dedicação e capacidade de cada um. Afinal, dizem ainda os que defendem esse tipo de ideia, “o mundo sempre teve desigualdade, sempre vai ter, já que as pessoas são diferentes”.
Leia também: Nós x Eles – Como a polarização política reflete na luta de classes
Aqui há uma manipulação grosseira, que confunde diferença com desigualdade. Na trajetória humana, a desigualdade é produto direto do desenvolvimento da propriedade privada sobre os meios de produção, que, na linha histórica da nossa espécie — a Homo sapiens — só começa nos últimos milênios de uma trajetória que remonta a pelo menos 300 mil anos. E mesmo assim, ainda existem inúmeras comunidades espalhadas pela Terra nas quais a desigualdade, como fruto da apropriação dos meios de produção por uma minoria, simplesmente não existe. Logo, a desigualdade é histórica. Nem sempre existiu e nem sempre existirá como uma fatalidade genética da nossa espécie.
Esse pensamento — a naturalização da desigualdade como um traço distintivo da humanidade — não é novo. Ao longo da história, sempre encontramos justificativas semelhantes para explicar a brutal desigualdade entre as pessoas, desde o surgimento da propriedade privada sobre os meios de produção e o consequente enriquecimento e concentração do poder nas mãos de uma determinada classe dominante que subjugou a maioria das populações, conforme o desenrolar histórico. Criaram-se ideologias muito bem estruturadas para impor a dominação, ainda que, aos olhos de hoje, elas nos pareçam toscas. Porque a dominação não se faz apenas pelo uso da força bruta, mas, essencialmente, pelo controle coletivo das mentalidades.
Entenda como é a luta de classes na China com Elias Jabbour. Veja vídeo:
No escravismo Antigo e Moderno, criou-se a ideologia da superioridade racial — independentemente da cor da pele — posto que escravos eram, em geral, prisioneiros de guerras, vencidos pela “superioridade” dos seus inimigos, logo, “inferiores”, que não mereciam outro destino senão o de servir aos vencedores. No sistema feudal, ainda a título de exemplo, a nobreza detentora de terras se dizia superior por uma determinação de Deus. Desde seus primórdios, a burguesia propagou intensamente exatamente essa ideia: de que é através do esforço individual que se superam as dificuldades.
Em especial com o desenvolvimento do capitalismo, na sua longa trajetória histórica desde as grandes crises da Idade Média, de onde a burguesia brotou, esse conceito é parte integrante do seu desenvolvimento material e ideológico. “Faça-te por ti mesmo” é o lema, retomado com muita força nos últimos anos.
Está presente hoje naquelas outras ideias supostamente recentes: “empreendedorismo” e “prosperidade”, que convencem milhões de proletários a aderir ao capitalismo em busca de riqueza, bem-estar etc., tudo pelo “esforço individual”. Novamente, não é novidade em si, mas ganhou uma dimensão nunca vista, inclusive com forte pregação religiosa neopentecostal.
O que (realmente) mudou nas relações de trabalho?
Muito, inclusive, é discutido nas ciências sociais sobre o papel do protestantismo de orientação calvinista no desenvolvimento do capitalismo a partir do século XVI. Essa ligação entre trabalho individual e enriquecimento pessoal — que seria um sinal da salvação, desde que se cumpram alguns requisitos teológicos, segundo o calvinismo — ressurge de tempos em tempos, especialmente em períodos de crise do capitalismo. Se não é novidade, o novo é a escala do alcance junto ao proletariado nestes tempos de multiplicação avassaladora de templos neopentecostais e influencers nas redes sociais.
Reparem: o capitalismo está numa crise gigantesca, estrutural, insolúvel, ganhando novas e terríveis cores com a guerra tarifária em curso, diversos conflitos armados e outros potencialmente possíveis no curto prazo. Mas os ideólogos da burguesia arrastam milhões de trabalhadores para o seu lado, enquanto o capital submete essa mesma massa de força de trabalho a condições cada vez mais precárias de vida, trabalho, saúde, educação, segurança etc.
Como em absolutamente tudo no capitalismo, uma minoria “empreendedora” vai ganhar dinheiro, “se dar bem”, coisa e tal, enquanto a maioria vai vegetando nos seus pequenos negócios — que fecham em, no máximo, cinco anos — ou em cima de motos, bicicletas e atrás de volantes, em jornadas extenuantes e com ganhos irrisórios, mas com um suposto controle sobre o próprio tempo, achando que é patrão de si mesmo. Essa inculcação ideológica sobre “ser patrão” é muito poderosa.
Aqui, cabe uma dupla tarefa ao pensamento progressista — tarefas que se articulam, interagem e não são excludentes. É preciso ter paciência e atenção a essa massa enorme de proletários(as) que atualmente assimilam essa ideologia nefasta, que dificulta enormemente à classe se identificar como tal e lutar por si, de modo organizado e não individualmente. O pior movimento a ser feito é o da confrontação com dedo em riste, apontando sua “incapacidade” de entender o que de fato está ocorrendo. Essa massa quer respostas para problemas estruturais gritantes, que a afetam todos os dias.
A segunda tarefa é lutar de modo decidido pela recomposição do desenvolvimento nacional, pela conquista do poder político pelo campo progressista, que efetivamente conduza o Estado e a política para um alentado processo de recomposição econômica em novas bases, assentado em uma poderosa industrialização que demande o impulsionamento de grandes cadeias produtivas, gerando emprego e renda com muito mais qualidade do que hoje.
Demanda-se recompor as bases do Estado nacional para agir de modo objetivo sobre as principais demandas do povo. É imprescindível lutar pela superação do capitalismo e pela construção do socialismo.
Evidente que nada disso se faz sem mobilização intensa, diálogo permanente com potenciais aliados — entre partidos e frações de classe —, capacidade de interação e conscientização, fortalecimento orgânico de um partido de vanguarda e de massas. O capitalismo agoniza, mas não cairá sozinho.
Altair Freitas é historiador, membro do Comitê Central do PCdoB, diretor da Escola Nacional João Amazonas, secretário de Formação e Propaganda do PCdoB/SP.
Este é um artigo de opinião. A visão dos autores não necessariamente expressa a linha editorial da FMG.