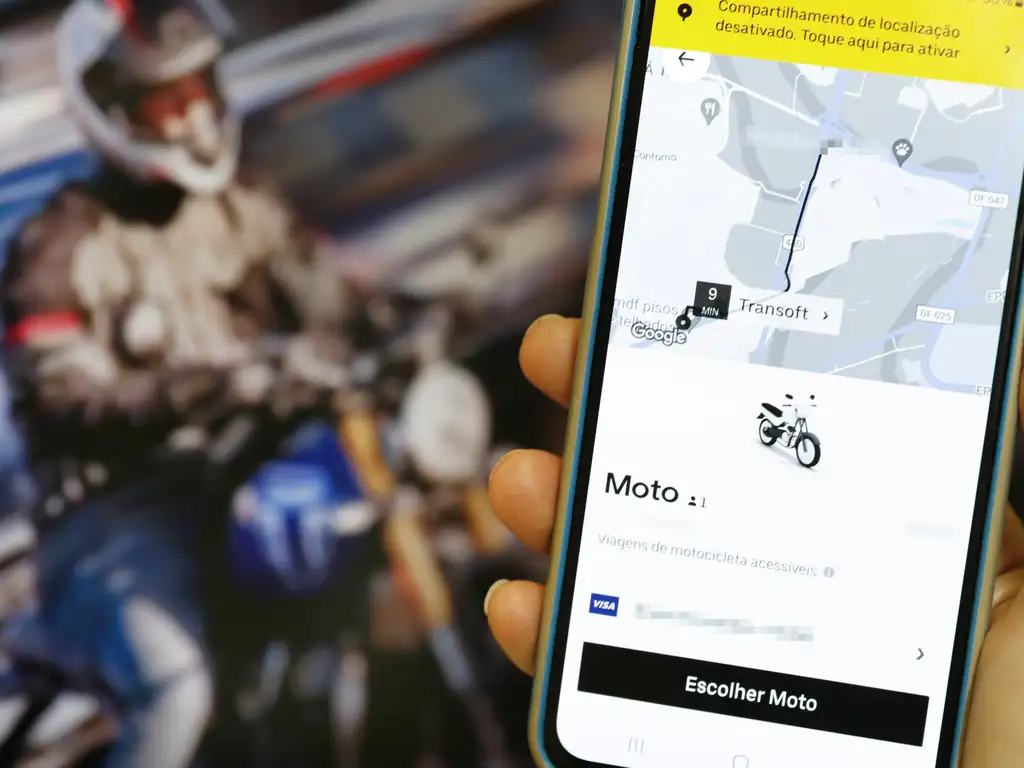1. Introdução
O objetivo deste artigo é fazer uma breve análise dos declínios das ordens mundiais britânica (1815-1914) e americana (1945-atual). Antes disso, vamos utilizar esta introdução para fazer uma crítica sumária aos conceitos de ordem mundial e de hegemonia, e explicar por que usamos o conceito de supremacia.
Para o título deste artigo, emprestamos o conceito de ordem mundial da teoria realista das Relações Internacionais. Segundo ela, em linhas gerais, existe ordem quando há estabilidade nas relações internacionais, ou seja, a ausência de grandes guerras. A estabilidade provém do equilíbrio de poder entre grandes potências (concebidas com critérios de poder político e militar), que organizam sua zona de domínio e estabelecem uma situação de igualdade de forças com outras potências. As ordens são cíclicas e podem ser, em conteúdo, unipolares, bipolares e multipolares, que são, respectivamente, quando existe um único Estado como grande potência, quando há disputa entre duas grandes potências e quando há múltiplos centros de poder.
Leia também: China e Brasil unem forças contra hegemonismo, intervencionismo e outros “ismos”
Contudo, consideramos o conceito de ordem inadequado para tratar da política internacional. No sentido weberiano — referência importante para esta teoria —, ordem (social) é o conjunto de normas, regras e valores que regulam as interações entre agentes, os quais encontram nela regularidade e previsibilidade, e, por isso, a legitimam; o Estado é central para o estabelecimento da ordem. No contexto internacional, além da ausência de um Estado mundial, não nos parece existir regularidade e previsibilidade tal qual no contexto nacional, em qualquer tipo de ordem.
Outro conceito inadequado é o de ordem hegemônica, ou simplesmente hegemonia, seguido pela tradição gramsciana. Pois, primeiro, a hegemonia precisaria do Estado capitalista mundial para funcionar transnacionalmente, tal como Gramsci alega ao tratar do Estado integral. Segundo, o suposto consenso estabelecido em uma ordem hegemônica mundial não nos parece ter a força ideológica que tem em uma formação social nacional, dado, além da ausência do Estado mundial, o caráter parcial do alcance de aparelhos de hegemonia, assim como as resistências a eles.
Houve ordem ou hegemonia durante o Concerto Europeu (1815-1914), a Guerra Fria (1945-1991) e/ou na atualidade? Esses períodos foram marcados por conflitos, guerras, resistências, rebeliões e revoluções. Entendemos que podem existir períodos de regularidade, previsibilidade e consenso nas relações entre dois ou um grupo de Estados, mas não em âmbito mundial. Talvez seja possível uma ordem ou hegemonia mundial com a existência de um único Estado altamente poderoso; porém, não é o que a história do capitalismo nos mostra.
Por isso, utilizamos o conceito de supremacia, que significa a projeção transnacional de poder econômico, político e ideológico de um Estado capitalista, alicerçado no poder de suas classes e frações de classe dominantes, que subjuga outras unidades políticas. Acreditamos que este conceito é mais adequado, uma vez que, primeiro, ordens mundiais totais, que envolvessem todos ou a maioria dos Estados e das classes dominantes do sistema internacional, nunca existiram; no máximo, existiram “ordens mundiais” parciais. Nesse sentido, segundo, a supremacia revela o poder de um ou mais Estados e a formação e a dinâmica de sua zona de domínio, que possivelmente estabelece conflitos com outros Estados e classes. Por exemplo, desde o advento do modo de produção capitalista e sua propulsão para se expandir mundo afora, a “ordem mundial” britânica consistia em um império, mas enfrentou contestações, disputas e ataques, principalmente das potências europeias. Os EUA, a despeito da sua “ordem mundial” atlântica após 1945, enfrentaram resistências da URSS e da China — as mais significativas em termos estatais —, restringindo sua supremacia, na melhor das hipóteses, a todo o Ocidente.
Vejamos os declínios destas duas (chamadas) ordens mundiais.
2. Supremacia e rivalidades do império britânico
O primeiro Estado capitalista do mundo, a Inglaterra, construiu o império britânico primeiramente com uma política externa de “livre comércio” e, em seguida, com base no desenvolvimento de suas forças produtivas, por outros meios econômicos que caracterizaram uma projeção internacional imperialista, como o investimento de capital. Seguramente, a formação do império — a conquista e o controle de territórios e povos que passam a ser dominados por uma unidade política central — e as intervenções em outras unidades políticas foram conduzidas pela força e pela diplomacia do Estado. Nesse caso, especialmente a marinha britânica teve papel crucial em ocupações, anexações e incorporações de colônias para formar the empire on which the sun never sets. Essa diplomacia canhoneira, tão presente no Brasil imperial com tratados de comércio e amizade e ingerência nos assuntos internos da corte, derrotou a principal concorrente — a França napoleônica — e reinou entre a eclosão do Sistema de Viena (1815) e a Primeira Guerra Mundial (1914), pelo menos fora da Europa.
Dissemos “fora da Europa” porque, no Velho Continente e também em relação aos EUA e ao Japão, os britânicos foram incapazes de realizar uma penetração econômica e cultural sustentada pelo poder militar e diplomático nesses Estados, de modo a coordenar com governos e classes dominantes (capitalistas e pré-capitalistas) as correias da engrenagem do império. Nesses Estados, o processo de desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo, a partir da própria Inglaterra, tomou forma de uma estrutura autônoma e nacional, mediante lutas de classes transnacionais e nacionais.
Assim, os rivais dos ingleses formaram impérios ou zonas de domínio próprios, e os conflitos entre eles — tanto econômicos como rivalidades geopolíticas, algumas herdadas do passado — levaram a uma concorrência imperialista e à adoção de medidas protecionistas. Estas formavam a base tributária desses Estados, assim como instrumentos de proteção para as nascentes burguesias e classes trabalhadoras. Nesse contexto, então, a supremacia britânica e seus aparatos não foram capazes de garantir uma interpenetração de processos de acumulação de capital no interior de cada Estado no centro do capitalismo mundial.
Consequentemente, as rivalidades interimperialistas levaram à guerra mundial e à derrocada do império britânico, devido em boa parte à incapacidade britânica de mediar conflitos e organizar as contradições geradas pelo desenvolvimento e pela expansão do modo de produção capitalista entre o fim do século XIX e o início do século XX. Em resumo: o fim do império esteve atrelado à incapacidade da Grã-Bretanha de incorporar novas potências capitalistas, como a Alemanha, os EUA e o Japão, ao sistema imperialista da chamada pax britannica, que de pacífica não tinha nada.
3. Supremacia estadunidense e globalização

Delegações de 44 países participam da Conferência de Bretton Woods, em julho de 1944, nos Estados Unidos. O encontro estabeleceu as bases da ordem econômica internacional do pós-guerra, incluindo a criação do FMI e do Banco Mundial. Imagem: UN Photo / Encyclopædia Britannica.
Fonte: Bretton Woods Conference, Encyclopædia Britannica. Acesso: https://www.britannica.com/event/Bretton-Woods-Conference#/media/1/78994/226531
O que os britânicos não fizeram, os estadunidenses fizeram e aperfeiçoaram. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, foram capazes de organizar interpenetrações de processos de acumulação de capital no interior de cada Estado. Liderados pelo Estado e pelas frações da classe dominante, os EUA conduziram o que chamamos de reprodução interiorizada e induzida do capital, principalmente nas formações sociais europeias, com amplos benefícios ao capital estadunidense, mas também com contrapartidas. Uma verdadeira penetração econômica e cultural, sustentada pelo poder militar e diplomático.
Acordados com as frações burguesas mais internacionalizadas de cada país europeu, a diplomacia e a burguesia dos EUA dinamizaram a expansão de suas empresas transnacionais com investimento estrangeiro direto na produção e nos serviços, demonstrando uma capacidade de penetração jamais vista, acompanhada pela ideologia do american way of life hollywoodiano. A arquitetura internacional de Bretton Woods, baseada na supremacia do dólar, no padrão-ouro, no comércio com câmbio fixo, baixas tarifas e no investimento direto, junto com o pacto capital-trabalho, levou o capitalismo central a uma era de crescimento e prosperidade.
Veja debate Hegemonia Neoliberal e Dependência: composição, convergências e contradições:
Nas relações políticas e militares, as rivalidades interimperialistas deram lugar a instituições internacionais de cooperação, como a OTAN, a União Europeia e outras organizações, vis-à-vis a URSS. Por um lado, a Europa sofria um processo de canadização, de formação de uma cadeia imperialista liderada pelos EUA, em que seus países ficaram como sócios menores — ainda que permanecessem relações imperialistas, de força, entre as frações de classe de diferentes países. Por outro, essa mesma cadeia imperialista operava nos países periféricos nos marcos da exploração, dominação e alienação, com intervenções diretas e indiretas, patrocínios escusos, golpes de Estado e operações militares, a serviço dos Estados e das burguesias centrais. Portanto, a chamada pax americana — que de pacífica não tinha nada — se originou do aprendizado com a incapacidade dos britânicos, para então combinar a internacionalização de processos de acumulação de capital com a organização do capitalismo ocidental, sob supremacia dos EUA.
A contestação da supremacia estadunidense apareceu de várias formas nas décadas do pós-guerra, mas chamamos a atenção para lutas das classes trabalhadoras e dos povos oprimidos, seja por melhores condições de vida ou por alternativas ao capitalismo, seja por libertação nacional ou desenvolvimento autônomo. Igualmente, chamamos atenção para um processo de inflação e superacumulação de capital diante das baixas taxas de lucro, que descontentava as diferentes frações da burguesia nos Estados centrais, no contexto da arquitetura de Bretton Woods.
A solução para isso foi o programa neoliberal, que, além de reconfigurar o capitalismo ocidental, manteve a supremacia dos EUA. O programa, incorporado e levado a cabo nos Estados centrais, na cadeia imperialista, desmantelou em geral o pacto capital-trabalho: destruiu os serviços públicos, os direitos sociais e a organização política da classe trabalhadora, e promoveu a liberalização das finanças, do comércio e as privatizações, proporcionando uma saída para a superacumulação de capital.
Nesse contexto, as medidas protecionistas de outrora foram consideradas obsoletas diante do mantra do mercado mundial sobre abertura econômica. Com tal liberalização e a derrota estratégica imposta à URSS, a supremacia dos EUA se estendeu a países que ainda não estavam em sua órbita — particularmente, os negócios de frações da burguesia estadunidense se instalaram em países antes inimagináveis. A reprodução interiorizada e induzida do capital estadunidense, junto com acordos políticos e militares, sob a égide do programa neoliberal, produziu uma globalização neoliberal ao final do século XX. A (re)organização do capitalismo global, a organização de interpenetrações de processos de acumulação de capital no interior de cada Estado, continuou e se estendeu sob supremacia dos EUA, sob a égide neoliberal.
4. Declínio da supremacia dos EUA?
O Estado e a globalização neoliberais dos EUA levaram a diplomacia, a guerra e as empresas estadunidenses a todos os rincões do planeta. Impulsionada por uma fração internacionalista, uma grande burguesia imperialista, e representada principalmente pelo Partido Democrata, a internacionalização dos processos de acumulação de capital moldou por décadas as relações internacionais à imagem e semelhança dessa fração imperialista.
Contudo, no plano interno, o Estado destruiu direitos e garantias das classes trabalhadoras, e a globalização arruinou os negócios da grande burguesia nacional (protecionista e nacionalista), a industrialização e a geração de empregos. Ainda, um processo de fascistização, como comentamos1, elegeu como inimigos da “nação” os chineses, por sua participação no mercado nacional; os movimentos sociais progressistas — como o feminista e o negro —, por suas lutas por reconhecimento e direitos; e os imigrantes, por supostamente ocuparem postos de trabalho não destinados a eles. Donald Trump se elege e representa um reacionarismo a essa conjuntura, a serviço de uma grande burguesia nacional que muito perdeu com a globalização neoliberal.
O governo Trump avalia que a atual ordem mundial trouxe para os EUA custos, guerras e ascensão de novas potências e, então, é necessário substituir a ordem liberal do pós-guerra por uma nova supremacia dos EUA, calcada no poder econômico e militar unilateral. O governo se opõe aos arranjos globais que os próprios EUA construíram (ONU, OMC, OTAN, entre outros), os quais prejudicariam a soberania, as empresas e os trabalhadores, e gerariam custos de manutenção onerosos aos cofres públicos. Trump já anunciou aos líderes europeus que os EUA não serão mais garantidores da segurança europeia, a qual deve ser de responsabilidade e de financiamento dos próprios europeus. Além disso, rompeu parcerias com a Europa e a Ásia — a Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento e a Parceria Transpacífico —, arquitetadas por governos anteriores, entre outras medidas que minam a organização do capitalismo global construída no pós-guerra.
Em mais um capítulo dessa “desglobalização”, o governo Trump impôs tarifas comerciais (Liberation Day) a diversos países, com o intuito de reverter “maus acordos comerciais” e a internacionalização da economia, após décadas de deslocamentos para o exterior, e reconstruir a produção nacional. Trump demanda relações vantajosas para os EUA, dado que, para seu governo, o mercado estadunidense é bastante aberto ao exterior, mas seus pares prejudicam o país com barreiras e tarifas comerciais. Com isso, ignora ou até implode o sistema multilateral de comércio da OMC.
Leia mais: China reage à guerra tarifária e expõe declínio da hegemonia dos EUA
Os critérios para as tarifas seguem a fórmula na qual o déficit comercial de mercadorias entre os EUA e determinado Estado é dividido pelo valor das importações estadunidenses para tal Estado; então, esse número é dividido pela metade. Mas, para países da Ásia, como a China, esse número aumenta de acordo com a rivalidade econômica e geopolítica, a projeção de poder e a interpenetração no mercado estadunidense.
A supremacia que o governo Trump tenta reconfigurar, agora pela segunda vez, demole a organização das interpenetrações de processos de acumulação de capital no interior de cada Estado — processo liderado pelos EUA no passado. Essa supremacia unilateral tende a repetir a conjuntura da supremacia britânica e provocar rivalidades interimperialistas, que levaram à guerra mundial e à derrocada do império. Logo, existe, sim, uma tendência de o governo Trump ser o agente do fim da supremacia estadunidense como a conhecemos nas últimas décadas. Mesmo que o governo recue e/ou seja derrotado em próximas eleições, o “estrago” parece estar feito. Seus aliados e parceiros — Estados e frações da classe dominante com quem os governos dos EUA construíram sua supremacia, a cadeia imperialista e a organização do capitalismo — perderam a confiança, de modo que o sistema internacional parece ter atingido o ponto de não retorno.
Nota:
Caio Bugiato é professor de ciência política e relações internacionais da UFRRJ e do programa de pós-graduação em relações internacionais da UFABC. É pesquisador do Observatório Internacional da FMG.
Este é um artigo de opinião. A visão dos autores não necessariamente expressa a linha editorial da FMG.