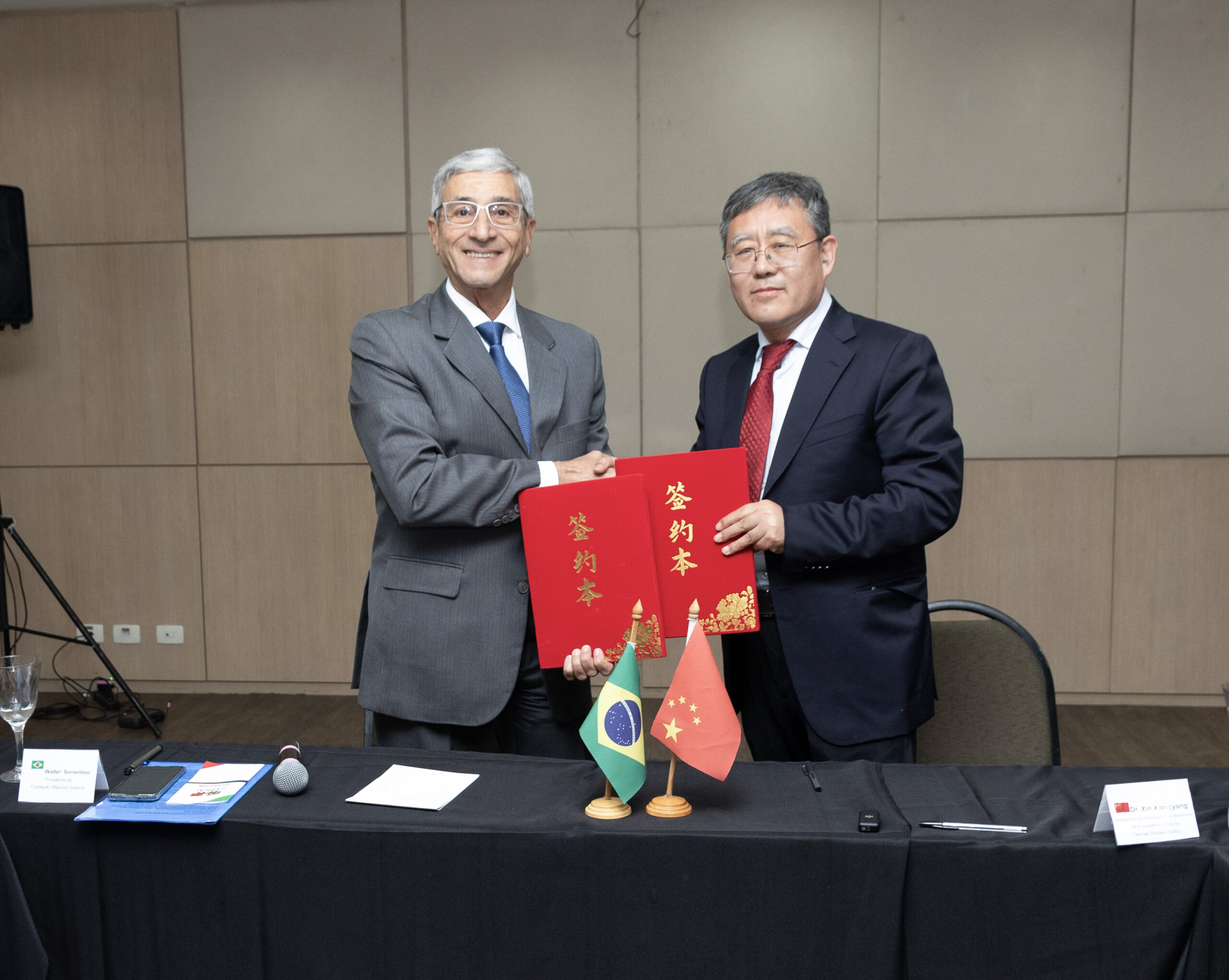Leia a seguir o ensaio “O sonho racista de um povo branco”, quinto capítulo do livro “Há Racismo no Brasil”, do escritor e jornalista José Carlos Ruy (1950-2021). Nos marcos da celebração do Mês da Consciência Negra, o Vermelho divulga a obra póstuma de Ruy, que é inédita. Será publicado um capítulo do livro por dia entre 20 e 30 de novembro. Confira.
Cap 5 – O sonho racista de um povo branco
Durante o I Congresso Internacional das Raças, ocorrido em Londres em julho de 1911, João Batista Lacerda apresentou a tese “Os mestiços do Brasil”, na qual garantia que em cem anos – isto é, em 2012 – os negros já teriam desaparecido da população brasileira, e os mestiços estariam reduzidos a 3% da população.
Passados aqueles cem anos, o disparate dessa previsão ficou visível. Mas, na época, aquele era um problema central para a classe dominante brasileira cujos intelectuais e cientistas, incapazes de compreender as razões sociais do atraso, o atribuíam à presença da maioria de negros e mestiços entre os brasileiros. A previsão de Lacerda deixou muita gente furiosa – achavam um século muito tempo para que o Brasil se tornasse branco! Mas ele, que era diretor do Museu Nacional (no Rio de Janeiro), refletia o racismo da ciência social de então e o preconceito racial dominante.
A preocupação com a composição racial da população cresceu desde as últimas décadas do século XIX, na crise final da escravidão. O debate que tomou conta da imprensa e do parlamento brasileiros em busca do substituto para a mão de obra escrava revela a força do racismo que dominava. Houve propostas de todo tipo – desde os abolicionistas radicais que, em minoria, defendiam o fim imediato da escravidão sem compensações para os senhores, até aqueles que defendiam uma extinção tão gradual e lenta que arrastaria aquele sistema iníquo até a década de 1930. Outros queriam um período de transição em que os escravos seriam transformados em servos da gleba, livres, mas impedidos de sair das fazendas onde viviam e trabalhavam.
Do ponto de vista racial, uns queriam aproveitar, nas fazendas de café do Sudeste a população livre e pobre do Nordeste. E esbarravam na resistência da oligarquia nordestina que não aceitava perder aquela mão de obra de custo extremamente baixo. Outros queriam trazer chineses (descobriu-se recentemente que o próprio imperador D. Pedro II pensava assim) ou atrair africanos, agora na condição de trabalhadores livres. O racismo esteve na base da rejeição destas propostas, que foram descartadas. O deputado Meneses e Sousa, num relatório de 1875, disse que o Brasil precisava de “sangue novo”, e não de “suco envelhecido e envenenado”, rejeitando a vinda de chineses, raça – escreveu – “abastardada” que faria “degenerar a nossa”.
Em 1883 o próprio Joaquim Nabuco recusou a vinda de chineses pois, temia, viriam corromper “ainda mais a nossa raça” e o Brasil seria “mongolizado como foi africanizado”.
Prevaleceu assim a ideia de trazer imigrantes europeus, principalmente italianos, ideia atraente para a classe dominante por várias razões. Entre elas, por que os italianos eram trabalhadores vindos de uma sociedade fortemente hierarquizada e autoritária, e que entrara em crise profunda depois da unificação da Itália. O romance “O Leopardo”, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, traz uma sensível e realista descrição das contradições italianas daquela época.
Os italianos eram trabalhadores acostumados ao trabalho duro em uma sociedade dominada por latifundiários autoritários e padres católicos a serviço da “boa ordem”, semelhante dessa maneira à ordem social que havia no Brasil, na qual, esperam, facilmente se adaptariam às condições de trabalho das fazendas do café, nas quais as sobrevivências do escravismo eram muito grandes. Além disso, os italianos eram europeus e brancos, correspondendo ao sonho de branqueamento da classe dominante.
Para a maioria dos escritores brasileiros do período entre as décadas de 1870 e 1930 não havia dúvida sobre necessidade de branqueamento da população principalmente quando se tratava de explicar o atraso do país pois, para eles, os negros, índios e mestiços eram – em graus variáveis – incapazes de civilização, característica que seria própria dos povos brancos. Aquela tese também correspondia aos interesses da oligarquia agroexportadora que dominava o país. Joaquim Murtinho, que foi ministro da Fazenda de Campos Salles (1898-1902) e é um precursor do conservadorismo neoliberal, justificou o favorecimento à agricultura dizendo que a indústria era uma característica própria dos povos brancos!
Joaquim Nabuco, no livro “O abolicionismo” (1883), queria que a imigração europeia trouxesse “uma corrente de sangue caucásico vivaz, enérgico e sadio, que possamos absorver sem perigo”. Na mesma época, o crítico literário José Veríssimo pensava que “mais cedo ou mais tarde ela [a raça branca] vai eliminar a raça negra daqui”.
Muitos marcaram prazo para o total branqueamento da população. Silvo Romero escreveu em 1880 que “a vitória na luta pela vida, entre nós, pertencerá, no porvir, ao branco”, num prazo de “três ou quatro séculos”. E considerou “otimista” o prazo de um século estabelecido por João Batista Lacerda, pois era pouco tempo para que desaparecessem o negro, o índio e o mestiço.
Na esteira da previsão feita na I Conferência Internacional das Raças, o jornalista Artur Neiva escreveu, em 1921, que “daqui a um século, a nação será branca”. Em 1923, o deputado Carvalho Neto encurtou o prazo: “o negro, no Brasil, desaparecerá dentro de 70 anos”. O importante historiador e político Pandiá Calógeras escreveu, em 1930, que “a mancha negra tende a desaparecer num tempo relativamente curto em virtude da imigração branca em que a herança de Cam se dissolve” (os africanos eram considerados descendentes de Cam, o filho que Noé condenou). Em 1938 o médico e escritor (de grande prestígio na época) Afrânio Peixoto esticou o prazo dizendo que em 200 anos “terá passado inteiramente o eclipse negro”. Em outro lugar, alargou ainda mais: “Em trezentos anos mais, seremos todos brancos”. Levando o racismo a sério, Afrânio Peixoto comparou o Brasil aos EUA e temia que lá o racismo impediria a absorção dos negros e o embranquecimento da população: “não sei que será dos Estados Unidos, se a intolerância saxônica deixar crescer, isolado, o núcleo composto de seus doze milhões de negros.” E terminou seu arrazoado com uma nota pessimista e profundamente racista: “Teremos albumina suficiente para refinar toda essa escória?”
No Brasil, o Estado – que durante o Império foi um Estado escravista – apesar de marcado pelo racismo, não criou uma legislação segregacionista. Entretanto, a legislação de imigração criou obstáculos à entrada de africanos e asiáticos mesmo depois do fim da monarquia, como o decreto 588, de 28 de junho de 1890 que abria as portas para os “indivíduos válidos e aptos para o trabalho”, exceto “os indígenas da Ásia ou da África”, cuja entrada dependia de autorização do Congresso Nacional. Norma seguida ainda em 1945, pelo decreto 7967, de 18 de setembro, que reiterou os obstáculos à entrada de africanos e asiáticos, ressaltando o que considerava a necessidade de “desenvolver na composição étnica do país as características mais convenientes de sua ascendência européia”.
Uma tardia manifestação oficial daquele sonho de branqueamento apareceu, quase oitenta anos depois da Abolição, em um livro de propaganda difundido em 1966 pela diplomacia do primeiro ditador de 1964, o general Castello Branco, onde se diz que o povo brasileiro é branco, sendo “diminuta a percentagem de pessoas de sangue misto” na população.
A tese do branqueamento baseava-se em pressupostos cruéis de supremacia branca. Ela supunha que o Brasil se tornaria branco pois a taxa de natalidade dos negros seria mais baixa, a incidência de doenças era maior entre eles, e a própria desorganização social atribuída a eles, eram fatores que impediriam o crescimento da participação de negros e mestiços no conjunto da população. Supunha também que o gene branco seria mais forte – transplantando para a genética a mesma estrutura hierarquizada que existiria na sociedade, com os brancos, ou os que se supunham brancos, ocupando os postos mais elevados por serem “mais fortes”. E supondo que o resultado da miscigenação seria uma população mais clara, mesmo porque, esperavam, as pessoas de pele mais escura tenderiam a procurar parceiros de pele mais clara, reforçando aquilo que imaginavam ser uma tendência ao predomínio branco.
“O auge da campanha pelo branqueamento do Brasil”, escreveu Clóvis Moura, “surge exatamente no momento em que o trabalhador escravo (negro) é descartado e substituído pelo assalariado. Aí se coloca o dilema do passado com o futuro, do atraso com o progresso e do negro com o branco como trabalhadores. O primeiro representaria a animalidade, o atraso, o passado, enquanto o branco (europeu) era o símbolo do trabalho ordenado, pacífico e progressista. Desta forma, para se modernizar e desenvolver o Brasil só havia um caminho: colocar no lugar do negro o trabalhador imigrante, descartar o país dessa carga passiva, exótica, fetichista e perigosa por uma população cristã, europeia e morigerada”.
A história, a dinâmica populacional e demográfica e – em nossos dias – a genética, agiram contra aquele delírio branqueador mostrando que o resultado da mistura de gentes no Brasil seguiu – e segue – um caminho diferente e oposto ao sonhado pelo racismo da classe dominante e seus acólitos.
Ao contrário destas previsões racistas, não foi o branco – ou qualquer outro contingente – que prevaleceu, mas todos contribuíram para formar um povo novo, o povo brasileiro, cuja pele morena resulta exatamente da mistura de gentes que aqui se deu através dos séculos.