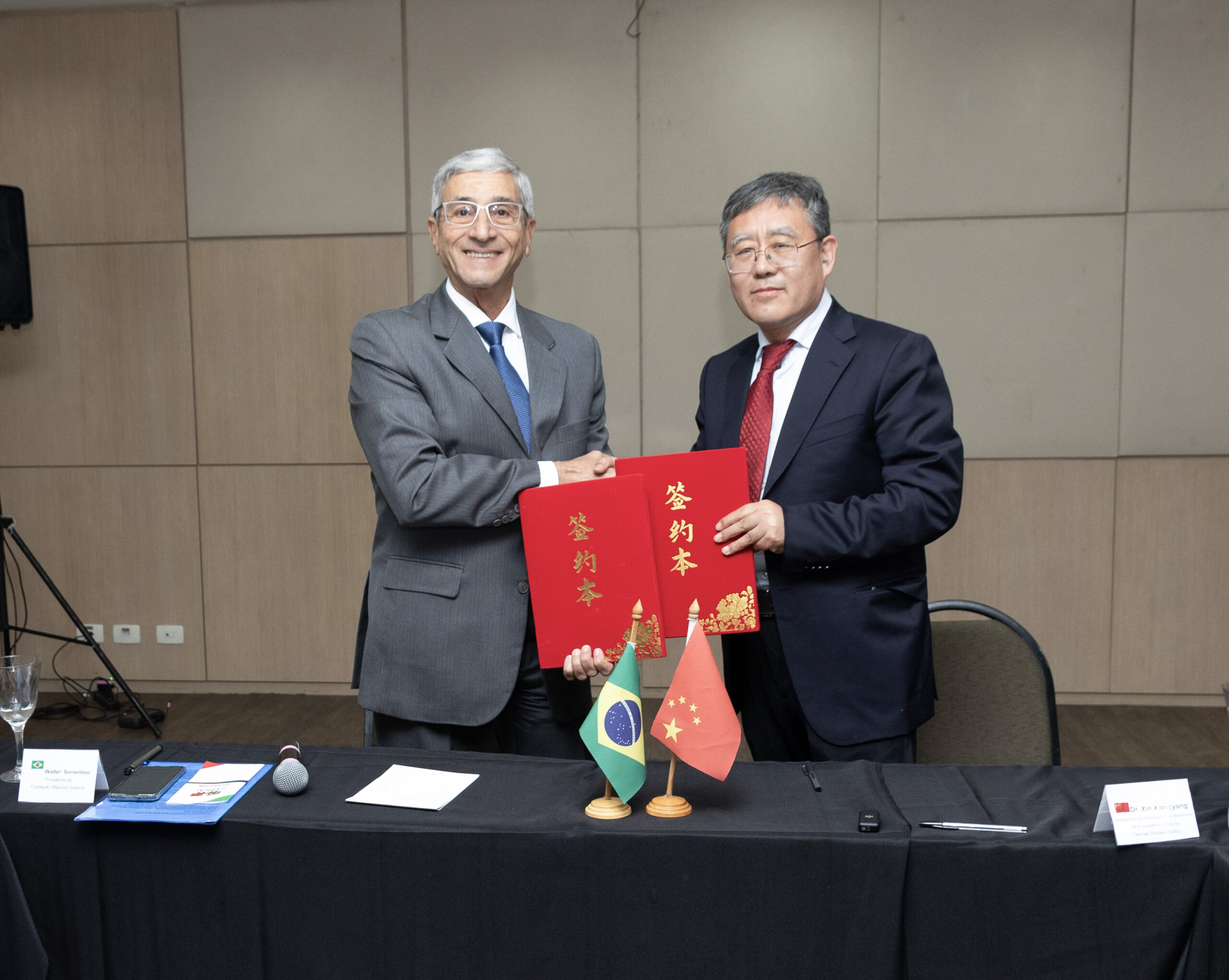Leia a seguir o ensaio “As leis contra o racismo”, nono capítulo do livro “Há Racismo no Brasil”, do escritor e jornalista José Carlos Ruy (1950-2021). Nos marcos da celebração do Mês da Consciência Negra, o Vermelho divulga a obra póstuma de Ruy, que é inédita. Será publicado um capítulo do livro por dia entre 20 e 30 de novembro. Confira.
Cap 9 – As leis contra o racismo
Embora muita coisa tenha mudado nas décadas seguintes ao fim da ditadura militar de 1964, o racismo persiste e mesmo a aplicação da lei que o pune é limitada pela existência dele. Além disso, foram décadas marcadas pelo desemprego, precarização das relações trabalhistas e limitação dos direitos sociais, uma situação agravada pelas políticas de ajuste econômico neoliberal dos governos de Fernando Collor de Mello (1990-1992), Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) e dos ultraliberais Michel Temer (que usurpou o governo em 2016 e o dirigiu até 1º de janeiro de 2019), o direitista Jair Bolsonaro, o sucessor de Temer. Esse período teve o breve intervalo dos governos de Luís Inácio Lula da Silva (2003 2010) e Dilma Rousseff (2011 a 2016).
O impacto destes ajustes conservadores nas condições de vida e renda da população foi negativo, e pior ainda para negros e mestiços, que formam em torno de metade da população brasileira e estão jogados, em sua imensa maioria, nas camadas mais pobres e desprotegidas.
A luta contra o racismo ganhou uma dimensão institucional, nos governos Lula e Dilma, amparada por uma legislação avançada e o fortalecimento da luta antirracista.
O primeiro instrumento jurídico para punir o preconceito racial foi a Lei Afonso Arinos (1951), que o classificou como contravenção penal. Branda e inócua, aquela lei praticamente não teve aplicação. Foi somente com a Constituição de 1988 que a punição ao crime de racismo passou a ser mais efetiva. O artigo 5º da Constituição o declara “crime inafiançável e imprescritível”; esta disposição constitucional foi regulamentada pela Lei 7716/1989, que pune esses crimes com penas de um a cinco anos de prisão. Foi alterada mais tarde pela Lei 9459/1997, que classificou como crimes a discriminação e o preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, e ampliou o combate a eles. Agravou também o crime de injúria e incluiu nele as referências depreciativas a raça, cor, etnia, religião ou origem. E determinou penas de prisão para todos estes crimes.
Além de adotar leis classificando o racismo como crime, outras providências legais foram adotadas no âmbito da Constituição de 1988, como a criação de regras institucionais de apoio aos negros e mestiços, que aumentaram desde 2003.
Em 21 de março de 2003 foi criada a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), com status de ministério. No mesmo ano foi adotada a Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial, e criado o Conselho Nacional de Políticas de Igualdade Racial. O decreto 4887 (de 20/11/2003) regulamentou os direitos das comunidades negras remanescentes de quilombos. A lei nº 10.639, de 2003, tornou obrigatório o ensino da História da África e da cultura afro-brasileira nas escolas. Na seqüência, em 27 de maio de 2004 foi criado o Fórum Intergovernamental de Promoção da Igualdade Racial (FIPIR), envolvendo a União, estados e municípios onde existissem órgãos executivos (secretarias, coordenadorias, assessorias, etc.) para coordenar políticas contra o racismo e pela igualdade racial. Nos dias 30 de junho a 2 de julho de 2005 ocorreu em Brasília um encontro importante, promovido pela SEPPIR – a 1a. Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial. E em 20 de Julho de 2010 foi promulgada a lei nº 12288 que instituiu o Estatuto da Igualdade Racial, um documento de enorme importância que representa, ele próprio, a confissão, pelo Estado, da existência do racismo no Brasil e da necessidade urgente de combatê-lo. Na mesma linha, em 2011, a Lei nº 12.519 instituiu o “Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra”.
“Racialização”: quem divide os brasileiros?
A oposição ao Estatuto da Igualdade Racial despertou, em setores conservadores, o temor da “racialização” da sociedade e do Estado brasileiros. Estes setores conservadores não reconhecem a existência objetiva desta divisão herdada do passado escravista, e que relega negros e mestiços às piores situações, como mostram repetidamente as estatísticas e os estudos de escritores antirracistas. “Racialização” enraizada na formação histórica da sociedade brasileira e na presença dessa herança escravista, que se mantém mesmo no século XXI.
Mas não adianta atribuir toda a conta do racismo brasileiro ao passado escravista, adverte a historiadora Wlamyra Albuquerque. “Atribuir ao escravismo a perversa desigualdade, a pobreza e a baixa auto-estima da população negra é uma forma de isentar o Estado republicano de suas responsabilidades não só com esta população, mas também com um projeto nacional igualitário e realmente democrático. É evidente que herdamos muito do passado escravista, mas sabemos que o tempo todo nós reeditamos essa herança. Não estamos lidando apenas com resquícios de um tempo que pretendemos superar, mas com projetos racistas contemporâneos, em processo de estruturação e legitimação social”, diz a historiadora (cit. in Comin: 2012).
A divisão social, cuja linha de demarcação é simultaneamente de classe e raça, foi flagrada mais uma vez por dois estudos publicados pelo Ipea em 2008, que mostram uma pequena melhoria na situação de negros e mestiços: “Desigualdades raciais, racismo e políticas públicas: 120 anos após a abolição” e “As políticas públicas e a desigualdade racial no Brasil 120 anos após a abolição”.
A melhoria geral nas condições de vida da população, principalmente desde a redemocratização de 1985, foi acentuada na década de 2000.
A adoção do Estatuto da Igualdade Racial, em 2010, foi um passo importante, no ordenamento jurídico e institucional, na luta contra o racismo e suas mazelas, e consolidou a legislação antirracista. Logo em seu 1º artigo, o Estatuto da Igualdade Racial declara-se “destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica”. E define, no parágrafo único deste 1º artigo, como “discriminação racial ou étnico-racial: toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em igualdade de condições, de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada”. Considera desigualdade racial “toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades, nas esferas pública e privada, em virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica”. Define como “desigualdade de gênero e raça: assimetria existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais”. Reconhece como população negra o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pelo IBGE. Indica como “políticas públicas: as ações, iniciativas e programas adotados pelo Estado no cumprimento de suas atribuições institucionais”. E define como ações afirmativas “os programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades”. O estatuto determina ser “dever do Estado e da sociedade” garantir direitos iguais para todos. Declara que sua “diretriz político-jurídica” é a “inclusão das vítimas de desigualdade étnico-racial, a valorização da igualdade étnica e o fortalecimento da identidade nacional brasileira”. E, para a implantação dessas determinações legais, anunciou a criação do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Sinapir) e criou a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, com os objetivos de promover a “saúde integral da população negra”, combater a “discriminação nas instituições e serviços do SUS”, fomentar a “realização de estudos e pesquisas sobre racismo e saúde da população negra”; incluir o “conteúdo da saúde da população negra nos processos de formação e educação permanente dos trabalhadores da saúde” e nos “processos de formação política das lideranças de movimentos sociais para o exercício da participação e controle social no SUS”. O Estatuto reafirma a obrigatoriedade, no ensino fundamental e médio, do “estudo da história geral da África e da história da população negra no Brasil”, como manda a lei nº 9394, de 20/12/1996. Determina a adoção, pelo poder público, de “programas de ação afirmativa”, como “políticas de promoção da igualdade e de educação”. Determina a “preservação dos documentos e dos sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos”, tombados de acordo com a Constituição. Determina a “proteção da capoeira, em todas as suas modalidades, como bem de natureza imaterial e de formação da identidade cultural brasileira”, e a reconhece como “desporto de criação nacional”. Dizendo ser “inviolável a liberdade de consciência e de crença”, assegura o livre exercício dos cultos religiosos de matriz africana e garante “a proteção aos locais de culto e a suas liturgias”. Determina que aos “remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”, com apoio ao desenvolvimento dessas comunidades, “respeitando as tradições de proteção ambiental das comunidades”. Assegura o “direito à moradia adequada da população negra que vive em favelas, cortiços, áreas urbanas subutilizadas, degradadas ou em processo de degradação, a fim de reintegrá-las à dinâmica urbana e promover melhorias no ambiente e na qualidade de vida”. Prevê a “implementação de políticas voltadas para a inclusão da população negra no mercado de trabalho” pelo poder público, “inclusive mediante a implementação de medidas visando à promoção da igualdade nas contratações do setor público e o incentivo à adoção de medidas similares nas empresas e organizações privadas” (ver, no anexo, a íntegra do Estatuto).
A promulgação do Estatuto foi criticada pelos detratores das políticas afirmativas contra a desigualdade racial como ameaça de “racialização” do Brasil. Repetindo velhos argumentos racistas, aqueles detratores se esquecem que a divisão entre brasileiros de pele clara e pele escura é uma herança da escravidão e uma marca dela que sobrevive e precisa ser ultrapassada para soldar e eliminar o fosso social que há em nosso país.
O jornal “O Estado de S. Paulo”, por exemplo, publicou um editorial com um título significativo: “Poderia ter sido pior” (18 6 2010). Os críticos do Estatuto da Igualdade Racial o acusaram de dividir “racialmente” a sociedade brasileira, da mesma maneira como argumentavam, no passado, que a luta de classes seria “exótica” e estranha à sociedade brasileira. Acusam o Estatuto de promover a “racialização” do país e criar um “Estado racializado”.
A divisão baseada na cor da pele existe, mas não pelas razões que os conservadores alegam ao se referir à adoção de medidas contra o racismo. Ela decorre do passado escravista e da maneira como a Abolição foi feita no Brasil, controlada “pelo alto”, pela própria classe dominante de senhores de terras e escravos que detinha o poder sob o escravismo. A divisão entre os brasileiros é uma realidade objetiva, concreta, e seu reconhecimento é fundamental para corrigir esta fratura histórica e social, e consolidar a democracia. O argumento da racialização é uma falácia que não resiste sequer a um exame superficial. Na verdade, o que os setores conservadores e aqueles que partilham sua opinião temem não é a criação artificial de divisões entre os brasileiros. Temem o reconhecimento institucional da existência do racismo como a herança histórica da formação do Brasil que persiste em nossos dias e penaliza a parcela dos brasileiros que descende dos africanos escravizados que, têm na pele a marca dessa descendência. E constituem o setor mais oprimido da população.
As cotas raciais
Nos últimos anos, políticas de ação afirmativa – que incluem cotas para negros, pardos e indígenas nas universidades – vêm transformando a composição racial nas universidades. As reações a essa transformação indicam como o racismo influencia atitudes e repercute nas relações pessoais. “Somos todos formados a partir de uma lógica na qual a cor/raça importa, mas esta importância é naturalizada. O lento mas importante crescimento de ganhos em termos educacionais, políticos e econômicos da população negra deixa evidente o quanto ser branco, negro, mulato ou retinto faz diferença em diversas situações que vivemos cotidianamente”, destaca a historiadora Wlamyra Albuquerque, professora da UFBA e autora do livro “O jogo da dissimulação: abolição e cidadania negra no Brasil”.
O racismo se manifestou com força, e de forma explícita, desde 2003, após a adoção das políticas de cotas raciais, principalmente no ensino superior.
A discussão sobre cotas é antiga; já em 1968 técnicos do Ministério do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho propuseram uma lei que obrigasse as empresas privadas a contratar entre 10% a 20% de trabalhadores negros, com o objetivo de combater a discriminação racial no mercado de trabalho. A lei não foi aprovada, e o assunto só voltou à pauta em 1983, quando o deputado federal Abdias Nascimento, um militante antirracista histórico, propôs um projeto de lei de ação compensatória para os negros, com cotas de 20% no serviço público, bolsas de estudo, incentivos às empresas para a eliminação da discriminação racial, entre outras medidas. Novamente o projeto não foi aprovado.
A questão das cotas provocou um forte debate que ultrapassou os limites do movimento negro e envolveu amplos setores da sociedade, principalmente aqueles com acesso à universidade pública.
A primeira instituição a criar um sistema de cotas raciais foi a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em 2003. No mesmo ano o sistema foi estendido para as demais universidades públicas do Rio de Janeiro.
A Universidade Estadual da Bahia também adotou o sistema de cotas em 2003. Outra instituição acadêmica pioneira foi a Universidade de Brasília que, em 2004, estabeleceu um plano de metas para integração racial e étnica.
A Seppir informou, em 2015, que desde 2013, cerca de 150 mil estudantes negros tiveram acesso à universidade através das cotas. E avaliou positivamente os resultados que apresentaram. O debate se generalizou e passou a envolver a criação de cotas em empresas e órgãos públicos; desde fevereiro de 2003 a prefeitura de Piracicaba (SP) havia adotado cotas de 20% para negros em concursos públicos municipais.
A consequência foi uma gritaria generalizada contra o sistema de cotas, que representa um verdadeiro rombo no muro “racializado” que restringe aos brasileiros de pele escura o acesso ao ensino superior. Abriu a negros e mestiços espaços que antes eram dificultados e negados a eles, relegados ao lugar sancionado pela classe dominante e pelos costumes.
A criação das cotas raciais foi um passo importante, representado pela Lei nº 12.711/2012, que as tornou obrigatórias no ensino superior, e foi reafirmada pela Lei nº 12.990/2014, que criou cotas nos concursos públicos.
A resistência conservadora contra as cotas chegou a tentar judicializar a questão. Em 2008, o DEM (partido de direita, herdeiro direto da Arena, o partido dos generais de 1964, e do PFL, que a sucedeu) apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a ADIN (Ação Direta de Inconstitucionalidade) nº 186 para questionar a legitimidade das leis que criavam cotas no ensino superior.
Em 2012 em editorial, a “Folha de S. Paulo” batia na mesma tecla. Sob o título “Cotas raciais, um erro” (FSP, 27/04/2012), aquele editorial repetiu o mesmo argumento racista defendido pelo DEM na ADIN contra a adoção de cotas raciais pela Universidade de Brasília. O editorial repetiu a mesma alegação ultrapassada, segundo a qual o sistema de cotas impõe um “modelo de Estado racializado”, com o risco de “dividirmos o Brasil racialmente”. E a hipocrisia racista era a mesma: rejeitava as políticas compensatórias a favor dos negros alegando que as políticas compensatórias afrontariam o princípio constitucional de igualdade de todos perante a lei. Por isso acreditava que o STF deveria rejeitá-la, mas isso não ocorreu: a ADIN foi derrotada por 10 votos a zero, numa decisão democrática que honra aquela corte suprema. Baseavam sua argumentação alegando também a intensa miscigenação que houve no Brasil, processo que teria diluído as diferenças étnicas nas diferenças sociais, que separam os mais pobres dos mais afortunados.