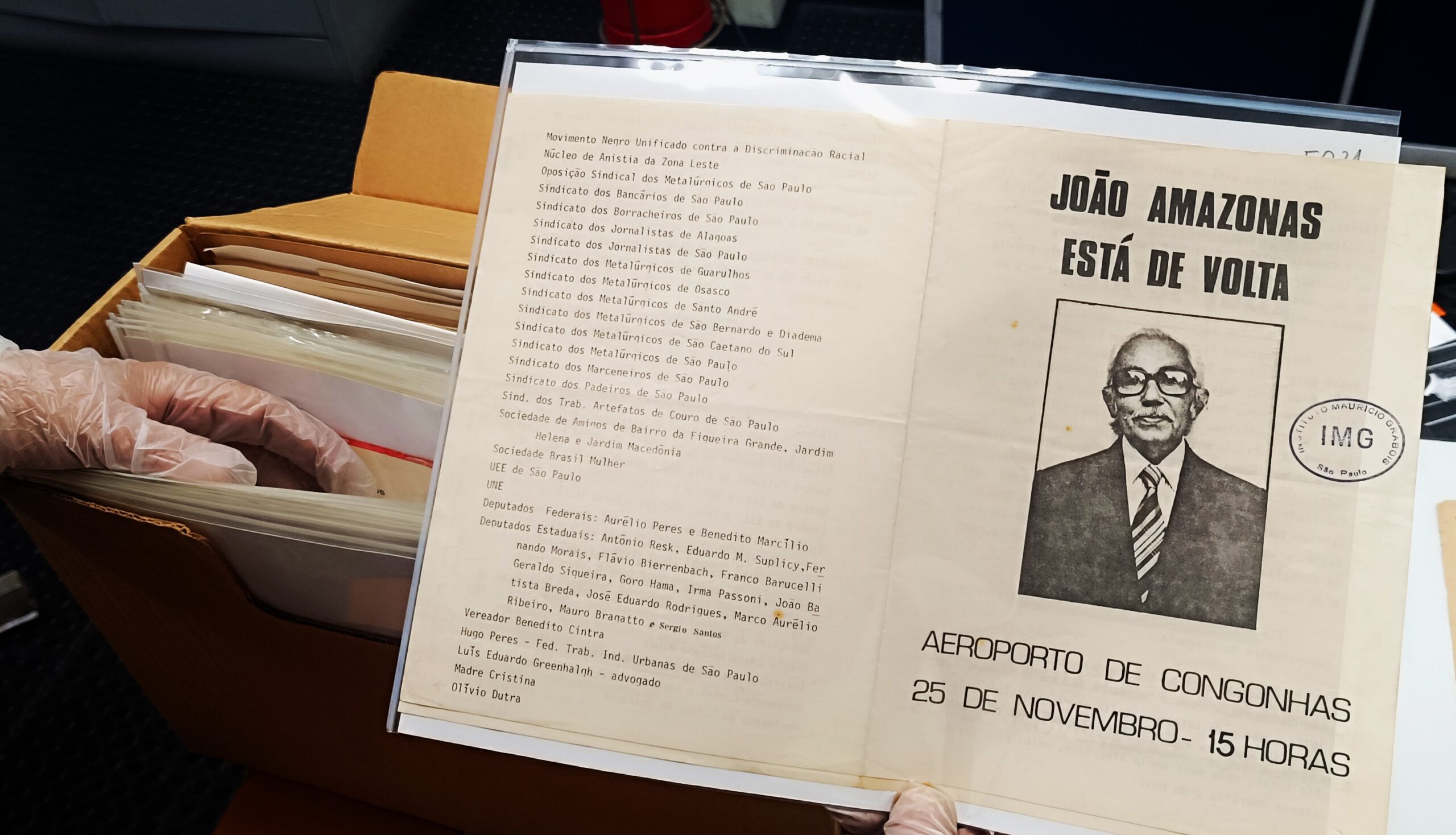Vivi na ilegalidade em 1924-1926, sempre pelejando. Em 1925, a pobreza era cada vez maior. Desempregado desde julho de 1924, tive de procurar trabalho, embora me arriscasse. Nada encontrei. Por intermédio de um operário, resolvi ser tecelão numa fábrica na zona de Alegria, no Rio de Janeiro. Ia começar a trabalhar como aprendiz. Mas na noite anterior, a Comissão Central Executiva do Partido Comunista do Brasil decidiu o contrário.
Tornei-me, então, o fundador e o diretor do jornal A Classe Operária. Mais uma obra de pioneiro, batedor, abridor de picadas.
O 1º número apareceu a 1º de maio de 1925. Foi uma das obras magníficas e memoráveis da história épica do povo brasileiro e do seu proletariado, o primeiro órgão de massas do Partido Comunista do Brasil.
A hora era solene e grandiosa. Na China, a 30 de maio de 1925, rebentou a greve geral em Shangai. Começou a revolução nacional-libertadora chinesa de 1925-1927. Os trabalhadores do Brasil apoiaram-na.
A Classe Operária tinha um título que já era um programa teórico e de ação. Acentuava a idéia central de classe. Determinava de que classe se tratava. Levava um subtítulo que era, também, um programa: “Jornal de trabalhadores, feito por trabalhadores, para trabalhadores”.
Ela prestava atenção às condições de vida dos trabalhadores, às suas reivindicações imediatas, ao movimento sindical, à situação internacional e à popularização da União Soviética socialista. Chamava as massas laboriosas aos combates e batalhas.
Em seu número 1, expus a plataforma do jornal e tracei vasto programa de ação.
Em seu nº. 7, formulei:
“O ideal literário de A Classe Operária é tornar-se um rio claro e profundo. Tão claro, tão límpido, tão acessível às massas. Tão profundo, tão substancial. Rio de águas revoltas a rolar para o grande oceano da transformação social …” .
Falava em transformação, porque, na hora, não podia falar em revolução.
Muito tempo depois, o órgão do PCB, Voz Operária, a 30 de abril de 1955, acentuou:
“Há 30 anos, tendo por base as idéias leninistas sobre a imprensa de partido, era fundada A Classe Operária, órgão central de combate do Partido Comunista do Brasil”. “Onde quer que aparecesse, A Classe Operária ajudava a levantar as lutas dos trabalhadores, levava a flama da esperança e a certeza da vitória, dava ao proletariado a consciência dos objetivos finais de sua grande luta”.
Deste modo, 30 anos depois, o órgão do PCB reconhecia a imensa importância do nosso jornal.
Em 1925, muita gente considerava a criação desse órgão uma obra impossível. Mas eu sorria e rebatia: — Veremos…
Na realidade, os obstáculos e as dificuldades eram enormes. A situação internacional, desfavorável. A situação nacional também. A reação campeava. O estado de sítio esmagava a Nação, durou, de fato, de julho de 1922 a dezembro de 1926. As prisões cheias. Os próprios jornais burgueses estavam sujeitos à censura da polícia. Prevíamos que os Correios iriam sabotar a distribuição. Os fatos provaram-no, depois. Por exemplo, enviamos ao Recife 200 exemplares do n.º 4, mas só foram recebidos 80. Petrópolis e Juiz de Fora não receberam o nº. 6.
Além de tudo isto, o fundador não tinha um real para iniciar o trabalho.
Em tais condições, como fazer um jornal legal, comunista, de massas, órgão de um partido ilegal? Por onde começar? Como travar a batalha e conquistar a vitória?
Tratava-se de um órgão revolucionário pelo conteúdo, e não pelas frases.
Como em tantas outras situações difíceis, comecei por buscar ensinamentos das páginas de Lênin. Reli o Que Fazer? o plano de um jornal político para toda a Rússia. Inspirei-me nessas páginas. Orientei-me por elas.
A linha de Lênin era: um jornal revolucionário deve ser escrito por alguns jornalistas na redação e por milhares de colaboradores fora da redação, nos locais de trabalho.
Meditei as palavras de Lênin. Tomei a iniciativa. Reuni grupos de operários. Discutimos fraternalmente: — Como aplicar a linha de Lênin de acordo com as condições concretas do Brasil?
Cerquei-me de camaradas ativos e devotados. Quais? Laura Brandão, a mulher incomparável. Júlio Kengen e Hermenegildo Figueira, operários tecelões. João Borges Mendes, tecelão, posteriormente metalúrgico. Dalla, Déa e José Alfredo dos Santos, gráficos. Carlos Silva, o Lúnin, gráfico, posteriormente ferroviário e, finalmente, estudante em Moscou. José Cazini, metalúrgico. Abelardo Nogueira, futuro empregado nos Correios, então desempregado. José Lago Molares, garçom. José Maria de Carvalho, trabalhador em padaria. Hersch Schechter, estudante.
Astrojildo Pereira foi o redator. Prestou serviços. Infelizmente, tornou-se comodista. Não deu ao jornal o esforço necessário.
Em toda essa luta, Laura, como sempre, foi de absoluta dedicação. Inspirou e animou o trabalho comum. Fez propaganda do jornal. Passou a limpo as canas dos correspondentes operários e camponeses — tarefa difícil. Velou pela vida, saúde e liberdade do esposo.
O estado de sítio continuava. A polícia estava preocupada com o Carnaval. Aproveitando o momento, em fevereiro de 1925, no Rio de Janeiro, na sede de um centro cultural israelita, num sobrado à rua Senador Euzébio, hoje Avenida Vargas, perto da Praça Onze, realizou-se ilegalmente a Conferência dos Delegados de Células e Núcleos (frações sindicais) comunistas do Rio de Janeiro e Niterói, em conjunto com a Comissão Central Executiva do PCB. Esta Conferência lançou os fundamentos da reorganização do PCB sobre a base de células.
Por decido da CCE, eu fora encarregado de fundar A Classe Operária. A propósito, escrevi e apresentei à Conferência um relatório especial em vista da fundação do Jornal O operário gráfico José Alfredo dos Santos, das oficinas de O Paiz, auxiliou-me na preparação desse relatório, que foi aprovado por unanimidade.
Registramos o jornal de acordo com a lei vigente. Nossos advogados, drs. Roberto Lyra e Carlos Sussekind de Mendonça foram recebidos em audiência especial pelo ministro da Justiça do governo Bernardes, Afonso Pena Júnior. Sondaram o ambiente. O ministro encarregou-os de fazer a censura, o que eles nunca fizeram. Permitiu, pois, o aparecimento do jornal sem censura prévia, oficial, policial — a única exceção na época. Mas exigiu que só tratasse de questões “operárias”.
A redação legal ficava numa saleta à rua Marechal Floriano 172, 1.º andar, junto à sede da Light. Eu diria, sorrindo:—- São as duas potências mundiais, vizinhas: a classe operária e o imperialismo norte-americano!
Mas não confiávamos na “legalidade”. Todo o trabalho era feito em outros locais. A redação era apenas a fachada.
O diretor legal, oficial, mas não de fato, era o camarada Alcides Adett Brazil de Matos, alfaiate cearense, fisicamente, parecia um chinês. Limitava-se a dar o nome. No jornal, aparecia oficialmente assim: A. A. Brazil de Matos. Mas ele só era conhecido por Alcides Adett. A polícia procurou o célebre Brazil de Matos. Nunca o encontrou, embora ele morasse à rua dos Inválidos, pertinho da Policia Central. Mesmo que descobrisse a habitação de Alcides, perderia o esforço. Pouco depois do aparecimento do jornal, um incêndio casual destruiu o quarto que Alcides ocupava e todos os seus objetos. Restaram apenas cinzas e nenhum vestígio.
Os trabalhadores que conheciam o segredo, foram de uma fidelidade absoluta. Alcides Adett passeava tranquilamente pelas ruas do Rio de Janeiro. Nunca foi descoberto.
Em março-abril de 1925, dirigi a campanha de propaganda em prol de A Classe Operária. Lancei um manifesto aos trabalhadores das cidades e dos campos em vista da criação de um “jornal de massas”. Então, predominava um ambiente de inércia, apatia e pessimismo. Era um fruto das derrotas dos movimentos de 1917-1920, dos estados de sitio e da reação desencadeada pelas duas classes dominantes, sustentadas pelos capitalistas estrangeiros. Concentrei o fogo contra a inércia, a apatia e o pessimismo.
Editei e organizei a distribuição de dezenas de milhares de manifestos e folhas volantes. Foram distribuídos, um por um, A tarde, na rua Marechal Floriano (a rua Larga), no seio da massa trabalhadora que passava para tomar os trens dos subúrbios. Organizei uma rede de Comitês de A Classe Operária. Montei a máquina ilegal, clandestina, subterrânea de propagandistas e pacoteiros nas fábricas e oficinas. Escrevi aos amigos e camaradas nos Estados. Em nome do jornal, lancei a palavra de ordem: “A luta contra o capital precisa de capital!”
Tudo isto teve muita repercussão.
A fim de sustentar o jornal, grupos de operários decidiram dar-lhe um dia de trabalho mensal. Assim fizeram os trabalhadores da padaria e confeitaria Boa Vista, no Rio de Janeiro. O sindicato União dos Empregados em Padarias do Rio resolveu auxiliar o jornal com 50 mil réis mensais. A Aliança dos Operários Metalúrgicos de Niterói aclamou A Classe Operária como órgão oficial e aprovou um auxilio de 10 por cento das mensalidades.
Os trabalhadores tomaram iniciativas. Realizaram um ato no cinema Talia, em Porto Alegre, que produziu uma receita de 619 mil réis e um saldo de 90 mil réis para o jornal.
Numa das manhãs de abril de 1925, chamei o jovem Abelardo Guedes Nogueira, amigo sincero, camarada devotado, filho de Alagoas. Fomos à fábrica de tecidos Aurora, no bairro de Real Grandeza. Chegamos cedo demais. Dirigimo-nos ao cemitério vizinho, de São João Batista. Detivemo-nos diante de um túmulo. Lemos a inscrição: — Euclides da Cunha. Evoquei a memória de Euclides nesse momento solene.
Voltamos à fábrica Aurora. Era a hora do almoço. Ao lado de Abelardo e do operário Júlio Kengen, numa elevação do terreno, à sombra de uma paineira em flor, realizei o primeiro comício em prol do jornal. Falei aos operários e às operárias sobre a significação, a importância e as tarefas de A Classe Operária. Fiz um apelo para que os trabalhadores a auxiliassem financeiramente. Em resposta, a totalidade dos operários e operárias da fábrica, no meio de grande entusiasmo, sob a liderança de Júlio Kengen, assinou quantias diversas na lista de subscrição. Esta atitude unânime teve grande significação política e moral. Foi amplamente divulgada pelos propagandistas.
O operário tecelão Sebastião Ojeda foi anarquista. Rompeu comigo todas as relações, quando aderi ao PCB, em 1922. Mas em 1925, tornou-se entusiasta do jornal. Reconciliou-se comigo. Foi incluído no Quadro de Honra de A Classe Operária, como grande propagandista. O padeiro José Maria de Carvalho, também.
Constava na época que as maiores fábricas de tecidos do Rio de Janeiro eram as seguintes: Cotonifício Gávea, com 700 operários; Botafogo, 1.000; Sapopemba (linho), 1.000; Moinho Inglês 1.100; Corcovado, na Gávea, 1.600; MaviIes, 1.600; Carioca, na Gávea, 1.800; Confiança, em Vila Isabel, 1.900; Aliança, nas Laranjeiras, 2.000; Cruzeiro, 2.800; Progresso Industrial, em Bangu, 3.000.
A Classe Operária foi penetrando, pouco a pouco, em todas elas. Penetrando também em outras fábricas de tecidos: Minerva, Covilhã, Bom Pastor e Manchester.
A Gávea recebia 120 exemplares. Juiz de Fora, 100. A cidade de São Paulo, 500.
No Rio de Janeiro, o jornal era divulgado nas fábricas de tecidos, nas empresas do bairro de Real Grandeza, no Cais do Porto, entre os gráficos e marceneiros, marítimos e ferroviários, motoristas e trabalhadores da Light, nos sindicatos e bairros operários. Cada exemplar era lido por muitos trabalhadores. Passava de mão em mão, até ficar completamente roto, ilegível.
Os operários que não podiam pagar, recebiam-no de graça.
Representantes do jornal tomavam a palavra e eram apoiados nas assembléias dos sindicatos como a Associação dos Carpinteiros Navais, a Associação dos Cocheiros e Carroceiros do Rio de Janeiro e a Liga Operária da Construção Civil de Niterói.
A Classe Operária exercia influência cada vez maior. Realizava um trabalho de educação e organização, agitação e propaganda. As células do PCB aumentavam. Os movimentos nas fábricas e oficinas vivificavam-se. Os sindicatos reforçavam-se. Os operários têxteis do Rio de Janeiro, os gráficos de São Paulo, os trabalhadores das fábricas de fumo de São Félix, Cachoeira e Muritiba, na Bahia, agitavam-se. Rebentavam greves parciais, apoiadas pelo jornal.
Os trabalhadores em geral e os operários em particular criaram Comitês de A Classe Operária nos locais de trabalho. Os primeiros Comitês foram os seguintes: nas oficinas da “Gazeta Teatral”; nas do jornal O Paiz; nas fábricas de tecidos Minerva e do Moinho Inglês; entre os operários das estradas de ferro Rio d’Ouro e Linha Auxiliar, no Rio de Janeiro entre os operários de Niterói; em Maceió; no Recife.
Muitos Comitês de A Classe Operária transformaram-se, depois, em células do PCB e grupos de organização de sindicatos.
O número de pacoteiros, assinantes e subscritores foi sempre em ascensão.
Quatro operários de São Paulo escreveram no nº. 6:
“Este é bem o jornal que nos faltava. Não calculam os companheiros que estão à frente de A Classe Operária a nossa imensa satisfação pelo aparecimento dum órgão nosso, tão bem feito, com linguagem tão clara e tão sincera, que fala tão valentemente a verdade em favor da nossa classe”.
A Classe Operária bateu-se pela unidade nacional brasileira e pela unidade do proletariado. Penetrou em todo o país: no seio dos operários do Rio de Janeiro e São Paulo; na Amazônia; no litoral e no interior do Nordeste; entre os trabalhadores das fábricas de fumo da Bahia; no Rio Grande do Sul; em Mato Grosso.
Na Bahia, em São Félix, Muritiba e zonas vizinhas, os operários Rufino Gonçalves e Amaro Pedro da Silva fizeram muita propaganda entre os trabalhadores.
O jornal orientou-se no sentido da aliança do proletariado com os camponeses. Começou a mergulhar entre os trabalhadores rurais. Publicou cartas e reportagens enviadas pelos camponeses de São Paulo. Publicou uma reportagem interessante, vinda de Manaus, sobre a vida dos seringueiros da Amazônia (n.º 6). Foram surgindo Ligas Camponesas, que formulavam as reivindicações especificas.
Em 1925-1929, a Liga Operária de Sertãozinho, Estado de São Paulo, recebeu a impulsão de A Classe Operária e, posteriormente, do Bloco Operário e Camponês. Dirigida pelo devotado camarada Teotônio de Souza Lima, penetrou em muitas fazendas de café. Organizou marchas de camponeses que vieram às cidades confraternizar com os operários, dirigidos pelo PCB. Eram fatos da maior significação política e totalmente novos na História do Brasil. Deste modo, Teotônio fez uma obra admirável de pioneiro.
Desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul, os trabalhadores passaram a escrever ao jornal. Suas cartas e denúncias políticas foram publicadas. Sobre esta base, surgiu toda uma rede de Correspondentes Operários e Camponeses. Seus materiais apareciam sistematicamente numa secção especial. Era a realização da linha de Lênin no Brasil.
Mais de 20 anos depois, a 16 de março de 1946, o jornal A Classe Operária, na vida legal, acentuou:
“E realmente, era de braços abertos que Octavio Brandão recebia as cartas dos operários, do Rio, de Campos, de São Paulo e Santos, de Muritiba e São Félix, de Juiz de Fora, de qualquer lugar de onde as enviasse um trabalhador. Dedicava-lhes horas seguidas, com meticulosidade, revendo-as, tornando-as publicáveis. Eram os seus ‘500 redatores’ funcionando”.
Assim, pois, mais de 20 anos depois, a verdade foi reconhecida.
Além da secção dos Correspondentes Operários e Camponeses, o jornal publicava reportagens e artigos especiais a respeito do seguinte: as condições de trabalho nas fábricas e oficinas; assuntos políticos palpitantes; o movimento sindical; os acontecimentos internacionais; materiais de conteúdo literário; narrativas da vida dos trabalhadores; episódios da História do Brasil.
A diretiva de Lênin realizava-se no Brasil. O jornal era feito pelos próprios homens do povo. Assim, o nº. 5 foi escrito por mais de 24 trabalhadores. Entre eles, 4 operários gráficos, 3 tecelões, 2 marítimos, 2 tintureiros, 3 empregados no comércio e 1 camponês.
O nº. 6 foi escrito por 37 trabalhadores do Brasil. Entre eles, 5 gráficos, 4 alfaiates, 3 tecelões, 3 operários da construção civil, 2 marítimos, 2 metalúrgicos, 3 garçons, 2 operários em fábricas de fumo, 2 padeiros e 2 marceneiros — ver a prova no n.º 7.
O n.º 8 foi escrito por 36 trabalhadores. Entre eles 5 gráficos, 5 metalúrgicos, 2 marítimos, 2 tecelões, 2 operários da construção civil, 2 garçons, 2 alfaiates e 4 empregados no comércio — ver a prova no n.º 9.
O jornal apareceu em pequeno formato no n.º 1. Mas deu, logo, um salto no nº 2. Mudou totalmente de formato. Passou a ser composto e impresso nas oficinas excelentes de O Paiz:, com o apoio caloroso de seus operários, especialmente dos bons camaradas Dalla Déa e José Alfredo dos Santos.
No Rio de Janeiro, o jornal aparecia nas bancas, legalmente. Ai chegou a vender 1.142 exemplares do nº. 4, 1.420 do nº. 9, 1.454 do n.º 10 e 1.734 do n.º 12. Sempre em ascensão.
Mas a grande maioria dos exemplares era distribuída pelos pacoteiros diretamente nas empresas. Cada sábado, pela madrugada, eu ficava à porta das oficinas de O Paiz, à rua 7 de Setembro, esquina da Avenida Rio Branco. Chegavam dezenas de pacoteiros. Cada um recebia sua pane e levava-a diretamente às fábricas e oficinas.
Estabelecemos a emulação. Os que mais vendiam, recebiam prêmios em livros. Entre os premiados, destacaram-se os tecelões Júlio Kengen e Hermenegildo Figueira, e o padeiro José Maria de Carvalho.
Houve casos como o do tecelão João Borges Mendes. Era o pacoteiro do Moinho Inglês. Levava semanalmente 150 exemplares até o n.º 12. Mas pediu 300 exemplares do nº 13.
A tiragem aumentou sempre: 5 mil exemplares do nº 1, 9.500 do nº 9, 10-11.000 dos números seguintes. São Paulo ia ser conquistado sistematicamente. O plano era tirar 20 mil exemplares. Tínhamos condições para cumpri-lo. Então, o governo, preocupado, com medo, fechou o jornal.
Com a tiragem inicial de 5 mil, cada exemplar custava 160 réis e era, vendido por 100 réis. O déficit tinha de ser coberto pelos próprios trabalhadores. Com a tiragem posterior de 11 mil, cada exemplar custava apenas 100 réis. Mas com uma tiragem de 20 mil, cada exemplar custaria apenas 70 réis. Tudo isto foi explicado aos trabalhadores. Suscitou muito entusiasmo pelo plano.
Cada semana, era publicado o balancete, prestando contas minuciosas de toda a receita e despesa. Aumentavam os assinantes e as listas de subscrição. O defiti, coberto. O saldo, crescendo.
A batalha foi tensa e intensa. Fiz toda uma série de trabalhos de pioneiro, batedor, abridor de picadas.
O perigo era grande. Eu vivia ilegal, clandestino, desde 5 de julho de 1924. Vesti uma blusa de zuarte, o que era comum entre os trabalhadores da época. Disfarcei-me, a fim de escapar à vigilância da polícia, à prisão e à deportação para a Clevelândia. Comecei a trabalhar. Durante anos, muitos operários viram-me disfarçado. Mas guardaram sempre o mais completo sigilo e fidelidade ao amigo.
À tarde de 30 de abril de 1925, o 1º número do jornal estava composto numa tipografia da rua Frei Caneca, perto da rua Riachuelo. Mas a máquina de impressão se quebrou na hora necessária. Assim, à meia-noite, saí pelo mundo, à procura de outra tipografia. Encontrei-a à rua Luiz de Camôes. Não dormi. Trabalhei 26 horas sem interrupção. Mas, na manhã de 1º de maio de 1925, A Classe Operária estava impressa em pequeno formato, com 4 páginas. À tarde, foi distribuída amplamente no comício da Praça Mauá e acolhida carinhosamente pelos trabalhadores.
Os operários da célula comunista de O Paiz solicitaram à direção que A Classe Operária fosse composta e impressa nas oficinas desse jornal governista. Foram atendidos. O governo, em luta com os revoltosos, não queria complicações com os operários. Temia-os. E o nosso jornal melhorou muito, já no nº 2.
Eu recebia o salário de 250 mil réis por mês, para quatro pessoas, véspera de cinco.
O esforço, exaustivo. Levantava-me cedo. Trabalhava até meia-noite, uma e meia da madrugada.
A princípio, por causa da pobreza do jornal e por falta de gente para servir gratuitamente, tive de acumular os cargos e as tarefas. Fui diretor, redator, administrador, caixa, paginador, pacoteiro e expedidor de A Classe Operária. Depois, apareceram auxiliares gratuitos. Mas o trabalho aumentava sempre.
Eu fazia tarefas múltiplas. Multiplicava-me. Fazia o balancete. Escrevia artigos. Ia às fábricas e oficinas. Combinava a colaboração com os outros camaradas. Dedicava atenção especial às cartas e aos artigos dos trabalhadores. Passava-os a limpo, respeitando rigorosamente os originais. Punha em ordem os materiais. Ia à tipografia. Atendia aos pacoteiros. Distribuía o jornal.
Publiquei em A Classe Operária artigos e reportagens, notas e comentários. Expliquei as características do imperialismo, recorrendo aos pseudônimos de Krieg e Karl Krieg (ns. 6 e 10).
Fui às fábricas e oficinas do Rio de Janeiro. Aí colhi diretamente materiais concretos. Sobre esta base, publiquei reportagens a respeito das condições de vida e trabalho. Formulei ás reivindicações imediatas, indicadas pelos próprios trabalhadores. Chamei-os à luta, especialmente tecelões, marítimos, ferroviários, padeiros, trabalhadores da fábrica de cigarro Souza Cruz, do Moinho Inglês, da Light, dos estaleiros das ilhas de Niterói. Escrevi no nº 5 a respeito das sobrevivências feudais do Nordeste. Inseri uma narrativa sobre “A Vida de um Metalúrgico”. Desmascarei a 2ª Internacional e Albert Thomas. Ataquei a estreiteza corporativista, empregando o pseudônimo de Manoel Braúna. Exaltei episódios da História do Brasil como o Quilombo dos Palmares e a bravura do Zumbi. Glorifiquei a luta de Espártaco, no nº 10, com o Pseudônimo de João Garroeira.
Carreguei aos ombros pacotes enormes do jornal. Distribuí-os à porta das empresas industriais do Rio de Janeiro. Escrevi inúmeras cartas aos amigos e simpatizantes nos Estados, desde o Amazonas e o Pará até o Rio Grande do Sul e Mato Grosso, Enviei-lhes prospectos, folhetos e jornais.
A Classe Operária ia dar um salto. O desenvolvimento histórico não se faz por linhas retas, rígidas, uniformes. A perspectiva era de uma tiragem cada vez maior. Tínhamos economias para comprar papel para 100 mil exemplares.
Nesta hora, chegou Albert Thomas ao Brasil. Os jornais das classes dominantes diziam: – “É um grande socialista”. Na realidade, era um social-reformista, instrumento da burguesia. Veio continuar em nosso país sua obra de traição: montar no movimento sindical uma agência do Birô Internacional do Trabalho e do oportunismo internacional.
A própria base do PCB não sabia quem eram Albert Thomas e seu Birô. Na massa operária, havia ilusões. Os sindicatos dos transportes, como o dos estivadores, dirigidos por amarelos e policiais, abriram as portas a esse traidor.
Que fazer? Se atacarmos Albert Thomas, o governo possivelmente fechará o jornal. Se silenciarmos, o reformismo se reforçará. Decidimos arriscar. No pior dos casos, cairíamos de pé, lutando. Abriríamos a perspectiva de uma vitória futura.
Saiu o nº. 12 de A Classe Operária, a 18 de julho de 1925. Desmascarou mplacavelmente o reformismo, os pretensos “socialistas”, a 2ª Internacional, o Birô Internacional do Trabalho, de Genebra, e seu chefe Albert Thomas.
O ministro da Justiça, Alonso Pena Júnior, fechou imediatamente A Classe Operária. Deste modo, os agentes da burguesia e da 2ª Internacional eram protegidos pela reação semi-feudal e semi-burguesa do Brasil, a serviço do imperialismo.
Eu estava na tipografia de O Paiz., paginando o n.º 13 do jornal. Subitamente, fui agarrado e empurrado pelos operários e afastado do local. A matilha de policiais invadiu a tipografia e deu a ordem de proibição do jornal. Os policiais agarraram o chumbo de toda a composição e meteram-no nas caldeiras das linotipos.
Escapei por um triz. Fiquei escondido numa passagem, atrás de uma porta. Assim, mais uma vez, livrei-me de ser preso e deportado para a Clevelândia. A vigilância e a fidelidade dos operários salvaram o amigo.
O pretexto para o fechamento foi a campanha contra Albert Thomas. Este partiu. A redação de A Classe Operária enviou-lhe a bordo do navio “Lutecia” o radiograma: “Podeis agradecer governo beneficio interdição jornal operário”.
Depois de uma luta épica, cheia de nobreza e grandeza, A Classe Operária foi, pois, fechada pelo ministro da “Justiça” do governo Bernardes: Afonso Pena Júnior.
Os advogados drs. Roberto Lyra e Carlos Sussekind de Mendonça foram ao ministro. Em nome de A Classe Operária, solicitaram-lhe a nomeação de um censor oficial. O ministro recusou. Os advogados propuseram-lhe, então, que a censura oficial cortasse o que quisesse, contanto que o jornal continuasse a aparecer.
Afonso Pena Júnior respondeu:
“Impossível! Li com atenção todo o jornal, sua linguagem é a mais calma e a censura nada tem a cortar. Mas o que há de terrível é o espírito do jornal. Não poderá reaparecer!”
Afonso Pena Júnior era um politiqueiro de Minas Gerais, ligado aos latifundiários, à burguesia e à clericalha. Ocupou o cargo policial de secretário do Interior de Minas. Foi consultor “jurídico” do Banco do Brasil, muito bem pago. Tornou-se ministro da “Justiça” do governo Bernardes. Deste modo, pactuou com todos os crimes desse governicho. Depois, mascarou-se de “liberal” e “revolucionário”. Foi líder da Aliança Liberal e da pretensa “revolução” de 1930.
Era um subliterato. Entrou para a Academia Brasileira de Letras em 1947. Aí, este reacionário ocupou o lugar de dois intelectuais avançados e progressistas. Sua cadeira tinha como patrono Castro Alves. Teve como ocupante Euclides da Cunha. Que decadência! Se Castro Alves e Euclides da Cunha estivessem vivos sob o governo Bernardes com o ministro Afonso Pena Júnior, não escapariam à cadeia e a Clevelândia!
O fechamento de A Classe Operária repercutiu em todo o país. Suscitou inúmeros protestos ao ministro da “Justiça” — cartas, mensagens, telegramas e abaixo-assinados como os dos operários e operárias das fábricas de fumo de São Félix, Cachoeira e Muritiba, na Bahia, com centenas de assinaturas. Esses protestos foram divulgados numa publicação especial.
O PCB fez várias tentativas para fazer reaparecer o jornal. Em vão. No Rio de Janeiro, nenhuma tipografia aceitou publicá-lo ilegalmente. Em São Paulo, havia muita perseguição. O estado de sítio, um fato. A censura policial sobre os jornais impediu a publicação de quaisquer noticias a respeito do fechamento. As dificuldades políticas e técnicas foram insuperáveis.
De qualquer forma. A Classe Operária editou um totaI de 98.613 exemplares. Gastou 14 contos e 588 mil réis, dinheiro dado pelos trabalhadores, tostão por tostão.
O PCB era uma vanguarda que travava uma luta terrivelmente desigual contra imensas forças coligadas. Apesar de tudo, continuou a batalha. Lançou manifestos, panfletos, boletins, jornais avulsos. O fogo ficou sempre aceso. O proletariado perdeu seu órgão. Mas não o esqueceu. Finalmente, a 1º de maio de 1928, A Classe Operária reapareceu, numa ascensão ainda maior!
Em Juiz de Fora
Por decisão da Comissão Central Executiva do PCB, parti para Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, em agosto de 1925, a fim de fazer ressuscitar A Classe Operária.
No Rio de Janeiro, no casebre da rua do Curvelo, num ambiente de pobreza, nasceu minha terceira filha, Dionisa. Era uma criança graciosa. Seu nome evocava o dionisismo do Veda do Mundo Novo — a alegria, a expansão, o inebriamento com a Vida. A criança recebeu esse nome em homenagem aos poetas e pensadores da Grécia Clássica: Homero, Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Heráclito, Demócrito e Epicuro.
A existência dos pais tornava-se cada vez mais difícil.
A pequena Dionisa tinha apenas 19 dias de vida, quando parti, cheio de saudades de Laura e das três crianças. Quando voltaria? Tudo incerto.
Cheguei a Juiz de Fora, doente, magro, anêmico. Sofria as conseqüências da batalha tensa e intensa pelo jornal A Classe Operária. Tinha tosse contínua e esgotamento geral. Parecia um tuberculoso. Depois, com o clima de Minas Gerais, melhorei.
Continuei na vida clandestina, subterrânea. Disfarcei-me com a roupa de zuarte. Recorri a outros disfarces. Adotei o nome de Antônio Correia, o avô paterno, o velho camponês pobre. Encontrei apoio nos camaradas José Marcílio, empregado no comércio, e João Sálvi, operário da construção civil. Cerquei-me de outros operários.
Fui à federação sindical local. Falei com os diretores. Os amarelos, isto é, os pelegos da época, líderes sindicais reformistas, opuseram-se decididamente. Em meio de perigos, sujeito a ser denunciado e entregue à polícia, compareci à reunião da diretoria. Aí travei duro e longo combate, numa discussão cerrada. Derrotei os amarelos. A sede da federação ficou sendo a redação oficial de A Classe Operária. Era uma vitória política e moral.
Estive em cerca de 30 tipografias. Numas, os donos tinham medo. Noutras, as dificuldades técnicas eram insuperáveis. As informações a respeito de outras cidades de Minas, eram péssimas. Assim, todos os esforços foram inúteis. A Classe Operária não pôde reaparecer no momento.
Por decisão da CCE do PCB, fiquei um mês em Juiz de Fora. Organizei um curso para tecelões e operários da construção civil, sobre o imperialismo e sua penetração no Brasil, o trabalho nos sindicatos e o papel do PCB.
Entre os alunos, um operário da construção civil, negro, não perdia uma palavra. Seus olhos fuzilavam de indignação contra os crimes do imperialismo. Posteriormente, penetrou em lugares longínquos de Minas Gerais. Escreveu-me carinhosamente, pedindo materiais de propaganda. Enviei-os imediatamente, com votos calorosos de bom êxito.
Mas o nível cultural era baixo, mesmo numa cidade industrial como Juiz de Fora. Uma tecelã da fábrica Santa Cruz leu três vezes o Abecedário dos Trabalhadores e o Abre teus Olhos, Trabalhador! Não os compreendeu.
Tomei iniciativas. Reuni um grupo de camaradas. Entre eles, João Sálvi e José Marcílio. Falei-lhes longamente sobre Lênin. Fizemos caminhadas para visitar trabalhadores em seus casebres e palestrar com eles. Fomos às oficinas metalúrgicas. Estivemos nas fábricas de tecidos de Juiz de Fora: Companhia Fiação e Tecelagem Morais Sarmento, Fiação e Tecelagem Santa Cruz, Bernardo Mascarenhas, Companhia Industrial Mineira em Mariano Procópio e outras. Nelas, distribuímos A Classe Operária, folhetos e manifestos. Invadimos os trens cheios de congonheiros — os trabalhadores rurais que iam em peregrinação ao santuário de Congonhas. Distribuímos entre eles materiais de propaganda.
Tracei um plano. Dividi os arredores de Juiz de Fora em várias zonas. Cada domingo, um grupo de operários deveria recorrer uma delas, para fazer propaganda e organização no seio dos trabalhadores rurais e defender suas reivindicações imediatas.
Neste sentido, com um grupo de operários, dei o primeiro passo para realizar o plano. Mais um trabalho de pioneiro. Penetramos numa fazenda de café da estação de Retiro, perto de Juiz de Fora. Fomos até a extrema da fazenda, sem dizer nada, como simples visitantes. Ao voltarmos, começamos o trabalho. Falamos aos colonos e jornaleiros ambulantes (assalariados rurais temporários). Distribuímos jornais, folhetos e manifestos entre eles. Chamamo-los à organização e à luta por melhores condições de vida e trabalho.
Dentro dessa fazenda, A porta de uma vendinha, fizemos um comício. Aí falei aos trabalhadores rurais sobre sua miséria e opressão, o PCB e o fechamento de A Classe Operária. Nesse comício, como em outros locais e ocasiões, os trabalhadores assinaram um protesto contra o fechamento do jornal. Muitas assinaturas, feitas “a rogo”, eram de pessoas analfabetas. Enviei os protestos ao ministro Afonso Pena Júnior. O presidente Bernardes e Afonso Pena não devem ter gostado ao ver que o PCB penetrava no interior de Minas Gerais.
Assim, mais uma vez, fiz um trabalho de abridor de picadas. Tomei parte ativa em fatos novos na História do Brasil: um curso para os operários do interior; a agitação e propaganda à porta das fábricas e oficinas de Minas Gerais; a distribuição de materiais entre os peregrinos de Congonhas; o envio de grupos de comando, formados por operários das cidades, que foram fazer propaganda entre os trabalhadores rurais; a realização de um comício dentro de uma fazenda de café, em nome do PCB; trabalhadores rurais assinarem um protesto dirigido ao ministro da “Justiça”, contra o fechamento de A Classe Operária.
De Volta ao Rio
Voltei à cidade do Rio Janeiro. Reli e meditei, no livro de Lênin – Que Fazer? as páginas sobre os revolucionários profissionais.
O meu jovem amigo e camarada Abelardo Nogueira conhecia o chefe do positivismo no Brasil, Teixeira Mendes. Ofereceu-lhe uma coleção de A Classe Operária, a meu pedido. O velho recusou categoricamente: “Não leio. É metafísica”.
Abelardo insistiu. Mostrou-lhe com delicadeza que se tratava de um jornal cheio de fatos concretos da vida dos trabalhadores e nada tinha de metafísica. Mas o velho ficou irredutível e repetia a mesma cousa.
Abelardo, triste, decepcionado, contou-me o que se dera. Consolei o amigo. Acentuei:
“Teixeira Mendes é um velho fóssil, múmia de faraó, voltado para as velharias. O positivismo nada vale. É a ‘doutrina’ de uma seita burguesa, perdida no passado morto. Só fala em ‘metafísica’ e nada entende de dialética!”
Nesse tempo, precisava recomeçar o trabalho entre os operários tecelões do Moinho Inglês. Mas a fábrica era vigiada pelos espiões e agentes da polícia. Além disto, eu tinha perdido a ligação com o operário João Borges Mendes. Que fazer? Como fazer?
Disfarcei-me, a fim de não ser reconhecido e preso. À tarde, na hora da saída, sentei-me numa pedra a certa distância da porta da fábrica. Os operários foram saindo. Olhei centenas, um por um, com atenção e paciência. No final, vi João Borges Mendes. Aproximei-me. Ele não me reconheceu. Ficou perplexo. Dei-me a conhecer. Abracei-o. E recomeçamos as tarefas.
Várias vezes, os próprios amigos íntimos não me reconheciam. Em geral, evitava falar-lhes, na rua. Poderiam estar sendo seguidos pela polícia.
Uma vez, encontrei o camarada João Lopes, operário metalúrgico. Precisava falar-lhe. Olhei em torno. Nada vi de suspeito. Ele me olhou. Não me reconheceu. Perguntou-me desconfiado: – “Que deseja o Sr.?” Olhei-o e disse-lhe sorrindo: – “Que vergonha, João Lopes! Já não conhece mais o amigo !” Ficou admirado. Reconheceu-me pela voz.
De 1925 a 1931, auxiliado por grupos de operários, fiz tarefas variadas. Contribui para a criação de células do PCB nas empresas industriais do Rio de Janeiro e Niterói. Carreguei aos ombros pesados pacotes de A Classe Operária e os distribuí nessas empresas. Espalhei folhas volantes. Grudei cartazes e manifestos, com Paulo de Lacerda, nos muros e paredes, desde a estação da Estrada de Ferro Central do Brasil até a Praça da Bandeira. Risquei a giz e a tinta, palavras de ordem contra a guerra e o imperialismo, nos muros e casas, noite alta, nos bairros da Saúde e Gamboa.
Dediquei esforços a Niterói. Percorri seus bairros operários, na companhia de grupos de trabalhadores. Fiz, neles, agitação e propaganda. Falei em comícios no Barreto, no Maruim e na Ponta da Areia. Distribuí jornais e manifestos entre os trabalhadores do Barreto, das Neves, da Ponta da Areia, do dique e das ilhas. Penetrei duas vezes no feudo da ilha do Viana, com Abelardo Nogueira.
Enviei cartas e manifestos aos comunistas e simpatizantes na maioria dos Estados do Brasil.
Octávio Brandão, texto extraído de Combates e Batalhas: memórias volume 1. São Paulo: Alfa-Ômega, 1978. (pag. 301 a 318)


![Edição nº 1 da Segunda Fase do jornal A Classe Operária, de 1º de maio de 1928 [CDM]](https://grabois.org.br/wp-content/uploads/2021/11/foto_galeria_36_176.jpg)