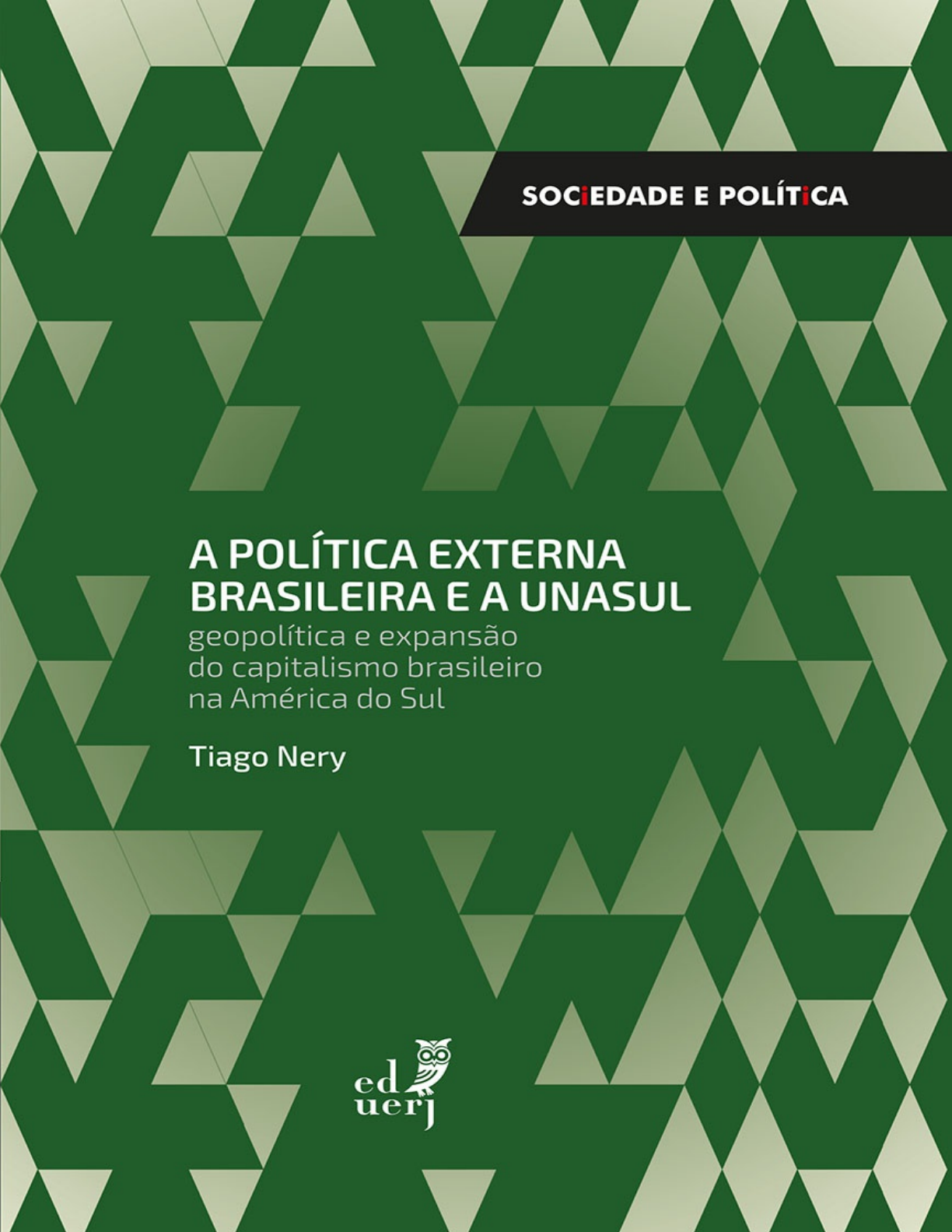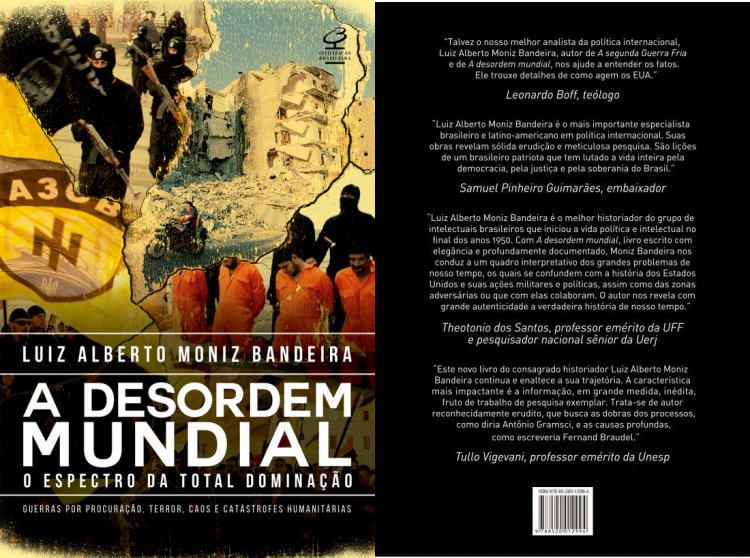Advogada, militante, coordenadora do SOS Racismo da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e sócia da Boogie Naipe, produtora responsável pelos Racionais MC’s, Eliane Dias diz que sabe fazer duas coisas: “Tem gente que nasce para ser rei, rainha, ser a porra toda. Eu não. Nasci para cuidar e observar o ser humano”. Aprendeu a observação aos oito anos de idade, no momento em que também se descobriu negra. “A professora passou os olhos rapidamente pelo meu caderno, e logo virou para a minha irmã, de pele mais clara e cabelo mais liso que o meu. Parou e apontou erros, ensinou com carinho. Observei a atitude dela e refleti. Nunca mais parei.” Moradora do Campo Limpo, periferia sul de São Paulo, é casada há quase trinta anos com Pedro Paulo Soares Pereira, famoso como Mano Brown, com quem tem dois filhos, Jorge, de vinte anos, e Domenica, de 17. Na entrevista a seguir, Eliane analisa o atual cenário político do país com uma sabedoria conectada à ancestralidade de matriz africana: referências concretas, paralelos com a vida cotidiana e palavras simples que expressam uma percepção sofisticada.
CULT: O que está acontecendo no Brasil?
Eliane Dias: É uma coisa lamentável. A elite acha que mudar o governo vai mudar o meu modo de pensar, o seu. Eles estão achando que vão colocar o nosso povo, as nossas mulheres, na cozinha deles de volta, e que não serão punidos. Esse cabresto que eles querem não existe mais. Nós não vamos voltar para o armário da ignorância. Eu estou no meio do povo todos os dias. As pessoas estão falando, pensando, se movimentando, crescendo. Essa juventude que está aí, essa massa gigantesca de 16, 17, vinte anos, nunca mais vai trabalhar de cabeça baixa. Pode trabalhar em silêncio, mas a cabeça nunca mais vai abaixar.
E o governo?
Para trabalhar com povo, tem que ter feeling, sensibilidade. Mesmo na sua casa, você precisa ler como é cada pessoa. Os filhos são diferentes. Se você tem marido, você lê o marido, descreve, sabe quando ele fez coisa boa, quando fez coisa errada, quando está pensando em fazer, porque te deu um presente, porque não te deu um presente. Se é presidente da república, está no Planalto lidando com aquele tanto de deputado, precisa reconhecer seus parceiros e os não parceiros. Você tem que fazer a lição de casa, estudar, saber quem é quem. “Este aqui é bandido”, por exemplo. E bandido só tem uma coisa na porra da vida dele. Se bandido falar que vai fazer, ele vai fazer. Bandido tem que ter palavra para ser respeitado. Ele [Eduardo Cunha] foi lá, entrou com o processo, tocou em frente. Falou “eu vou fazer o impeachment” e ele vai até o final porque bandido tem palavra.
Dilma não faz essa leitura, nem tem sido assessorada por quem faça, não é?
Ela apanhou. A Dilma fala, o tempo todo, “eu resisto”. Vai passar por 180 dias de afastamento e vai resistir. Sofrer ou não o processo de impeachment e, então, resistir. Ela tem isso feito na cabeça: que resiste. Passou por uma ditadura, foi presa, torturada. Ela é forte para apanhar. Está acostumada a levar porrada, não a dar porrada. O Cunha não foi preso, não resiste. Ele ataca, bate. Já ela tem esperança, espera que algo aconteça, é equilibrada. Ele é um louco, totalmente desequilibrado, que não tem medo de fazer nada. Não tem medo de ser preso, de perder o nome. É bandido e louco.
E como é possível parar o louco?
Só o Cunha é capaz de parar o Cunha. Nem os colegas dele conseguem. Ele não espera que algo aconteça, ele amarra todo mundo: a mídia, o legislativo, o judiciário. O Cunha aterroriza todo mundo. Porque primeiro ele alinhavou com quem precisava. E ninguém quer se dar ao trabalho de ser Cunha: descobrir o ponto fraco dele. Então, o louco vai comandar, fazendo uma legião de seguidores. Lê o cara. Bandido faz o que fala que vai fazer.
E como será de agora em diante?
O que eu vejo é que a periferia está completamente unida – você não tem noção de como está unida. Eu falo aqui [do celular] com todo mundo. Tem grupo no Brasil inteiro, até fora do país: grupo de pai de santo, mãe de santo, advogado, o pessoal do rap, de todas as periferias. Todo mundo trabalhando, filha. Não tem mais volta. A direita não soube a hora de parar: uniram a periferia, foram burros. Há uns dois meses, o Brasil inteiro achava que a esquerda estava errada, tinha roubado. Se eles tivessem parado exatamente naquele momento, teriam o Brasil inteiro nas mãos. Mas eles não aguentaram, falaram: “Vamos pôr o pé no pescoço, vamos continuar, esmagar, destruir, eliminar”. Agora, a periferia já sabe que não há crime cometido pela presidente. O pecado capital que eu mais admiro é a vaidade. Porque pela vaidade, minha filha, você, ó, decepa as pernas.
A direita também está unida.
Eu fui à Paulista, em uma manifestação deles. Fiquei literalmente doente quando saí de lá. Fui com uma calça jeans e uma camisa do Marighella. Aquela classe não sabe quem foi o Marighella, que foi um militante que defendeu as nossas causas e defendia a luta armada. Praticamente ninguém me questionou. Só teve um senhor que perguntou: “O que você está fazendo aqui?”. Respondi: “Estou exercendo o meu direito democrático de ir e vir”. Em três horas e meia, contei dez negros lá. Os patrões estavam todos, e os negros que se acham patrões estavam lá também. Vi uma família de negros fazendo foto com a polícia, com o choque. Aquilo doeu dentro da minha alma. Hoje, nós temos trinta mil jovens negros assassinados por ano neste país. Mais do que em qualquer outra guerra, jovens negros são assassinados. Essas trinta mil mães enlouquecidas: ninguém está pensando nelas. O Estado tinha que falar: “Olha, o seu filho foi assassinado pela polícia? Vamos lhe oferecer um tratamento psicológico”. Ninguém vai apresentar esse projeto. Essas mulheres estão por aí, mentalmente doentes, porque tiveram seu filho negro assassinado. Na manifestação da Paulista tinha não sei quantas pessoas, mas eu era invisível. Ninguém olhava para mim não, eu podia ficar lá pelada que ninguém ia olhar. Eu, como observadora que sou, vi a empáfia, a arrogância, a cara para cima, a meritocracia. Eu vi o botox, a prepotência, aquela coisa de “Eu sou de outro nível, o meu tênis é diferente do seu, a minha camisa da CBF apresenta problemas, mas ela está do meu lado”. Eu vi um cartaz que dizia “O Cunha rouba, mas está do nosso lado”.
Desde quando você é militante?
Eu sou da periferia; aqui todo mundo é militante mesmo sem saber. Minha mãe criou quatro filhos de quatro homens diferentes sozinha. Éramos nós por nós. A militância já vem da necessidade de se defender e defender os seus. Não tem opção. Eu me lembro de trabalhar a partir dos nove anos de idade. As mulheres me chamavam para tomar conta dos bebês recém-nascidos. Eu era pequena, magrela, seca, e fiquei com fama no bairro. Toda mulher que ganhava neném em casa ou no hospital me contratava nas primeiras semanas para tomar conta dos filhos recém-nascidos. À hora que a mulher podia levantar, andar, cuidar da vida, da casa, me liberava para outra. Então, desde pequena eu já cuidava de bebês de mulheres pobres. A gente, na periferia, não tem outra opção. Ou você levanta e vai à luta, ou você fica em casa chorando na cama. Não tem um psicólogo, um colo, uma pessoa que vá dizer “Você não pode ficar assim”. Não tem opção, entendeu? Você tem que dar um jeito. A gente tem que comer, trabalhar, sobreviver.
E neste cenário, como fica a relação do governo, do Congresso, dos partidos com a periferia?
Esse pessoal de direita não tem sensibilidade com as pessoas pobres. A maioria trata como gente sem expectativa, só mão de obra barata. E não é mais isso. Eles estão tão, mas tão errados! Eu vejo o PT renascendo, na verdade. Vejo o PT chegando ao fundo do poço, mas voltando mais forte, como uma onda vermelha mesmo. A direita não sabe o que fazer com a gente, os pobres, os negros, as mulheres. Esse povo todo vai querer, de joelhos, alguém que defenda a nossa causa. E quem faz isso são os partidos de esquerda. A gente vai passar por todo esse processo doloroso, vai pensar, reagir, resistir, ter paciência, pedir calma, paz. E depois vai conseguir dar a volta.
E como foi sua trajetória, de babá a advogada?
Eu sempre tive que trabalhar muito e sempre gostei de estudar. Minha mãe garantia estudo até o ginásio, depois era comigo. Paguei técnico em secretariado com o meu dinheiro. Fui empregada doméstica. Mas gostava de trabalhar em empresas grandes, onde eu pudesse crescer. Trabalhei muito tempo com concessionárias de automóveis, dez anos, adoro. Também desfilei, acho que uns cinco anos, para marcas como Fórum, Guaraná Brasil, Hering, Erva Mate. Eu trabalhava de dia e desfilava de noite. Eu tive uma chefe numa concessionária, a Marisa – uma mulher maravilhosa, empoderadíssima, branca já nasceu empoderada, né, mas uma graça – me convidou para ir a uma mulher que lia cartas. Ouvi que não casaria no papel. Fiquei revoltada com aquilo, imediatamente resolvi ficar noiva do Pedro Paulo. Um dia minha mãe fala que eu tinha até o final da semana para arrumar um lugar para morar, porque ela ia mudar com um namorado e eu não ia junto. Comecei a procurar um lugar, mas o Pedro Paulo, que era muito macho na época, disse que sozinha eu não iria, que mulher dele não morava sozinha. Encontrei uma quitinete, estava tudo prontinho para mudar, mas quando cheguei em casa não tinha mais nada meu. O Pedro Paulo tinha levado tudo para a casa dele. Ele morava em dois cômodos e um banheiro, a nossa cama ficava quase do lado da cama da mãe dele. Nem chão direito tinha, era todo esburacado; em cima da cama da mãe dele chovia. E aí pronto, não casei. Uns três meses depois compramos um apartamento na Cohab. Eu fiquei seguindo a minha vida com tudo o que a mulher disse que ia acontecer, você acredita? Mas ela falou que eu vou trabalhar até 91 anos. Tô fodida! (risos) Aí eu pensei: quer saber de uma coisa? Já que eu vou trabalhar para cacete, eu vou fazer uma coisa que, quanto mais velha eu ficar, mais eu vou ter respeito. Fui estudar direito. Olha meu orgulho [aponta para dois diplomas pendurados na parede, um em cada lado da mesa de trabalho]. Em 1998, me formei em direito na Universidade Municipal de São Caetano do Sul; em 2009, tirei a minha carteira da OAB.
E você atuou no direito?
Fiz estágio na Procuradoria Judicial do Estado, depois fui para um escritório no Largo da Batata. Mas onde fiquei mais tempo, cinco anos, foi em um escritório na Praça da Sé. Eu trabalhava na área cível. Eram 19 advogados, desses, cinco mulheres, uma negra e um negro. O dono sempre levava todo mundo para jantar, as doutoras brancas para comprar bolsa. Eu sempre ficava. Ele me contratou, negra. Agora, sair comigo ele nunca saiu. Para trabalhar sentada em uma sala eu servia, para sair, não. É esse o perfil do homem mesmo, sabe? Que a mulher negra serve dentro do quarto, com a luz apagada. E aí, o que eu podia fazer? Ficar com raiva e pedir a conta? Não. Vou ganhar dinheiro. Comecei a mexer, mexer e descobri um arquivo com processos parados. Ele tinha muitos clientes com dinheiro de FGTS a receber que estavam esquecidos. Comecei a cuidar só desse arquivo e cheguei a ganhar 5 mil reais por semana. Se eu ganhava isso, imagina o quanto ele ganhava. Mas meu filho começou a dar problema, e eu não ia perder meu filho.
Perder?
Deixar meu filho entrar no mundo da droga. Ele sofre a pressão de ser filho do Mano Brown. Como advogada, eu entrava no trabalho às nove horas da manhã e saía às cinco da tarde. Para a gente que é mãe da periferia, isso é um grande problema. São duas horas de trânsito para chegar no trabalho, mais duas horas de trânsito para voltar, e o filho sai da escola e fica sozinho. Muitas vezes a mãe chega estressada, irritada, nem dá para conversar com o filho, não tem papo reto. Ele vai para a rua brincar com os colegas. Falei para o Pedro Paulo: “Você tem que me ajudar, porque o Jorge está saindo da escola e indo pro Rodoanel”. Ele respondeu que não teve pai e não sabia ser pai. Quer dizer que eu tive mãe, eu tenho que saber ser mãe? Mãe não tem cartilha, a gente age com o nosso instinto, coração, alma, intelectualidade. Tive que pedir a conta do meu trabalho do escritório de advocacia para cuidar do meu filho. Não é fácil estudar por sete anos – um ano de cursinho, cinco de faculdade, quase um de cursinho para a OAB – e depois largar tudo para cuidar do que é realmente importante. É uma decisão muito grande. Você tem que ser poderosa para tomar essa decisão.
Você cresceu longe do seu pai. Essa é a realidade de muitas negras e negros na periferia…
Essa é uma pauta forte agora, a solidão da mulher negra. O homem branco não assume, o homem negro também não, e a mulher negra vai e faz tudo o que tem que ser feito. É um sofrimento para a mãe, é um sofrimento para as crianças. O estágio em que eu estou no momento é esse: cuido de dois filhos, vou até o supermercado para a minha sogra, compro fralda, remédio, faço feira. Se as coisas vão bem ou mal, é responsabilidade minha. Se o Pedro Paulo precisa de uma camiseta, ele pergunta para mim. Aí eu falo: “Tá difícil ser produtora e falar da camiseta, tá difícil ser produtora e ir ao supermercado”. Aqui na Boogie Naipe são 25 famílias que pagam aluguel, criam os filhos, cuidam da mãe, da sogra, com o dinheiro que sai daqui. E para mim? Eu faço o quê? A política. Isso eu faço para mim, e não abro mão.
O que você faz na política?
Sou coordenadora do SOS Racismo, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Antes disso, fui assessora da Leci Brandão por cinco anos e meio. Estava com meu filho em casa por seis meses, já era advogada, militante, telefonei para o deputado Vicente Candido e ele me convidou para fazer a campanha da Leci. Me matei de trabalhar, panfletava em todo lugar com e sem a candidata, enchia meu carro de faixa para distribuir. E a Leci me convidou para fazer parte da equipe de assessores dela, quando foi eleita. Eu fui da Comissão de Direitos Humanos. Acompanhava os processos, projetos de lei, denúncias, fazia pesquisas, instruía a Leci. Eu era a mulher de frente dela também, ia aos lugares avaliar se era importante a participação dela.
E algum processo marcou você especialmente na Comissão de Direitos Humanos ou no SOS Racismo?
Odeio falar dessas coisas porque tenho vontade de chorar, mas vou tentar. Um foi péssimo. Sete mães, ou mais que isso, tiveram seus filhos arrancados dos braços porque o juiz não sei de que lugar mandava tirar as crianças de casa, porque as mães não teriam condições de criar, e dava para adoção fora do país. Só uma recuperou o filho. A mulher chorava… Eu não aguento falar disso. A Comissão de Direitos Humanos era isso, pesado. Sempre esteve com a esquerda. Mas este ano a direita ficou com a comissão. Evangélicos, sem diálogo com o povo LGBT, com as religiões de matrizes africanas, lidando com denúncias. Como você acha que é isso? No SOS, estou organizando uma discussão sobre esse 25 de julho, dia da mulher negra latino-caribenha, articulando com os estudantes negros discussões sobre cotas para negros e o racismo que estão enfrentando por causa do ProUni. E daí a gente vai tirando as pautas, um curso, uma formação. Eu recebi uma denúncia agora de uma menina que foi agredida numa escola porque estava com uma conta [do candomblé]. Eu vou lá falar com a diretora, com a professora, porque elas têm que tomar providência. Eu recebo essas denúncias e acompanho. Esse trabalho é um prazer. Eu adoro.
Você tem outros planos na política?
Não, ainda não. Porque a política algema, e eu sou livre. Fui convidada a sair para senadora, como suplente do Suplicy em 2014, mas não aceitei porque tinha acabado de assumir a Boogie, teria que levar meus dois filhos para Brasília, minha sogra tinha tido um AVC. Fui para o sacrifício. Ia ser bom para a militância ter uma mulher negra lá no Senado, mas fica para a próxima.
Bianca Santana é jornalista, professora da Faculdade Cásper Líbero e autora de Quando me descobri negra (SESI-SP editora, 2015)