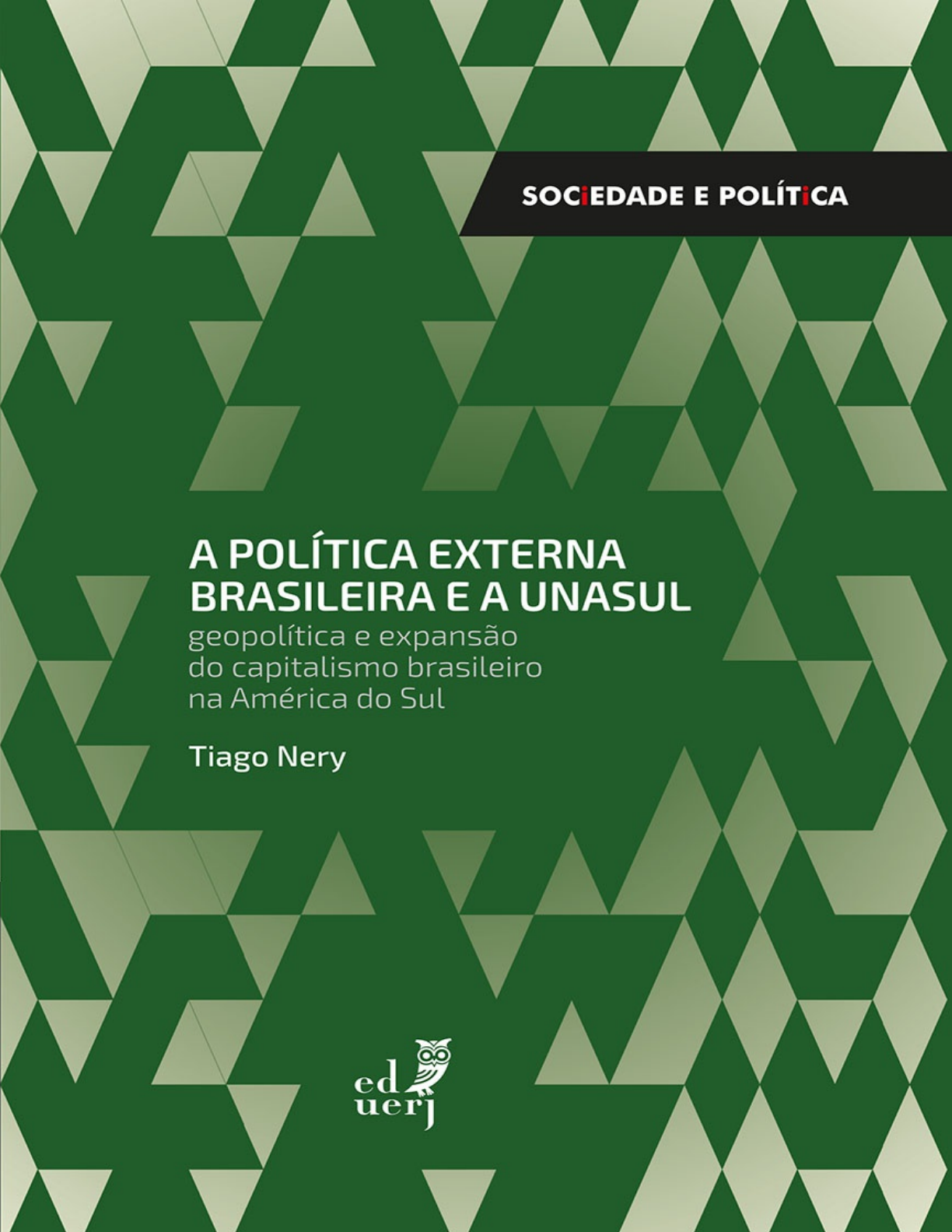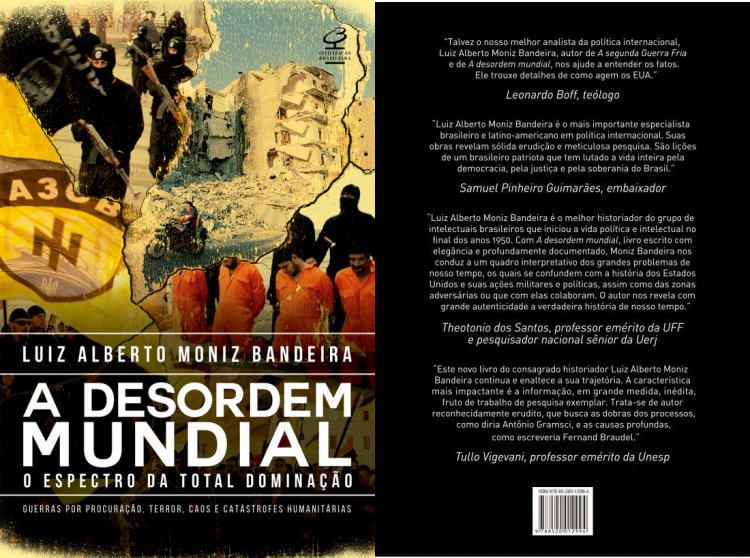No domingo, primeiro de maio, um ensolarado e melancólico Dia do Trabalhador, o Theatro Municipal de São Paulo exibia sua nova montagem de La Bohème, a ópera proletária de Giacomo Puccini. No intervalo após o segundo ato, duas elegantes senhoras aproximaram-se da janela do balcão nobre, de onde ecoava o som da multidão reunida no Vale do Anhangabaú. “É a CUT”, disse uma delas, ajeitando a echarpe. “Não faço questão nenhuma de ver”.
Grande parte das reportagens e textos de opinião na imprensa começam como este daqui: com uma cena, vista e relatada por um jornalista, que condensa o sentido do que será dito a seguir. É uma fórmula consagrada pelos adeptos do new journalism norte-americano, que nada mais é que a radicalização do bom e velho jornalismo que ousa dizer seu nome e autoria, sem se esconder por trás da “objetividade”.
Nada mais caro aos jornalistas do que: 1. A ideia de que exercem seu ofício com autonomia e liberdade; e 2. A crença de que produzem seus relatos com isenção e imparcialidade.
Em meus mais de vinte anos de profissão, sempre me pareceu curioso que, em eventos públicos ou palestras a estudantes, repórteres e editores da grande imprensa invariavelmente aludissem ao fato de “jamais terem sido censurados” e de trabalharem “com total liberdade” nas redações. Ao passo que, intramuros, nos corredores e cafezinhos desses mesmos veículos, o que eu ouvia era o oposto: uma fila de queixas contra as restrições impostas no dia a dia pelas chefias.
É claro que faz bem para a carreira de qualquer um elogiar a empresa em que se trabalha. Mas, de boa-fé, acredito que essa contradição se deva sobretudo a uma espécie de autoengano – um mecanismo psicológico que permite aos jornalistas manterem certo grau de autoestima que lhes permita continuar sacrificando suas vidas pessoais em nome de frustrantes, longas e mal pagas jornadas de trabalho.
No início dos anos 90, em uma polêmica com a filósofa Marilena Chauí, que criticara o mito da objetividade na imprensa – resultado, segundo ela, de uma concepção positivista de ciência, que oculta o fato de que todo o conhecimento é representação e, como tal, intermediado pelo subjetivo –, Paulo Francis disparou, com sua franqueza habitual, na coluna Diário da Corte: “Se Marilena quer aprender sobre malandragem em imprensa deve se concentrar em dois tópicos, omissão e manipulação de ênfases. Mas duvido que isso sequer conste do currículo das nossas escolas de jornalismo” (O Estado de S. Paulo, 25/07/1993).
Waaal… Batata, Francis. A “malandragem” não está na fricção entre repórteres e editores pela “embocadura da pauta” ou na censura direta, de cima para baixo. Ela ocorre mais sutilmente, no destaque dado pela chefia ao conteúdo publicado e nos efeitos que isso traz ao ânimo interno dos jornalistas. A manipulação se dá no momento em que a chefia decide quantas linhas ou tempo de TV o repórter terá para a sua matéria, se ela estará entre as manchetes de capa ou na escalada do telejornal, se ganhará ou não suítes sucessivas nas edições seguintes.
Omissão e ênfases, pois. Dentro de uma redação, aparecer é fundamental. Um verdadeiro capital simbólico é distribuído pela chefia na forma de espaço, disputado a tapa pelos jornalistas: o prestígio impresso na forma de visibilidade e expresso, mais concretamente depois, na forma de promoções e aumentos de salário. O repórter sabe que tipo de matéria lhe dará mais projeção profissional. Vaidade e ambição condicionam o livre-arbítrio de quem escolhe, apura e escreve as notícias.
É esse acordo tácito entre patrões e empregados que conduz a cobertura para determinada direção, sem que isso tenha de ser claramente explicitado. (Embora mecanismos de controle menos sutis também possam ocorrer. No Estadão, por exemplo, os jornalistas são alertados sobre “temas sensíveis à casa”, como aborto, bioética e religião. E o GAE, Grupo de Avaliação Editorial do jornal, é dirigido por um consultor da Universidade de Navarra, abertamente vinculada à prelazia católica de direita Opus Dei.)
Chegamos, então, ao foco deste artigo: a cobertura dada pela imprensa brasileira ao processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff – que culminou com a cassação definitiva de seu mandato pelo Senado – foi equilibrada? Parece-me evidentemente que não, em particular no clima criado em torno do recebimento da denúncia pelo deputado Eduardo Cunha e em sua posterior aprovação pela Câmara dos Deputados. A ponto de ser difícil discordar da acusação lançada pela presidente, em seu pronunciamento após o impeachment na quarta-feira (31/08), segundo a qual a ação de uma “imprensa facciosa” foi determinante no resultado do processo. Não deixa de ser sintomático que, na origem da grave crise que acometeu o país, esteja um escândalo de corrupção na Petrobrás – alvo de denúncia semelhante feita duas décadas atrás, durante o governo tucano, pelo próprio Paulo Francis, e que lhe custou um processo judicial de US$ 100 milhões movido nos EUA pelo então presidente da companhia, Joel Rennó (além de uma depressão que acompanharia o jornalista até o ataque cardíaco que o matou, em 4 de fevereiro de 1997).
Cabe perguntar: a Petrobras de hoje, cuja propina de fornecedores financiou campanhas eleitorais do PP, do PMDB e do PT, conforme revelado pela Operação Lava Jato, é mais corrupta que a de vinte anos atrás, sob a administração do PSDB? Não se sabe, porque a imprensa não se preocupou em responder. Mesmo depois de uma voz relevante do mundo empresarial ter afirmado categoricamente que não: a de Ricardo Semler, no artigo “Nunca se roubou tão pouco” (Folha de S. Paulo, 21/11/2014), que terminava com um inútil chamamento à razão:
“Deixemos de cinismo. O antídoto contra esse veneno sistêmico é homeopático. Deixemos instalar o processo de cura, que é do país, e não de um partido”
Parafraseando Semler, o antídoto aplicado ao veneno sistêmico da corrupção brasileira dia 12 de maio de 2016, quando o Senado Federal apeou do Palácio do Planalto uma presidente eleita por 54.501.118 votos, esteve mais para quimioterapia extrema. Daquelas que podem matar o paciente – a nossa jovem e frágil democracia – sem eliminar a doença.
Ninguém criticaria uma imprensa implacável na fiscalização do poder, que insistisse em alopatias violentas contra todas as mazelas brasileiras. O problema é que tal posologia é claramente seletiva. Em 1999, em meio ao escândalo das privatizações, o presidente Fernando Henrique Cardoso aprovou a emenda constitucional da reeleição em benefício próprio, na vigência do mandato – uma manobra “bolivariana” em si, com o agravante da compra de votos parlamentares, objeto de uma denúncia do repórter Fernando Rodrigues na Folha (“Deputado conta que votou pela reeleição por R$ 200 mil”, 13/05/1997) que nunca foi devidamente investigada.
Reeleito, quando as primeiras vozes ensaiaram um “Fora-FHC” a reação geral da imprensa foi de ponderação. O tom – ou a ênfase, diria Paulo Francis – eram outros: “Não se brinca com a democracia tão duramente conquistada”, “apesar de tudo, voto dado é soberano”, etc. Também foi relevada a acusação de “estelionato eleitoral” por aquele governo ter segurado a cotação do real para desvalorizá-lo somente após a abertura das urnas, enquanto Dilma foi duramente criticada em 2014 por supostamente ocultar do eleitor a gravidade da situação econômica.
Para quem viveu esses dois períodos dentro de uma redação da grande imprensa, não há autoengano que escamoteie a diferença. O tratamento foi claramente desigual. Na cobertura dos mandatos tucanos, manchetes pontuais com suítes esparsas e sem a personalização da crise na figura do presidente Fernando Henrique (na edição da Veja do dia 21/05/1997, semana em que se revelou o escândalo da compra de votos, quem aparecia na capa era o ministro Sergio Motta). O clima preponderante no noticiário era de torcida pelos esforços do governo na recuperação da economia, àquela altura tendo que recorrer ao FMI.
Em relação ao escândalo petista, o que se viu foi um massacre midiático sem precedentes, com manchetes diárias, capas de revista sucessivas e tempo frequentemente estendido nos telejornais. A “caça à bruxa” ficou evidente na personalização da crise, desde o início, na figura de Dilma: antes mesmo das eleições, quando as apurações da Lava Jato sequer haviam avançado, a imagem da presidente foi estampada como “sabedora” da roubalheira geral. E quando enfim se percebeu que o escândalo não bateria às portas do gabinete presidencial, abraçou-se sem mais problematizações a tese de crime de responsabilidade por conta das “pedaladas fiscais”.
A articulação da crise do país com a conjuntura internacional também foi minimizada, em nome de se sublinhar a “gestão desastrosa” e a “excessiva intervenção governamental” de Dilma na economia. Foi preciso um intelectual e um veículo estrangeiros, o historiador britânico Perry Anderson na London Review of Books (“A crise no Brasil”, 21/04/2016), para que houvesse ampla difusão de dados essenciais ao entendimento da crise. Por exemplo, que desde 2011 o preço das três principais mercadorias que o Brasil comercializa despencou no mundo, pressionando brutalmente as contas brasileiras e, em particular, da Petrobrás: a tonelada de minério de ferro foi de US$ 180 para US$ 55, a saca de soja caiu de US$ 40 para US$ 18 e o barril de petróleo cru, de US$ 140 para US$ 50. Não é por falta de leitura que um brasileiro médio imagina hoje que a recessão bateu à porta só porque o governo gastou demais e que a principal companhia brasileira quebrou por causa da corrupção que lhe saqueou os cofres. Esse brasileiro não terá lido nada diferente disso na maior parte das análises publicadas nos jornais.
Anderson também critica os vazamentos ilegais e seletivos de informação por parte dos investigadores da Lava Jato para a imprensa – tratados aqui como pecadilhos perdoáveis diante da nobre tarefa do combate à corrupção. Em um artigo de 2004, o juiz Sérgio Moro já confessava sua admiração pelos métodos midiáticos da Operação Mãos Limpas, na Itália:
“Os responsáveis pela Mani Pulite fizeram largo uso da imprensa (…) os vazamentos serviram a um propósito útil. O constante fluxo de revelações manteve o interesse do público elevado e os líderes partidários na defensiva”.
É de se perguntar o quanto uma tática dessas, em um ambiente de cobertura desequilibrada como o nosso, não afetou o discernimento de juízes e procuradores em busca de holofotes para suas investigações – resultando nas mesmas omissões e ênfases que vemos nas redações e, muito pior, em injustiça.
Com tudo isso, não houve qualquer prevenção em relação aos vazamentos de Moro e equipe. E, em dois episódios ao menos, o juiz claramente extrapolou: na condução coercitiva do ex-presidente Lula e na divulgação ilegal de grampos da presidente da República sequer feitos com autorização judicial (no último, concedeu “escusas” ao STF e isso foi considerado suficiente). Comparação interessante pode ser feita com o desfecho de outra operação da PF, a Satiagraha, desencadeada em 2004 e envolvendo, não por acaso, um banqueiro ligado às privatizações tucanas. Naquela ocasião, o uso de grampos não autorizados foi o bastante para que a imprensa falasse em “Estado policial” e “atentado ao Estado de Direito”. Pressão que deu resultado: o juiz Fausto De Sanctis teve sua sentença anulada, o diretor da PF, Paulo Lacerda, foi exonerado e o delegado encarregado do caso, Protógenes Queiroz, foi condenado pela Justiça.
Seria simplista dizer que a imprensa é culpada pela queda de Dilma Rousseff, mas ela trabalhou fortemente para criar o clima necessário às forças políticas que desejavam o seu impedimento. Nunca é demais reafirmar a importância de um jornalismo investigativo forte e de credibilidade em um país como o Brasil. A cobertura do impeachment, no entanto, não reforçou esses valores. A exaltação das manifestações verde- amarelas contra a corrupção, transmitidas ao vivo, em contraste com os burocráticos registros dos atos pró-governo, durante os quais se ressaltava sempre a “presença de militantes pagos”, contribuem para um processo que apenas desmoraliza a própria imprensa. Em especial, a dramatização dos grampos telefônicos de Lula e Dilma feita por William Bonner e Renata Vasconcellos no Jornal Nacional de 16 de março de 2016 constitui para a historiografia do jornalismo brasileiro material equivalente à famigerada edição do debate entre Collor e Lula nas eleições de 1989.
Tamanho desequilíbrio logo se fez notar na cobertura mais distanciada da imprensa internacional. Críticas ao processo que retiraria do poder uma presidente honesta para entregá-lo ao vice Michel Temer, “impopular e traidor”, nas palavras do New York Times, além de citado quatro vezes nas delações da Lava Jato, começaram a se fazer ouvir. No dia 20 de abril, a ONG Repórteres Sem Fronteiras rebaixou o Brasil cinco posições em seu ranking mundial de liberdade de expressão – para o 104º lugar em um conjunto de 180 países –, citando entre os motivos o fato de que, “de maneira pouco velada, os principais meios de comunicação incitaram o público a ajudar na derrubada da presidente Dilma”. Mas foi o jornalista americano Glenn Greenwald, cujo trabalho rendeu ao The Guardian um prêmio Pulitzer, quem de maneira mais contundente expressou essa percepção, em entrevista ao programa Democracy Now: “Eu não poderia enfatizar suficientemente o papel central da mídia oligárquica brasileira em insuflar e inflamar tudo isso, em não permitir que a pluralidade de opiniões fosse ouvida, num desfile incessante de propaganda pró-oposição”.
Consumado o afastamento de Dilma Rousseff, um editorial do NYT (“Piorando a crise política brasileira”, 16/05/2016) concluiu que a presidente paga um preço “desproporcionalmente alto por irregularidades administrativas, enquanto vários de seus detratores mais ardentes são acusados de crimes bem mais graves”. Uma realidade que a imprensa brasileira fez questão de não ver. Como as duas senhoras incomodadas com o 1º de maio no intervalo de La Bohème no Theatro Municipal. Em seu exílio do poder, Dilma declarou recentemente que pretende andar de bicicleta e ir a óperas. Quem sabe as três não se encontram para uma conversa civilizada?
Ivan Marsiglia, escritor e jornalista, é autor de A Poeira dos Outros (Arquipélago Editorial). Bacharel em ciências sociais pela USP, foi editor-assistente do caderno “Aliás”, no Estadão, e ganhador do 12º Prêmio Estado de Jornalismo. Também trabalhou como redator-chefe da revista Trip, repórter e editor da Playboy e assessor da Secretaria de Imprensa e da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República de 2004 a 2008. Este artigo foi originalmente publicado na Revista de Jornalismo ESPM, versão brasileira da Columbia Journalism Review.
Leia mais do autor em www.fluxo.net