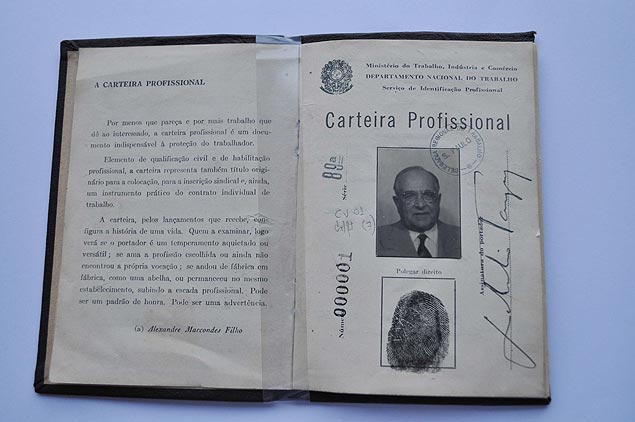Reforma trabalhista que será apresentada pelo governo Temer deve enfrentar resistência popular
No mesmo dia em que assumiu definitivamente a Presidência da República, Michel Temer (PMDB) fez pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV para defender uma proposta de “modernização” da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) que, segundo ele, vai garantir a manutenção do emprego e a geração de novos postos de trabalho.
Para Ruy Braga, professor da Universidade de São Paulo (USP) e especialista em sociologia do trabalho, o discurso de Temer é uma “falácia”. De acordo com Braga, o ataque aos direitos trabalhistas é a via que o empresariado brasileiro encontrou para preservar seus lucros em um cenário de grave crise econômica.
Sem poupar críticas às gestões petistas, o professor diz que medidas que ferem os direitos dos trabalhadores serão estimuladas pelo novo governo. “Temos uma ofensiva patronal com reflexo no parlamento e que conta, agora, com um poderoso aliado no Palácio do Planalto”, afirma Braga, autor de livros como A Política do Precariado. “O impeachment não foi um golpe contra a democracia no sentido abstrato. Foi um golpe contra os direitos dos trabalhadores.”
Leia os principais trechos da entrevista:
CartaCapital: Em seu primeiro pronunciamento pós-impeachment, Michel Temer disse ser preciso “modernizar a legislação trabalhista” e que “a livre negociação é um avanço” na relação entre trabalhador e empresa. É isso mesmo?
Ruy Braga: Tendo em vista o contexto econômico e político brasileiro, existe hoje uma pressão muito forte nos meios empresariais, que se reflete no parlamento, para articular, através do governo, uma ofensiva contra os interesses dos trabalhadores.
Essa ofensiva se organiza em três frentes: o princípio do negociado sobre o legislado, a terceirização e a flexibilização do trabalho e da jornada. Sempre que ocorre uma desaceleração econômica ou a elevação mais ou menos abrupta da taxa de desemprego, o meio empresarial credita automaticamente a crise à rigidez da CLT, que seria de alguma forma superada com a prevalência do negociado sobre o legislado.
Toda vez que se fala em reforma da CLT essa questão vem à tona, porque esta é uma lei que prevê a proteção trabalhista enfatizando a participação do sindicato. É uma ameaça permanente. A CLT tem sido constantemente reformada, e a primeira grande reforma foi exatamente após o golpe de 1964, quando os militares aprovaram a regra que instituiu o Fundo de Garantia [do Tempo de Serviço, FGTS] e acabaram com a estabilidade no emprego.
CC: E de onde vem essa ânsia?
RB: A burguesia brasileira jamais admitiu a CLT. Não como lei, pois parte substantiva do empresariado simplesmente a ignora. O que a burguesia não assume, o que os setores empresariais não suportam é a CLT como princípio, a ideia de que o trabalhador brasileiro tem no horizonte uma proteção social efetivamente definida pelo Estado e reconhecida como um campo legítimo de afirmação. É isso que não se admite.
Então eles querem reformar a CLT, e uma reforma importante seria justamente essa. A prevalência do negociado sobre o legislado favorece o empresário na medida em que são poucas as categorias com um processo de negociação coletiva consolidado. E o número de categorias que têm um processo de negociação coletiva consolidado com representação sindical forte é ainda menor.
Essa mudança colocaria a esmagadora maioria dos trabalhadores brasileiros praticamente fora da CLT, pois tudo passaria a ser negociado: quando não há negociação coletiva, o que prevalece é a legislação vigente, ou seja, é a CLT; quando se chega à Justiça do Trabalho, o que prevalece é a CLT. Esse é o ponto. A proposta é subverter essa lógica. Nada será efetivamente legislado e tudo passará a ser objeto de puro arbítrio dos setores empresariais.
CC: O governo afirma que a mudança vai gerar novos empregos…
RB: O argumento não se sustenta. Quando há desresponsabilização do processo de negociação entre capital e trabalho pelo Estado, o que tende a prevalecer é uma situação na qual o trabalhador vai aceitar todas as imposições que forem levantadas pelo setor empresarial, principalmente em momentos de crise. Seguramente, teremos uma diminuição dos salários e uma flexibilização das condições, com o aumento da jornada de trabalho. É o que o empresário deseja, em última instância, com a chamada negociação livre.
A diminuição dos salários e o aumento da jornada trazem prejuízo para o emprego. A compressão da massa salarial diminui as oportunidades, pois reduz a demanda por bens de consumo. Consequentemente, as empresas vendem menos ou tendem a produzir menos. Quanto à jornada, quando se aumenta a jornada de trabalho, diminui-se o número de trabalhadores empregados. É uma conta de aritmética simples. Tudo isso enxuga empregos e cria desemprego.
Trata-se de uma falácia achar que a negociação, chamada livre, mas que não é livre coisa nenhuma, vai criar empregos. Ela vai aprofundar a recessão e aumentar o desemprego.
CC: Por que um governo apresentaria uma proposta que pode aumentar o desemprego?
RB: A explicação é simples. A crença desses políticos, a crença do PSDB e do PMDB é que, caso seja aprovado um conjunto de medidas antitrabalhistas, os empresários passarão a investir.
Segundo eles, há desinteresse dos empresários em investir por causa do custo Brasil, porque a legislação trabalhista é antiga, porque há muito conflito, muita greve etc. Com a aprovação de uma agenda antitrabalhista, o empresário se sentiria estimulado a investir e, se ele investe, há geração de empregos. Isso é um erro enorme – mas nessa esfera não existem erros, são interesses.
CC: O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, disse que o objetivo é fazer com que a interpretação da lei seja a mesma para trabalhador, empregador e juiz.
RB: Existe uma espécie de gritaria generalizada no setor empresarial de que a Justiça do Trabalho é pró-trabalhador, pois a CLT aponta nessa direção. A proteção trabalhista garantida pela CLT é supostamente universal. Então, quando há alguma dúvida relacionada ao processo, o trabalhador tende a ser favorecido.
Evidentemente, o ministro quer inverter essa lógica, pelo fato de a pasta ser um entreposto dos interesses empresariais no governo. Ele quer fazer com que haja uma única interpretação da CLT, que é a interpretação do empresário, do empregador.
CC: O ministro também disse que a convenção coletiva poderá aprovar uma jornada de até 12 horas por dia, limitada a 48 horas por semana, mas depois voltou atrás. Como o senhor avalia esses movimentos?
RB: Eles estão testando. Como é um governo frágil do ponto de vista da sustentação social – não do ponto de vista do parlamento –, há muita insegurança em relação ao que pode ser de fato encaminhado. Essa proposta nitidamente se encaixa nisso, é um teste.
A jornada de 12 horas é aceita quando isso é essencial para a realização de determinada atividade, então ela já está regulamentada para esses casos específicos. É muito comum na indústria, por exemplo. Mas não são todas as atividades que dependem disso. Se a ideia é ampliar isso para todas as áreas, essa é a agenda escondida.
CC: O novo governo tem força no parlamento?
RB: A frente parlamentar que quer aprovar essas contrarreformas é ampla, mas existem alguns problemas. O PSDB é parte essencial dessa frente, mas o partido não quer arcar com o ônus eleitoral e político da aprovação dessas medidas impopulares. E acho que o PMDB reconhece que essa não é exatamente a agenda que gostaria de levar adiante, porque é como se tivesse acolhido a agenda do PSDB.
Então me parece que existe um consenso acerca dessas propostas, mas não existe um consenso sobre quem vai aparecer como o pai dessa história. Se o governo Temer não levar adiante essa agenda, a janela de oportunidade que se criou com o impeachment vai naufragar.
Paulista
Milhares pedem a saída de Temer e a convocação de novas eleições, no dia 4 (Foto: Roberto Parizotti/ CUT)
CC: Em 2014, o então presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) disse que a livre-negociação já estava sendo discutida e poderia atingir todos os benefícios: vale-transporte, vale-refeição, férias…
RB: Mas não tenha dúvida. Quando se fala em universalizar a terceirização, por exemplo, ou em medidas como o legislado sobre o negociado, o que está em jogo é a supressão de benefícios trabalhistas acumulados ao longo de anos de negociações coletivas, que são formas indiretas de salário. São esses benefícios que serão cortados.
A terceirização atinge a jornada de trabalho, mas atinge também os benefícios, que serão reduzidos a um patamar mínimo de direitos. Isso é notório, conhecido pela literatura. E o drama é outro também, porque as empresas que atuam na terceirização são absolutamente precárias, abrem e fecham com uma enorme facilidade, a rotatividade é muito grande.
CC: O ministro disse que a proposta do governo para a terceirização vai incorporar diversos projetos, inclusive o PL 4330/2004, aprovado na Câmara em 2015. Ele também falou mais de uma vez que o foco da discussão deve estar no conceito de “serviço especializado”, mas, segundo ele, nesse conceito não entra a discussão de atividade-fim e atividade-meio. O que o ministro quer dizer?
RB: A distinção entre atividade-fim e atividade-meio foi estabelecida pela Justiça do Trabalho e, para efeito de terceirização, só é possível terceirizar atividades-meio. É uma norma, não tem tanta força quanto teria uma lei, mas é uma norma que já pacificou os conflitos jurídicos em torno da terceirização. O problema é que, quando você introduz conceitos exóticos como ‘serviço especializado’, você destrói a fronteira consagrada entre fim e meio.
Em última instância, qualquer serviço pode ser considerado especializado. Se o debate se desloca para isso, você perde exatamente essa fronteira nítida entre atividade-fim e atividade-meio. São vários os projetos que supostamente regulamentariam a terceirização, mas que na verdade querem estabelecer um tipo de terceirização que não tem limite nenhum.
O grande objetivo é romper com essa distinção entre o meio e o fim. Rompida essa separação, pode tudo, eles irão terceirizar toda a força de trabalho que for passível de ser terceirizada. Porque a terceirização é um processo tão deletério do ponto de vista do trabalhador que pode ser desastroso naquelas empresas que dependem de uma força de trabalho mais qualificada. Mas todo o resto vai virar terceirizado.
Em 2014 eu fiz um cálculo e cheguei à conclusão de que a aprovação de um projeto como o PL 4330/2004 provocaria uma mudança estrutural no mercado de trabalho brasileiro. Na época, tínhamos um mercado com 50 milhões de carteiras de trabalho assinadas, sendo que 12 milhões eram trabalhadores terceirizados.
Devido à alta de rotatividade, à concorrência entre as empresas e assim por diante, em cinco anos teríamos 30 milhões de trabalhadores terceirizados, e não mais 12 milhões. Os únicos setores que não terceirizariam completamente seriam o Estado e as empresas dependentes de uma força de trabalho mais qualificada. Todas as outras terceirizariam.
CC: São vários os projetos em tramitação no Congresso que propõem mudanças nas leis trabalhistas, certo?
RB: Sim. São 27 ao todo, se não me engano. Muitos se sobrepõem: regulamentação da terceirização sem limite; a redução da idade para o início da atividade laboral de 16 para 14 anos, que é outra maneira de criar mais desemprego; a proibição de o empregado demitido reclamar na Justiça do Trabalho; a suspensão do contrato de trabalho sem nenhum tipo de ônus; a prevalência do negociado sobre o legislado; a prevalência de convenção coletiva sobre as instruções normativas do Ministério do Trabalho; a extinção da multa de 10% sem justa causa…
Temos uma avalanche de medidas, muitas delas apresentadas por deputados da base de Temer. Há uma ofensiva patronal com reflexo no parlamento e que agora conta com um poderoso aliado no Palácio do Planalto.
Muitas dessas medidas não avançavam porque a presidente da República [Dilma], no limite, iria vetar. Agora não mais. Agora as medidas irão tramitar, serão votadas e muitas delas – não digo todas, até porque muitas delas são absolutamente absurdas – serão aprovadas e serão até estimuladas pelo Planalto. Essa é a diferença. Eu insisto na tese de que o impeachment não foi um golpe contra a democracia no sentido abstrato. Foi um golpe contra os direitos dos trabalhadores.
CC: Por quê?
RB: O objetivo imediato é parar a Operação Lava Jato. O segundo objetivo é a eleição presidencial de 2018, de impedir que o Lula seja candidato. Porém, o objetivo de fundo é fazer um ajuste estrutural da economia brasileira, uma transformação radical que tenha como vértice esse tipo de expediente para acumulação de capital.
Então, é preciso eliminar os direitos do trabalho, limitá-los da maneira mais extrema possível, informalizar o mercado e eliminar qualquer tipo de garantia ou proteção trabalhista para as empresas poderem acumular o mais rapidamente possível.
É isso que está na agenda do empresariado. É isso que a Fiesp mira, é isso que os bancos miram. Mas isso não garante o crescimento econômico e vai ter efeitos devastadores sobre a arrecadação e a formação da massa salarial para o consumo. Ou seja, é uma medida que favorece poucos setores da economia e vai minar nossa base de crescimento econômico por muitos anos.
CC: De que forma os governos do PT contribuíram com essa ofensiva patronal?
RB: Eles abriram as portas e as janelas para esse tipo de iniciativa. Em primeiro lugar, por inação. Em 13 anos, o mais avançado que os governos do suposto ‘partido dos trabalhadores’ fizeram foi equalizar os direitos das empregadas domésticas.
Em segundo lugar, por ação. O governo Lula começa em 2003, e a primeira medida que ele toma é a reforma da Previdência do funcionário público, ou seja, uma reforma antitrabalhista. Depois de reeleita, Dilma adotou medidas contra o seguro-desemprego, medidas que foram lidas corretamente, diga-se de passagem, pelo setor empresarial, como uma espécie de sinal verde para o avanço sobre os direitos trabalhistas.
CC: O que explica isso é o modelo de governo petista, um governo de conciliação?
RB: Isso está no DNA do próprio ‘lulismo’. Seu modo de regulação do conflito classista no País procurou fazer concessões aos dois lados, ou seja, ao capital e aos trabalhadores. O problema é que, durante o período de crescimento, isso foi possível até certo ponto. De fato o mercado de trabalho brasileiro cresceu em termos de formalização, tivemos uma política que minimamente valorizou o salário mínimo e muitas categorias obtiveram negociações coletivas vantajosas, acima da inflação. Houve algum avanço, pequeno e modesto, evidentemente com enormes concessões para os setores empresariais.
No entanto, em 2011, 2012, quando o País é atingido pelo fim do superciclo das commodities e há de fato uma desaceleração econômica, não há mais condições de sustentar essas políticas, porque não há mais concessões a fazer.
Então o setor empresarial deixa de fazer qualquer tipo de concessão, o que força a um acirramento, a um aprofundamento de uma luta distributivista: não cabe mais todo mundo e quem perde passa a ser o trabalhador.
É por isso que há uma redefinição da agenda dos setores empresariais, que tinham sido inclusive seduzidos pelo governo a fazer parte de um pacto neodesenvolvimentista com Fiesp, CUT, Força Sindical e governo Dilma.
Eles abandonam esse barco porque percebem que já não têm mais espaço para conceder nada, pelo contrário. Percebem que a acumulação, o crescimento econômico e a lucratividade das empresas vão depender cada vez mais desse avanço sobre os direitos dos trabalhadores e, indiretamente, sobre os direitos previdenciários.