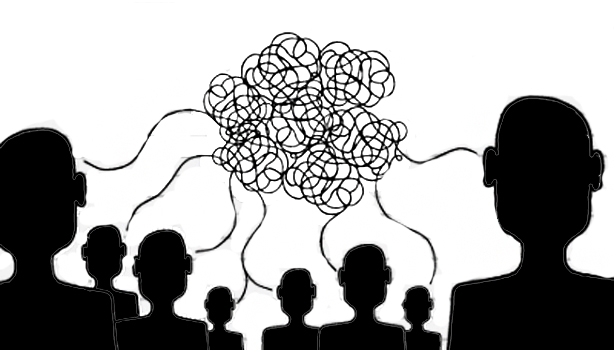De tempos em tempos, esquenta no Brasil a discussão sobre as vantagens das privatizações para a economia do país. A crítica que trago é justamente ao uso do termo enganoso “privatização” nesta discussão. Ora, privatizar implica na ideia de que o processo de venda dos ativos do Estado brasileiro significa apenas a mudança do controle do Poder Público para empresas privadas, principalmente nacionais.
Seguramente, num futuro próximo, outros autores oferecerão ao tema a teoria elaborada que ele merece. Neste momento, quero fazer uma simples constatação: na verdade, o que se costuma chamar de “privatização” tem sido um processo de “desnacionalização”, em que os adquirentes controladores são quase sempre (se não sempre!) empresas ou consórcios estrangeiros, muitas vezes empresas estatais de outros países.
O uso do termo “privatização” é um exemplo da manipulação da opinião pública pela mídia (associada a poderosos interesses multinacionais). Fenômeno denunciado, em relação a outras situações, pelo grande linguista, filósofo e ativista político norte-americano, Noam Chomsky. Uma forma sofisticada de “fake news”.
O jogo de palavras não é inocente. Passa-se, com ele, a falsa impressão de que se busca sobretudo uma maior eficiência. Em tese, a empresa privada, no lugar da máquina supostamente pesada, empreguista e corrupta do Estado brasileiro, ofereceria essa eficiência.
Em teoria, poder-se-ia imaginar que as “privatizações” beneficiariam empresas de capital nacional, robustecendo a nossa burguesia. Mas não é assim. Além de não terem cacife para adquirir setores estratégicos, como o do petróleo, da eletricidade e da infraestrutura, as empresas nacionais (já combalidas pela verdadeira guerrilha judicial que triturou sua presença no mercado), perdem uma base de apoio importante para suas operações, já que, em muitos casos, seu cliente principal é justamente o Estado brasileiro (em seus vários níveis).
O caso exemplar da Embraer: “privatização” de uma empresa que já é privada
Exemplo eloquente e mais escandaloso dessa corrida pela desnacionalização?—?e neste caso sem disfarce?—?é o da Embraer, empresa privatizada há algumas décadas, mas sobre a qual o governo manteve algum controle (sobretudo no que diz respeito às orientações estratégicas) por meio do instrumento conhecido como “golden share”.
 Fac-símile de notícia publicada no jornal Folha de S.Paulo em 8 de dezembro de 1994, data da venda da Embraer. Privatizar não é o bastante.
Fac-símile de notícia publicada no jornal Folha de S.Paulo em 8 de dezembro de 1994, data da venda da Embraer. Privatizar não é o bastante.
Aqui, não há como falar em privatização, até porque a indústria aeronáutica em questão já é privada, totalmente inserida no mercado global e de forma extremamente bem sucedida, diga-se de passagem. Trata-se, a todo custo, de passar o controle sobre o parque produtivo e tecnológico brasileiro a interesses não-nacionais. No caso, esses interesses são representados pela gigantesca empresa norte-americana Boeing, produtora de aviões civis e grande fornecedora das necessidades do Estado norte-americano?—?ou mais precisamente do Pentágono?—?em matéria aeroespacial.
Completa-se, assim, uma trama, iniciada há anos, com a tentativa de venda dos F-18 americanos à Força Aérea Brasileira. Caso efetivada, essa venda teria se constituído em uma operação comercial, sem nenhuma transferência de tecnologia. Pior que isso, haveria restrições ao uso da própria tecnologia embutida na aeronave, com a não abertura do “código fonte”, que condiciona o sistema de armas. Conforme versão que ouvi de alto funcionário da companhia brasileira, essa transação já contemplava uma “associação estratégica” entre a Embraer e a Boeing. Comparando a dimensão das duas empresas (cerca de 1 para 10 em valor de vendas), não é difícil de imaginar quem deteria o comando da associação.
Há aí, como em muitas situações similares, uma distinção essencial a fazer entre os interesses dos acionistas das empresas e o interesse da nação. A curto prazo, é muito provável que haja ganhos para os detentores de títulos da companhia a ser desnacionalizada (para usar o termo correto, não mistificado). Mas quem perde é o país: em autonomia e capacidade de inovação.
Numa situação com a Embraer controlada pela Boeing, alguém imagina que, em uma hipotética licitação, a nossa Força Aérea teria cacife para bancar uma opção eminentemente técnica, como a que ocorreu na compra dos Grippen, baseada, entre outros fatores, na transferência efetiva de tecnologia e na autonomia para fazer modificações que sejam do nosso interesse, como a incorporação de armamento brasileiro, sem falar na possibilidade de acessar mercados em países em desenvolvimento, especialmente na América Latina? É obvio que não. Nossa “escolha” estaria determinada de antemão.Teríamos que “optar” pelo avião produzido pela Boeing e sujeitar-nos às condições que fossem impostas pelo governo norte-americano ou pela própria empresa.
Neste caso, a ligação entre os setores civil e militar não é apenas financeira (com os lucros das vendas para a aviação comercial ajudando a pagar os investimentos da área de defesa, como apontou Pedro Celestino, em excelente texto). Ela é também de natureza técnica e industrial. Foi o aprendizado com a produção do AMX (em parceria com a Itália) que alavancou a produção dos jatos regionais, que tornaram a Embraer uma marca mundialmente conhecida e respeitada. Afora o aspecto empresarial, um mínimo de seriedade obrigaria a um estudo das implicações geopolíticas da operação planejada.
Mas o caso Embraer-Boeing, por mais importante que seja, é apenas um exemplo do processo de sistemática desnacionalização da nossa economia, cujo controle está sendo transferido, com determinação e rapidez nunca vistos, a interesses estrangeiros variados.
Em breve, pouco restará, em termos de ativos industriais e econômicos, que poderão ser chamados de brasileiros. Como certa vez, um filho meu perguntou, já há alguns anos diante de uma placa em grandes letras: “Pai, por que quando a gente lê “do Brasil” (em sequencia ao nome de uma empresa), significa que aquilo não é do Brasil?”.
Há povos que se ressentem de não terem se transformado em Estados. Em breve, seremos um caso parecido: o de um povo sem Nação. E tudo em nome de uma pretensa eficiência, que só beneficia, além dos compradores e seus governos, os felizardos miliardários que se tornam acionistas minoritários de grandes consórcios multinacionais. Pobre Brasil!
* Celso Amorim é diplomata de carreira e serviu como ministro das Relações Exteriores nos governos Itamar Franco (1993–1994) e Lula (2003–2010) e como ministro da Defesa no governo Dilma Rousseff (2011–2014). Em 2009, foi eleito pela revista Foreign Policy como “melhor ministro das Relações Exteriores do mundo”.
Publicado em Instituto Lula