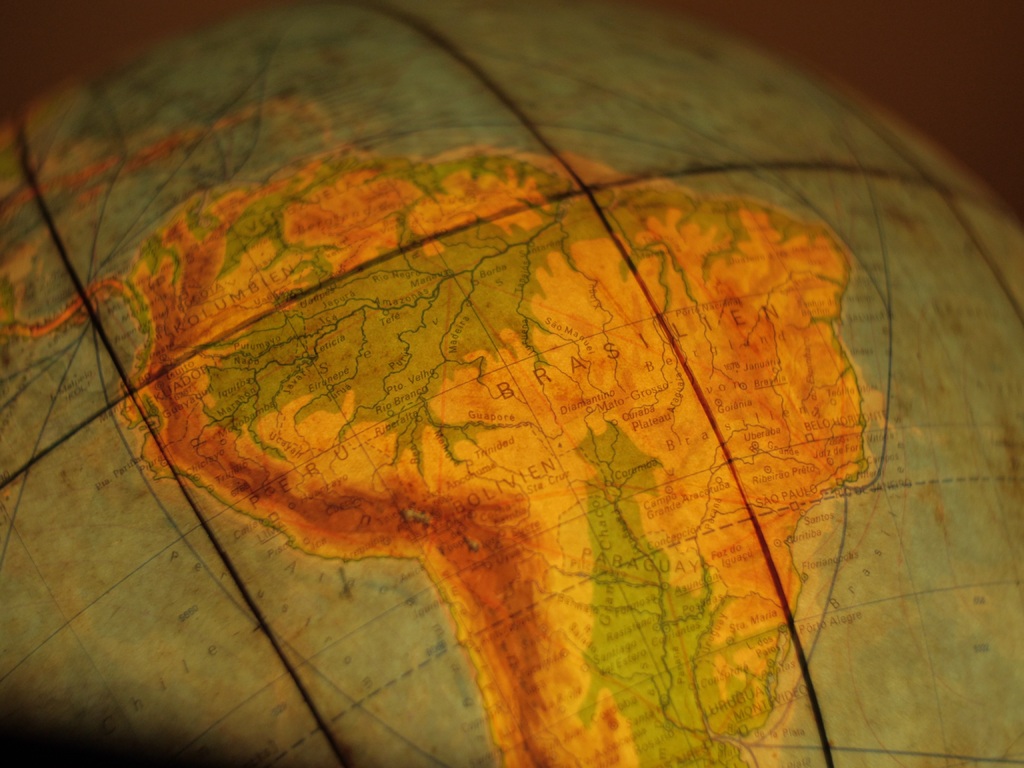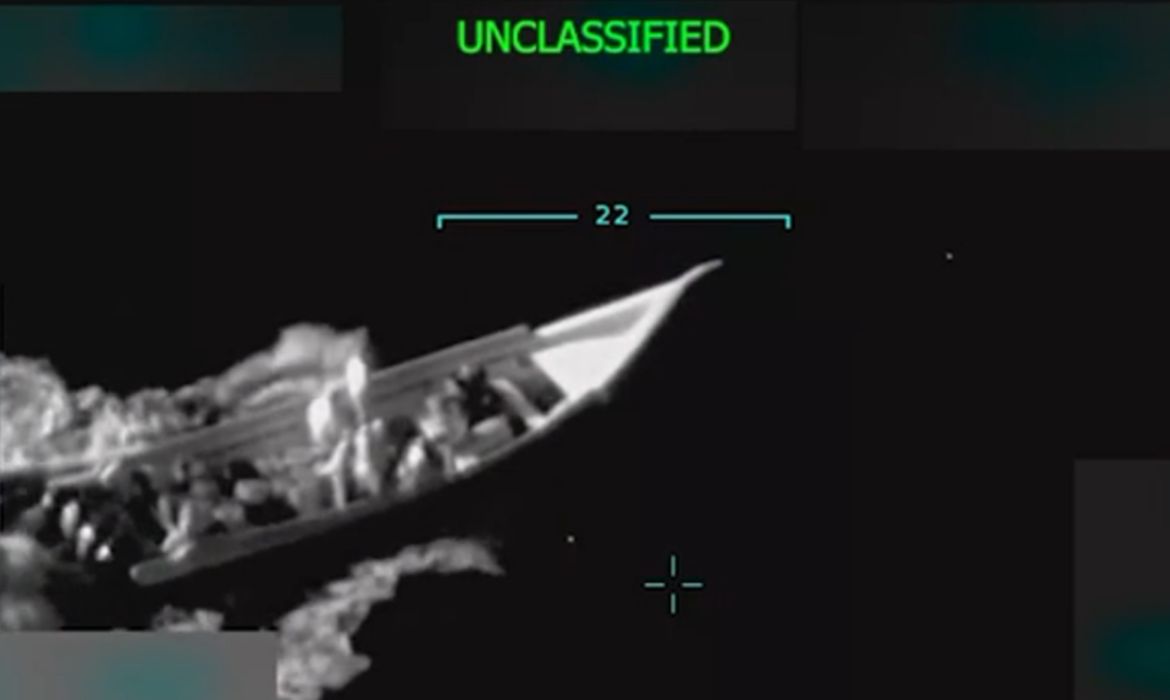Era um gaúcho oriental
E um oriental não recua
Honra a tradição charrua
E nem a morte o abala
(Hermano, poema de Jayme Caetano Braun)
A epígrafe que acompanha o título deste texto é um trecho do poema Hermano, de autoria de Jayme Caetano Braun, poeta brasileiro, e conta a história de um gaúcho oriental, denominação atribuída aos povos que vivem ao oriente do Rio Uruguai. Ao mesmo tempo, o termo oriental expressa um componente político da identidade nacional dos uruguaios, uma vez que está associado aos setores da sociedade liderados por José Gervásio Artigas e seus aliados nas lutas pela independência da banda oriental frente à Espanha e Portugal, primeiro, contra o Brasil e Buenos Aires, depois. Assim, a orientalidad e o artiguismo representam elementos importantes para a constituição da nacionalidade na República Oriental do Uruguai.
Raízes políticas da nação uruguaia
Ao longo da história uruguaia, a atuação de Artigas, seu pensamento e projeto de sociedade, assim como a concepção acerca do que significa ser uruguaio, assumiram vários sentidos. Após ser visto como revolucionário, contrabandista, ditador, chefe militar e símbolo da anarquia, em 1911, com a chegada ao governo de setores modernizantes das elites uruguaias, sob a liderança de José Batlle y Ordóñez, do Partido Colorado, Artigas foi alçado à expressão da unidade nacional. Naquele contexto, a grande questão colocada para os grupos dominantes consistia em estabilizar o país, após quase um século de guerras civis, modernizar a economia e conter as camadas populares que avançavam em sua organização. Assim, projetou-se em Artigas a síntese do projeto de país daqueles grupos.
Leia também: Um passeio com Mujica e Benedetti
O surgimento do Movimento de Libertação Nacional Tupamaros (MLN-T) foi uma das expressões do processo de renovação política e ideológica, marcado pelo surgimento de novos projetos de sociedade que passaram a questionar o imaginário nacional constituído a partir dos primeiros anos do século XX e que começou a apresentar sinais de esgotamento a partir da década de 1950. Ao longo de meio século se construiu no país um modelo de desenvolvimento econômico e social de tipo desenvolvimentista, contando com uma industrialização precoce em relação aos demais países da região, acompanhado de políticas de bem-estar e uma democracia liberal estável, que contava com o sistema de partidos mais antigo da América Latina. Essa experiência, iniciada na primeira década do século XX, atribuiu ao Uruguai um caráter de excepcionalidade frente aos seus vizinhos, que se expressava na imagem que via o país como a “Suíça da América” ou a “Atenas do Prata”. Essa exceção aproximava os uruguaios dos países europeus, vistos como democráticos e civilizados, em detrimento de uma América Latina atrasada e autoritária.
A partir de meados da década de 1950, esse modelo entrou em crise de modo que o Estado já não conseguia sustentar o projeto de bem-estar que acompanhou a sociedade uruguaia nesse período. Ao mesmo tempo, a democracia do país, sustentada por um sistema bipartidário com a hegemonia do Partido Nacional (Blanco) e do Partido Colorado, até então vistos como expressão da excepcionalidade do país frente à região, passou a ser sinônimo de uma representação política oligárquica que impedia a manifestação da pluralidade política do país. Ou seja, o sistema político e eleitoral uruguaio se configurava como um obstáculo ao surgimento de alternativas, obrigando as distintas expressões políticas do país a se incorporarem a uma das duas legendas. Dessa forma, por um lado, submetia-se às manifestações políticas ao predomínio de uma elite caudilhesca; por outro, reforçava-se o caráter frentista e heterogêneo de ambos partidos.
Entre Cuba e Bella Unión: influências e insurgências no campo e na cidade
Frente à crise desse modelo os setores populares da sociedade uruguaia fortaleceram seus vínculos com organizações de esquerda e a autonomia de suas agremiações frente aos grupos dominantes, desencadeando um processo de lutas compartilhadas e ações unitárias por parte desses segmentos. Nesse contexto, se promoveu a unificação do movimento sindical, fortaleceram-se as lutas estudantis originando a palavra de ordem: “obreros y estudiantes, unidos y adelante!”, que segue sendo um símbolo da unidade das lutas do movimento social uruguaio ainda na atualidade. Em sintonia com esse processo, se fortaleceram também os conflitos no campo, com destaque para as famosas manifestações cañeras, em que os trabalhadores do setor açucareiro do país, especialmente na cidade de Bella Unión, Departamento de Artigas na fronteira com o Brasil, se insurgiram contra as precárias condições de trabalho. Além de reforçar o processo de lutas unitárias do âmbito da esquerda esse fenômeno jogou um papel importante na experiência tupamara, especialmente a partir do protagonismo de Raúl Sendic, principal liderança do MLN-T na criação da “Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas” (UTAA), em 1961. A defesa das lutas dos cortadores de cana diante da repressão por parte do governo representou uma das primeiras ações armadas do MLN-T.
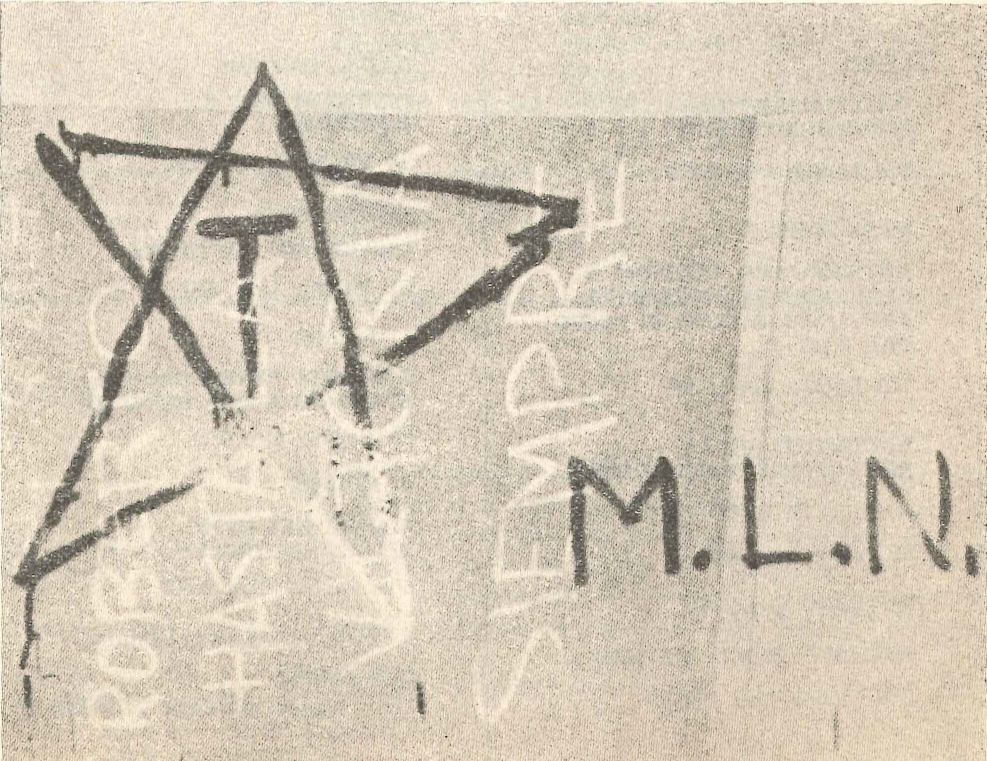
Símbolo do Movimento de Libertação Nacional – Tupamaros (MLN-T), com a estrela de cinco pontas e a letra “T” ao centro. A imagem foi publicada originalmente na revista Sinistra Proletaria, nº 1–2, setembro-outubro de 1970, na matéria “Intervista a un Tupamaro”. Foto: Autor desconhecido / Domínio público na Itália via Wikimedia Commons
Entretanto, se esse processo esteve marcado por profundas singularidades da sociedade uruguaia, ele também está inserido e foi fortemente influenciado pelo contexto regional e mundial. A crise desse modelo econômico e social não era um fenômeno especificamente uruguaio, mas marcava o conjunto da América Latina e se expressava no surgimento de inúmeros projetos alternativos em toda a região, a exemplo da Revolução Boliviana de 1952 e a resistência guatemalteca à invasão estadunidense nessa mesma época. No entanto, foi o triunfo da Revolução Cubana, em 1959, que provocou o maior impacto sobre estes debates, reforçando a ruptura com os relatos dominantes, a descrença na institucionalidade política uruguaia, que levou à ruptura com o sistema bipartidário com o surgimento de novas organizações, como a Frente Ampla e o MLN-T.
Leia mais sobre a Revolução Cubana e a resistência de América Latina ao imperialismo
Essa conjuntura impactou fortemente na imagem que os uruguaios tinham de si e influenciou igualmente o pensamento nacional do país, com forte contribuição de uma geração de intelectuais oriundas da Facultad de Humanidades y Ciencias da Universidad de la República (UDELAR) e do Instituto de Profesores Artigas (IPA), promovendo uma renovação intelectual no país. Uma das principais expressões desse fenômeno se deu no âmbito da cultura popular, que nesses anos passava por um processo de orientalización da cultura uruguaia. Ou seja, a música popular uruguaia se converteu em um importante espaço de busca pela autenticidade da identidade nacional dos uruguaios. Se João Gilberto incorporou a batida do tamborim ao violão para dar origem a Bossa Nova, cantores como Alfredo Zitarrosa, Daniel Viglietti, a dupla Los Olimareños e tantos outros, incorporaram as batidas do candombe às suas milongas. O mesmo fizeram grupos de jazz e rock que incorporaram as batidas de tambor oriundas do candombe, como a banda Totem, cujo vocalista era Ruben Rada, apoiador de Mujica na atualidade, um dos principais representantes desse movimento. Dessa maneira, esse processo de renovação revelou um Uruguai agrário, popular, negro, com fortes raízes africanas, que não se encaixava na imagem de Suiça da América, atribuida ao país.
Diante desse cenário, a crise que marcou esse período encontrou uma estrutura de poder que não estava preparada para lidar com momentos de turbulência. Sem a capacidade de apresentar uma alternativa, o regime passou a fechar-se em si mesmo, lançando mão, com cada vez maior frequência, das Medidas Prontas de Seguridad — dispositivo repressivo que visava conter o avanço das lutas populares. Assim, o Uruguai iniciava uma escalada autoritária marcada pela corrosão (Padrós, 2009, p. 10) da democracia liberal do país, tão enaltecida outrora, e redundou no golpe de estado de 1973. Esse processo de degeneração da ordem política e democrática do Uruguai, conforme afirmou o professor da Universidad de la República (UDELAR), Álvaro Rico (2005, p. 45), diferentemente de outros países, se deu por dentro do sistema democrático do país. Os golpes de estado na região, com destaque para o Brasil de 1964, acompanhados do aumento da repressão aos movimentos sociais e o crescimento dos setores de ultradireita no Uruguai, aprofundaram os questionamentos acerca do caráter democrático da sociedade uruguaia. Dessa forma, o “camino democrático a la dictadura” (Rico, 2005, p. 9) impactou fortemente sobre a estrutura bipartidária do país, levando muitos setores a romper com os partidos tradicionais. Alguns deles reforçaram a construção de uma ferramenta unitária das esquerdas e dos setores democráticos, antioligárquicos e anti-imperialistas do país em torno da Frente Ampla. Outros, porém, fortaleceram os debates a respeito da via armada para a construção de sociedades verdadeiramente independentes e democráticas na América Latina.
Mujica, os tupamaros e a unidade da esquerda pré-ditadura
Esse cenário permitiu o fortalecimento de organizações de esquerda que, em sintonia com os movimentos populares, buscavam impulsionar a construção de ferramentas unitárias de atuação. Em especial, deve-se destacar os diálogos promovidos entre o Partido Comunista do Uruguai (PCU) e o Partido Socialista (PS) que, no início da década de 1960, criaram a Frente de Izquierda de Liberación Nacional (FIdeL) e a Unidad Popular (UP), respectivamente. Ambas as experiências tinham como objetivo ganhar protagonismo nos debates em torno da unidade da esquerda, assim como se converter em pólo de atração para os setores que começavam a se desprender dos partidos tradicionais em virtude do processo de degeneração da democracia liberal uruguaia.
Influenciados pela Revolução Cubana, a perspectiva guevarista e o pensamento defendido por Régis Debray acerca da luta armada, o MLN-T foi constituído por grupos que romperam, principalmente, com o Partido Nacional e com o Partido Socialista, sobretudo após o fracasso eleitoral da UP. Mas a organização reunia setores de diversos movimentos: maoistas, anarquistas, inclusive por membros do PCU — comprometido com o processo que levou a criação da Frente Ampla em 1971. Assim, pode-se dizer que os tupamaros possuíam uma disciplina militar mas não contavam com centralização política e nitidez ideológica. Sua unidade se produzia a partir da composição de pontos em comum entre as organizações que o compunham e se expressaram principalmente na defesa de um artiguismo anti-imperialista e antioligárquico com vistas a construção de uma sociedade socialista, com forte viés nacionalista. Dito isso, é possível visualizar de maneira mais nítida o que significa afirmar que os tupamaros eram uma frente política armada — ou, como o próprio Mujica disse, um movimento político com armas —, que reunia frações de diversas agremiações, desiludidos com a democracia liberal uruguaia. Para muitos pesquisadores, e para o próprio Mujica, os tupamaros não foram uma guerrilha, mas um movimento político que usava táticas de guerrilha para promover denúncia social e a disputa de consciência junto à sociedade.
Trajetória de Mujica na resistência tupamara
Mujica tem origem no Partido Nacional, iniciou sua militância muito jovem, com 14 anos, influenciado pela família, que era vinculada a esse partido. No interior da organização, se associou ao grupo conhecido como herreristas, liderado por Luiz Alberto Herrera. Em seguida, se aliou a Enrique Erro, líder de um setor que pode ser identificado como a esquerda do partido. Pepe chegou a ser presidente da juventude “nacionalista”, mas acompanhou Erro quando este incorporou-se à UP. A partir daí, teve uma série de experiências que incluíram a visita à União Soviética e Cuba, a adesão a grupos maoistas, até se incorporar ao MLN-T.
Conexão Sul Global dedica edição especial à trajetória de José Mujica — símbolo da esquerda latino-americana. Assista agora.
As primeiras atuações de Mujica se deram em ações de apoio que consistiam em esconder armas, adquirir automóveis — especialmente fuscas —, assalto a bancos, etc. Esses episódios e ações que marcam a trajetória dos tupamaros estão carregados de eventos épicos ou heroicos, alguns deles cinematográficos. A participação de Mujica em alguns deles contribuiu para a sua ascensão no interior da organização e a constituição dessa imagem um pouco mítica que se atribui ao ex-presidente uruguaio. Entre os episódios mais marcantes da trajetória de José Mujica, nos anos de clandestinidade, destacam-se quatro passagens pela prisão e confrontos com as forças de repressão; em uma delas foi baleado seis vezes — mesmo assim, sobreviveu.
Contudo, o episódio mais famoso que envolveu a participação de Mujica foi a fuga cinematográfica de mais de 100 prisioneiros políticos do presídio de Punta Carretas, atualmente convertido em um shopping na zona nobre de Montevidéu. A epopeia está incluída no livro de recordes como uma das maiores fugas de prisões da história. Durante vários meses, tanto do lado de dentro do presídio quanto do lado de fora, os militantes tupamaros cavaram túneis que conectaram várias celas de diversos andares a um túnel subterrâneo que ligava o presídio a uma casa utilizada pelo movimento para organizar a fuga. Um fator contribuiu para o êxito da jornada: a contribuição de quadros oriundos do movimento universitário, especialmente de cursos de engenharia e arquitetura, como Lucía Topolansky, importante quadro dos tupamaros, que se tornaria companheira de vida e militância de Mujica.
Refém da ditadura: os 13 anos de Mujica nas prisões uruguaias
A ascensão de Mujica no interior da organização decorreu de sua participação em diversos operativos, passagens pela política e fugas cinematográficas das prisões. Mas adquiriu projeção quando integrou o grupo de prisioneiros políticos conhecidos como Os Reféns, o que lhe rendeu 13 anos de prisão sob as piores condições possíveis durante a ditadura civil-militar uruguaia (1973-1985). Embora a resistência popular tenha limitado as ações da ditadura — com destaque especial à greve geral de 1973, convocada pelo movimento sindical do país e que durou 15 dias —, o terrorismo de Estado praticado pelo regime impactou 20% da população uruguaia.
O entendimento que atribui a esses prisioneiros a denominação de reféns permitia ao regime estabelecer tratamento diferenciado para eles, lançando mão de punições mais severas que o comum. Constantemente trasladados de uma prisão à outra, eram mantidos em isolamento extremo e submetidos a diversas formas de tortura, físicas e psicológicas, que incluíam desde a restrição de necessidades básicas a ameaças de morte. Em um de seus relatos, Mujica comentou que, em muitas ocasiões, teve que beber a própria urina, uma vez que era deixado dias sem acesso à água, comida ou banheiros, provocando problemas de saúde que acompanharam Pepe até o final de sua vida.
Ao mesmo tempo, a manutenção dos militantes encarcerados sustentava uma narrativa oficial que construiu a ideia de que a manutenção desses prisioneiros como reféns serviu como moeda de troca para dissuadir as possibilidades de retorno às atividades armadas do MLN-T, em nome de uma suposta “segurança nacional”.
No entanto, como o MLN-T foi desmantelado ainda em 1972, um ano antes do golpe de estado, é possível considerar que o combate ao “inimigo guerrilheiro” se configurava enquanto fator de aglutinação e mobilização dos grupos golpistas. Assim, a manutenção destes prisioneiros mantinha presente, no imaginário popular e na propaganda do regime, o discurso que apregoava o medo da “ameaça tupamara”, usado como fator de legitimação do terrorismo de Estado praticado pela ditadura.
Por outro lado, ao chamá-los de reféns, a resistência democrática destacava que esses militantes foram sequestrados pelo regime, chamando a atenção para a ilegalidade destas prisões e às violações de direitos humanos cometidas contra esses prisioneiros políticos.
Da luta armada à Frente Ampla: novo caminho do progressismo uruguaio na democracia
Com o fim da ditadura, Mujica assumiu maior protagonismo junto à sociedade uruguaia e iniciou uma trajetória que, gradualmente, conferiu a Pepe maior projeção nacional. Como a ditadura sustentou a necessidade do regime para conter o “inimigo” tupamaro, a volta à democracia e a libertação dos presos políticos foram vistos por muitos setores como um símbolo da resistência ao terrorismo de Estado. Em torno disso, o MLN-T passou a ser alvo de inúmeros estudos que enaltecem o protagonismo tupamaro — com todo mérito —, mas que permitiu, igualmente, o desenvolvimento de visões idealizadas acerca do movimento.
Foi nesse período que Mujica passou a adquirir o maior protagonismo nos debates em torno da preservação do movimento, defendendo, ao mesmo tempo, a necessidade de atualizar práticas e perspectivas políticas diante do novo cenário que se abria com a redemocratização. O surgimento do Movimento de Participação Popular (MPP), em 1989, foi o resultado das polêmicas que marcaram os debates do MLN-T no período pós-ditadura — época em que a organização esteve envolvida em uma série de contendas acerca da reorganização (ou não) do movimento, do caminho armado para o socialismo, da participação em eleições e dos balanços autocríticos do período prévio ao golpe.
Veja também: Ciclo progressista e integração regional na América Latina
Pode-se dizer que, nesse contexto que levou à criação do MPP, a organização passou por um processo de reconfiguração de suas práticas políticas que redundou na sua incorporação à Frente Ampla em 1989, mesmo ano de fundação. Com a morte de Sendic, seu principal líder, esse processo de renovação adquiriu o novo impulso, reforçando a influência das vertentes blancas sobre a orientação política do movimento. Gradualmente, o projeto político do MPP foi assumindo um caráter conciliador, associando a libertação política com o que se acostumou chamar de progressismo, a partir do impulso de um projeto de desenvolvimento econômico e social que busca combater as desigualdades sociais sem rupturas institucionais.
Considerando o caráter heterogêneo e a cultura frentista dos partidos no Uruguai, é bastante comum que se formem, no interior da Frente Ampla, subfrentes integradas pelos setores que compõem um determinado partido. São mais orgânicos que simples alianças eleitorais: possuem fóruns e deliberações próprias em torno de uma atuação conjunta dentro da frente, tanto em âmbito social quanto eleitoral. Assim, o MPP está composto pelos tupamaros, atores que se identificam com os princípios da organização mas optaram por se desvincular do MLN-T, assim como outros setores da Frente Ampla que fazem parte do MPP. A herança tupamara se manifesta ao se reivindicarem enquanto movimento, e não como partido — segundo Mujica “as palavras nos separam, a ação nos une”.
Legado político e simbólico
Do ponto de vista das ideias, é possível considerar que Mujica representa a influência das tradições blancas na visão de mundo tupamara, especificamente dos grupos liderados por Herrera e Erro, inspirados na liderança de Aparício Saraiva, caudilho que liderou os blancos nas guerras civis dos primeiros anos do século XX. Pode-se dizer que sua liderança é expressão de uma perspectiva antioligárquica e popular do projeto de José Artigas, associando independência nacional à noção de autonomia e à “soberanía particular de los pueblos” (Frega, 2010, p. 67), de acordo com o entendimento da historiadora uruguaia Ana Frega. Ao mesmo tempo, representa a cultura gaúcha — primera forma libre de trabajo, como descreve a placa da estátua que homenageia o gaúcho, localizada na Av. 18 de julho, em frente à Prefeitura de Montevidéu. Essa cultura está baseada na ideia de autonomia, simplicidade e austeridade que, através de Mujica, faz frente ao consumismo capitalista e singularizam esse grande personagem da esquerda latino-americana.
Mateus Fiorentini é historiador, mestre em Integração da América Latina (USP) e doutorando em História pela Universidade de Passo Fundo (UPF). É professor substituto do IFRS e docente da educação básica no Rio Grande do Sul. Integra a Associação de Historiadores Latino-americanos e do Caribe (ADHILAC) e o Grupo de Estudos Marxismo e História (GEMARX/USP). É diretor do CEBRAPAZ e professor da Escola Nacional João Amazonas.
Este é um artigo de opinião. A visão dos autores não necessariamente expressa a linha editorial da FMG.