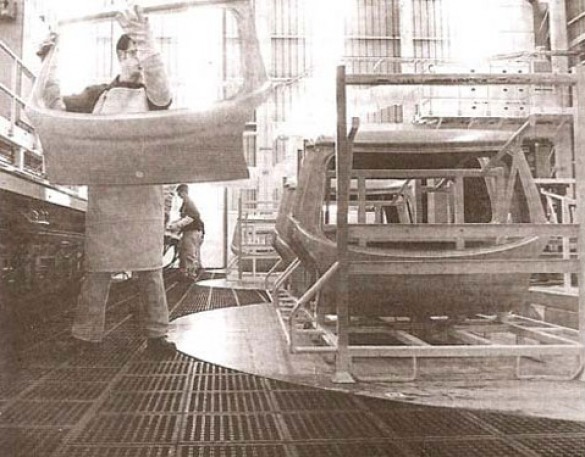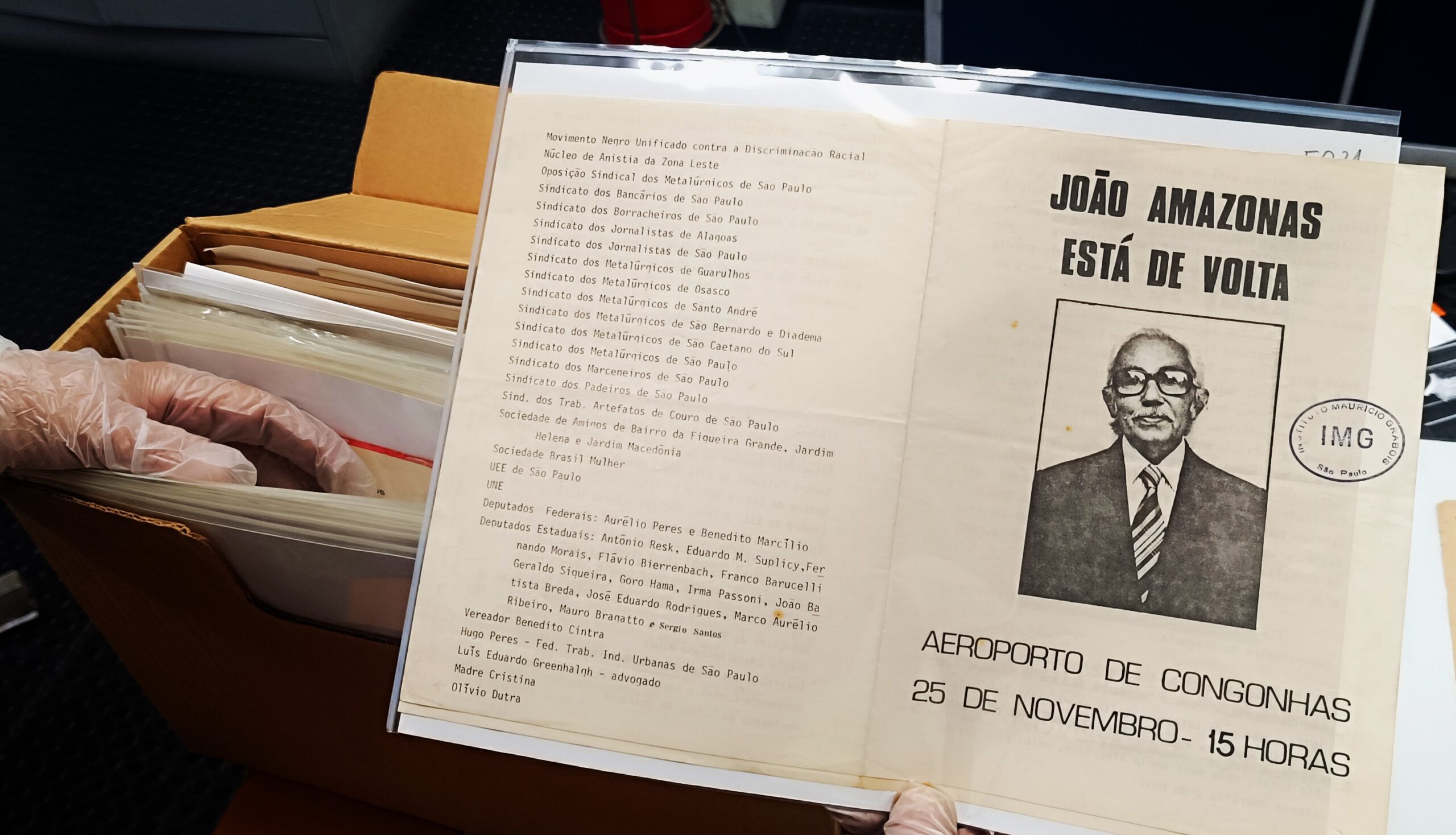A guerra fiscal e a reestruturação automotiva
Durante o primeiro semestre de 1999, enquanto os operários da Ford eram hu¬milhados, demitidos ou transformados em excedentes, como vimos na parte II, a montadora jogara sua grande cartada.
Em abril, os desentendimentos da multinacional com o governo do Rio Grande do Sul já eram definitivos. No dia 28 desse mês, depois que o gover¬nador Olívio Dutra confirmou sua in¬tenção de renegociar os lesivos contra¬tos assumidos pelo antecessor Antonio Britto, a Ford anunciava sua desistência de instalar uma fábrica em Guaíba.
Por sua vez, no auge da guerra fiscal, a Bahia demonstrava abertamente seu interesse em atrair a montadora a qual¬quer custo, enquanto a Ford, em nota publicada nos principais jornais de Por¬to Alegre, insolentemente acusava o Rio Grande do Sul de irresponsabilidade.
Em junho a questão já estava resol¬vida. No mesmo dia em que o diretor de Recursos Humanos, Marino, alarde¬ava seu interesse em ver "mais gente saindo voluntariamente da empresa", os jornais noticiavam também que o pre¬sidente da Ford/Brasil, Ivan Fonseca e Silva, estava para deixar o cargo, a fim de assumir a vice-presidência da Ford para a América do Sul – uma promo¬ção, portanto. (1) De um lado, a montadora poupava mesquinhamente migalhas salariais. De outro, benefici¬ava-se de uma vantajosa negociata.
Com efeito, no dia 17 desse mês, a imprensa estampava uma foto re¬lativa à visita feita na véspera ao presidente da República por uma comitiva composta de diretores da Ford, entre os quais Ivan Fonseca, acompanhados de importantes auto¬ridades baianas. O encontro tivera como objetivo co¬municar a instalação da fábrica na Bahia, um projeto calculado em 1,3 bilhão de dólares. Os investidores esperavam a injeção de alguns recursos captados no mercado internacional. Mas em essên¬cia, a premissa para a Ford levar adiante o projeto era a concessão de expressi¬vos incentivos tributários, além do aces¬so a um empréstimo do BNDES.
Enquanto a opinião pública se escan¬dalizava com o volume de auxílios de toda a ordem que o governo se dispunha a conceder, o presidente da Anfavea, Pi¬nheiro Neto, defendia a empresa na Co¬missão Tributária da Câmara dos Depu¬tados. Não, não havia sido apenas devi¬do aos incentivos que a Ford se decidira. "Também contam coisas como a logística, os transportes, os portos". (Era, aliás, tam¬bém o que diziam quando se cogitava de Guaíba, no Rio Grande do Sul, no outro extremo geográfico, portanto). Segundo o presidente da Anfavea, a indústria au¬tomobilística de uma maneira geral não levava em conta apenas as isenções nos tributos, proporcionadas pela chamada guerra fiscal. E desdenhava: "Se incenti¬vo fiscal fosse solução, iríamos para o estado de Nova York onde, além de in¬centivos, temos terreno de graça e direito de poluir". Sempre arrogante, prosseguia: Mas não é isso que está acontecendo por¬que, obviamente, levamos em conside¬ração o mercado". De fato, como sabe¬mos, buscam no Brasil, entre outras faci¬lidades e vantagens, um mercado ainda não totalmente saturado.
O presidente da Anfavea também ne¬gou que as montadoras estivessem se aproveitando do clima de guerra fiscal. Simplesmente atendiam ao convite de governadores que lhes ofereciam paco¬tes de benefícios. Ironizando, Pinheiro Neto sentenciava, na qualidade de manager de multinacionais: "Costuma¬mos dizer que há dois tipos de governa¬dores; aqueles que são contra a guerra fiscal e já receberam uma montadora e aqueles que são a favor e ainda não re¬ceberam". Tentando nos confortar, lem¬brava que a oferta de incentivos fiscais para atrair investimentos não é exclusi¬va de brasileiros. Realmente, a indústria automobilística, dentro da irracional eco¬nomia neoliberal globalizada, arranca auxílios em toda parte.
Assim aconteceu, por exemplo, , em 1998, quando Tony Blair foi procurado pelo presidente da Ford no Reino Unido, que lhe solicitava ajuda estatal a fim de "manter o empre¬go de mil trabalhadores na fábrica ao sul de Gales". A alternativa seria transferir a unidade para Colônia, na Alemanha ou Valência, na Espanha. Segundo o porta-¬voz da Ford, "qualquer governo sensato aceitaria conversar e socorrer suas (sic) indústrias". Estabelecida a disjuntiva e a chantagem, as entidades sindicais de Gales também fizeram pressão no mes¬mo sentido.
Quanto ao projeto da Bahia, desde logo se ficou sabendo tratar-se de uma unidade piloto, onde os fabricantes de componentes e processos ocupariam a mesma planta industrial; seriam 17 for¬necedores modulares dentro do com¬plexo de Camaçari.
E então, em julho, estourava a notícia de que a Ford pretendia fechar a fábrica de caminhões do bairro do Ipiranga, em São Paulo. Tratava-se de mais uma ar¬bitrariedade praticada pela montadora, sem qualquer preparação dos seus ope¬rários. Indignados, os sindicalistas ob¬servavam que, com tanta concessão de dinheiro público, não fora sequer acres¬centada uma cláusula garantindo, pelo menos durante o tempo de vigência dos incentivos, a estabilidade para os novos trabalhadores, bem como aos das uni¬dades situadas em outros estados. E ago¬ra, ao mesmo tempo que se implantava a fábrica de Camaçari, pretendia-se fe¬char a unidade do Ipiranga.
No dia 4 de agosto, o periódico inglês Financial Times informava que a Ford pretendia terceirizar parte da sua linha de montagem na nova fábrica. Os sindicalistas temiam o que estava por vir. "De país produtor, corremos o ris¬co de passar a meros montadores de veículos, como o México".
Segundo a assessoria de imprensa da Ford, não era bem assim; o que o jornal chamava de terceirização da linha de montagem seria, de fato, o projeto do "parque de fornecedores", os quais, por sua vez, controlariam subfornecedores. O processo modular implicaria somen¬te em terceirização da produção de par¬tes de veículos, não da montagem. E apenas para se obter melhor rendimen¬to, os fornecedores seriam instalados dentro do complexo da Ford em Camaçari, com seus prédios interligados à linha de montagem.
Na verdade, a concepção da Ford para Camaçari já vinha sendo adotada pela General Motors e a Volks para suas novas fábricas brasileiras. Tratava-se de operar com estoques baixos, o máxi¬mo de terceirização e com capacidade para mudar o ritmo na linha de monta¬gem, adequando a produção à deman¬da. Por isso, as operações da unidade da GM em Gravataí/RS estariam sen¬do acompanhadas atentamente na sede de Detroit. Tudo fora pensado para ser econômico, sem desperdício, exato; e com o mínimo de custo possível, den¬tro de um sistema no qual também ten¬de a ser mínimo o número de trabalha¬dores na linha de montagem.
Por métodos diversos e até a produ¬ção sob encomenda, persegue-se a eco¬nomia de custos, evitando estoques. A reestruturação é contínua pois, justa¬mente devido à retração internacional, é preciso alcançar cada vez mais competitividade.
Toda essa racionalização, através de um pronto atendimento quanto a peças e serviços, busca diminuir custos e des¬perdícios de toda a ordem. A tendência é para o pleno sistema just in time. E para que ele funcione como pretendido, a lógica empresarial requer que também o trabalho seja descartável e sem direi¬tos laborais, disponível e just in time.
No concernente à terceirização, ape¬sar de negada pela Ford, ela está implí¬cita. Fortalece-se a figura do "fornece¬dor estratégico", capaz de assumir a res¬ponsabilidade pela montagem de subconjuntos e manter padrões. Os em¬pregados do parque de fornecedores pas¬sariam a ser contratados pela firma que servisse à montadora; e seriam pagos pelo número de peças que produzissem. Ocorre que a terceirização continua jus¬tamente sendo muito controvertida en¬tre os sindicalistas dos Estados Unidos e Europa. E as grandes montadoras têm ainda na memória o impacto da megagreve deflagrada em 1998 pela United Automobile Workers contra a General Motors, nos Estados Unidos. Daí a preferência pelas experiências-pi¬loto no Brasil, onde provavelmente se espera implantar um pólo desse tipo. (2)
Quanto à unidade da Ford no Ipiranga, depois de 12 dias de greve, empresa e trabalhadores chegavam a um acordo. O emprego era garantido por um ano, mas o desligamento era proposto e esti¬mulado. Constituía-se uma comissão para estudar a questão da eventual trans¬ferência da unidade. O Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo se preocu¬pava em garantir que, nesse caso, os tra¬balhadores selecionados para operar a linha de montagem das picapes e cami¬nhões fossem os da Ford/Ipiranga.
O contrato coletivo nacional
Por outro lado, o caso da implanta¬ção da Ford/Bahia, conjugada ao desa¬tivamento da Ford/Ipiranga, além de criar uma competição por emprego en¬tre os próprios operários de diferentes unidades da Federação, colocava em pauta a grave questão da diferença re¬gional de salários.
Por isso, as Centrais propunham um contrato nacional de trabalho, a fim de que as empresas não se vissem tentadas a desativar unidades para implantar ou¬tras em áreas onde o salário fosse mais baixo e as condições de trabalho piores. Tratava-se de evitar que uma empresa migrasse para outro estado (ou mesmo outra região do mesmo estado) a fim de explorar mais; e também de garantir o nível de remuneração em empresas be¬neficiadas por incentivos fiscais.
Observava-se que os salários nas montadoras do ABC chegavam quase ao dobro dos pagos pela Fiat em Mi¬nas, os quais, por sua vez, eram duas vezes maiores que os da Volks em Resende, no Rio de Janeiro. A idéia era elaborar um contrato nacional, a fim de proteger os empregos no setor.
Importante também era a reivindica¬ção quanto à redução do tempo sema¬nal de trabalho, de 44 para 36 horas.
Para esse enfrentamento, a CUT pro¬metia a adesão no ABC e também em São José dos Campos, Taubaté, Cam¬pinas, Betim, Juiz de Fora e Porto Ale¬gre. A Força Sindical garantia São Pau¬lo, Resende e Curitiba.
Ou seja, diante do recente episódio dos incentivos para a Ford da Bahia, ao mesmo tempo em que era admitida a possibilidade do fechamento da fá¬brica do Ipiranga, os sindicatos do ramo, reunidos em torno da Confede¬ração Nacional dos Metalúrgicos, ha¬viam decidido dar um passo importan¬te para unificar suas reivindicações e lutas. Tratava-se, em suma, de evitar as violentas distorções de salários e direi¬tos entre regiões, aprofundadas ainda pela guerra fiscal. Foi assim que os sin¬dicalistas aprovaram a pauta mínima para o para o Contrato Coletivo Nacio¬nal que pretendiam negociar com os empresários do complexo automotivo (montadoras e autopeças). Dela cons¬tavam, entre outros itens, o compromis¬so da implantação de regras trabalhistas mínimas para serem cumpridas em qualquer parte do território nacional, como ocorre com a maioria dos acor¬dos nos Estados Unidos, Alemanha e França, entre outros países.
Nesse contexto lembrava-se que, ha¬via alguns anos, quando as empresas do ABC alegavam que o custo do tra¬balho na região era muito alto, elas apontavam, em contraposição, os da¬dos referentes à Fiat. Agora, os traba¬lhadores de Minas se viam defrontados com alegação análoga, a partir de uma comparação com os salários mais bai¬xos pagos nas fábricas recentemente instaladas em outros estados. "Qual será fim dessa corrente perversa?"
O documento aprovado pelos sindi¬catos pretendia corrigir essa situação propondo, entre outras medidas:
• que a jornada semanal de trabalho fosse no máximo de 36 horas e que, a partir da assinatura do acordo, não ul¬trapassasse 40 horas;
• que se estabelecesse uma estrutura nacional de pisos salariais por função.
Não se tratava apenas de dificultar a precarização do trabalho. Cumpria, tam¬bém, impedir que o empresariado evi¬tasse as regiões já industrializadas e a negociação democrática com os sindi¬catos e se voltasse para a mera valoriza¬ção patrimonial de curto prazo, sem real compromisso com o desenvolvimento.
Mas principalmente se tratava de de¬fender a unidade operária. "Não podemos aceitar passivamente que acabem nos impondo a concorrência também entre trabalhadores e entre sindicatos de dis¬tintas regiões. É fundamental assegurar, por meio de ações, lutas e propostas con¬cretas, a unidade e a solidariedade entre os trabalhadores – princípio histórico es¬sencial para a existência da classe". (3)
Porém as montadoras se negavam a discutir a proposta. Argumentavam ain¬da que o acordo emergencial com o governo, pelo qual haviam obtido re¬dução no IPI, estava para terminar em 30 de setembro, enquanto a contrapartida da garantia no emprego se estendia até 30 de novembro. Proibidas de demitir, mesmo em caso de greve, consideravam-se em desvantagem durante novo round …
Determinadas a reagir, as Centrais adotaram então o esquema do "festival de greves", pelo qual seria parada periodicamente uma montadora por um dia, realizando as lideranças assembléias com os respectivos operários.
A operação começou no dia 23 de setembro, com a paralisação da Volks de Resende/RJ. Na semana seguinte, no dia 29, foi a vez da Fiat, em Betim, e da Mercedes-Benz, em Juiz de Fora, em Minas Gerais.
No dia 7 de outubro chegou o turno de São Paulo. O presidente da Anfavea, Pinheiro Neto, contestou a manifestação dentro do período de garantia de emprego, estabelecido pelo acordo emergencial. E ameaçou, à revelia da proibição de demissões determinada pelo acordo:
"Não nos sentimos obrigados a manter empregos enquanto durar a greve". Já a Volks informava que não demitiria em represália à paralisação. Contentava-se, portanto, em ir levando adiante o programa de "redução do efetivo" iniciado no final de 1998 …
Os trabalhadores reivindicavam um piso salarial único e direitos trabalhistas similares em todas as empresas do setor. Em resposta a essas pretensões, Pinheiro Neto declarava que as montadoras até aceitavam discutir algumas reivindicações – mas separadamente, por empresa. Porém, quanto ao contrato nacional, ele representaria, na opinião da Anfavea, "a cartelização dos salários". E também significaria "exportar os custos da produção no ABC e São Paulo para outras regiões do país", o que, no entendimento da entidade, "seria uma injustiça contra empresas já instaladas em outros estados."
A paralisação do dia 7 de outubro abrangeu o ABC, a Capital, a região de Campinas e o Vale do Paraíba. Mais de 70 mil trabalhadores de montadoras deixaram de trabalhar, seja participando de assembléias, seja simplesmente faltando ao serviço. Incluindo-se os trabalhadores do setor de autopeças, a cifra teria chegado a cerca de 150.000 participantes.
Encerrando as manifestações, milhares de operários promoveram um ato em frente ao prédio da Anfavea, no bairro de Moema (Capital). Uma comissão integrada pelos presidentes da CUT, da Força Sindical, do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e da Confederação dos Metalúrgicos foi recebida pelo diretor executivo da entidade patronal. Em seguida, o auditório foi ocupado por cerca de 150 manifestantes.
O presidente da Anfavea não compareceu. Por telefone, prometeu reapresentar a reivindicação dos metalúrgicos às montadoras.
Porém estas continuavam a rejeitar o contrato coletivo único; declaravam-se apenas dispostas a discutir com seus funcionários, empresa por empresa, outras reivindicações. Por outro lado, a ameaça de demissões não se concretizou em nenhuma das unidades.
No dia 20 de outubro, o festival de greves chegava a São José dos Pinhais, na grande Curitiba, englobando, além dos trabalhadores das montadoras (Volvo, Renault e Audi/Volks, esta última inaugurada no início de 1999) também os de algumas fornecedoras de autopeças.
A posição das montadoras e da Anfavea, contrária ao movimento pelo contrato nacional do trabalho, foi expressa incisivamente pelo vice-presidente de Assuntos Corporativos da Volkswagen do Brasil.
Em artigo publicado em fins de outubro, esse executivo criticava as greves semanais dos metalúrgicos da CUT e da Força Sindical nas montadoras e fábricas de autopeças, numa mobilização que ele calculava envolver quase 250 mil trabalhadores. Denunciava o objetivo de pressionar as empresas, o Congresso e a sociedade em favor de uma medida que na sua opinião (análoga à da Anfavea) redundaria em cartelização dos salários, exportação do "custo ABC" para outras regiões, e redução automática da competitividade.
Segundo o autor do artigo, os sindicalistas se agitavam em vão, ainda mais tendo em vista a evidente redução dos contingentes de trabalhadores nos setores políticos mais dinâmicos. Com efeito, os 210 mil metalúrgicos do ABC haviam passado a 115 mil, e os 340 mil do Estado de São Paulo a 290 mil. E isso não ocorria apenas com os metalÚfgicos, acrescentava: também os 780 mil bancários do País se haviam reduzido a 413 mil. Por que não se conformarem com a tese segundo a qual "o movimento sindical não tem mais representatividade num mundo que caminha para os serviços e a globalização?"
Em suma, enquanto os trabalhadores se insurgiam contra a reestruturação excludente vinculada ao aguçamento da crise do sistema, o executivo lhes recomendava passividade.
Depois dessa tentativa de doutrinação anti-sindical, o articulista voltava à questão do contrato nacional de trabalho, desta vez, para advertir que essa reivindicação poderia "custar caro aos milhares de metalúrgicos da indústria automobilística, que lutam por estabilidade no emprego, equiparação salarial e redução da jornada de trabalho". E por que? Porque essa luta, no entender dele, seria incompatível com uma conjuntura "em que o prejuízo das quatro maiores montadoras do País alcançava 3 bilhões de reais". Não, não se tratava de comover os operários com as agruras das pobres multinacionais.
Tratava-se, isso sim, de adverti-Ios com uma ameaça: uma vez descontentes, as empresas poderiam se retirar até para outros países do mercado global, levando com elas os empregos: o artigo tinha título explícito de "Contrato nacional contra o emprego". (4)
Algum tempo depois era publicada uma pertinente réplica do presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT, adequadamente intitulada "Contrato nacional em defesa do emprego".
Com argumentos claros, o sindicalista denunciava o efeito nocivo da flexibilização regional do salário praticada pelas empresas. Observava ainda que as montadoras, além de tentar cartelizar mundialmente a precarização dos mais básicos direitos laborais, vinham transformando o Brasil num campo de provas para modelos de produção cada vez mais flexíveis e menos empregadores de mão-de-obra.
Ou seja, a luta em favor do contrato nacional se fazia em apoio ao emprego e à dignidade dos trabalhadores. (5)
Aliás, esse evidente aspecto desempregador, contido na atual tendência das montadoras, era abertamente reconhecido pela própria direção da Anfavea. Assim, em entrevista concedida no fim de 1999, Pinheiro Neto confessava, a propósito: "Não se pensa mais em fábricas de 12 mil ou 15 mil empregados. Hoje, uma megafábrica tem quatro mil trabalhadores". (6)
Considerações complementares acerca da reestruturação
Nesse meio tempo também ia se tornando clara a motivação dos fatos ocorridos na Volks do ABC em dezembro de 1998, narrados na parte I deste estudo, publicada na edição 58 de Princípios.
Já no início de fevereiro de 1999 a verdadeira explicação vinha à tona. Através de entrevista publicada na imprensa, o presidente da Volks do Brasil, Herbert Demel, informava o que realmente se pretendia para a montadora: uma reforma geral na fábrica de São Bernardo, a maior e mais antiga unidade da empresa no País. Dentro de cinco anos no máximo, ela deveria produzir apenas uma familia de veículos compactos, já em fase final de projeto. O objetivo era transformar a unidade da Anchieta, inaugurada em dezembro de 1957, numa fábrica moderna em termos de logística e linha de montagem. As obras, aliás, já haviam começado, abrangendo a demolição de vários prédios não utilizados e mais alguns, a fim de completar a remodelação programada.
Em suma, a Volks decidira investir na reforma da unidade da Anchieta apesar de considerar desdenhosamente que o ABC se tomara menos competitivo em confronto com outras regiões do País. "Hoje a maioria dos investimentos é feita fora do ABC. Essa é a prática atual". Mas Demel acreditava na possibilidade de levar adiante o projeto. "Se todos se comportarem de forma tão madura como aconteceu na última decisão, dá para fazer". Referia-se ao acordo ajustado em 1998 sob a ameaça da demissão de cerca de 7 mil trabalhadores. Com tais táticas de pânico, a montadora conseguira submeter os operários, impondo uma redução da jornada semanal acompanhada de diminuição de salários, além de implementar um programa de cortes mascarado como sendo de demissão voluntária e saída de aposentados. Ao elogiar esse triste acordo, Demel expressava em outras palavras que: se a precarização dos direitos laborais fosse conseguida no próprio ABC paulista, para que abandoná-Io?
Na verdade, o processo de retração de quadro, desencadeado no fim de 1998, representava uma etapa preparatória da reestruturação produtiva, com sua inerente tendência à redução de mão-de-obra. Em consonância com essa concepção, o executivo observava, em sua entrevista, que na unidade da Anchieta eram necessárias mais de 30 horas para se produzir um carro quando, na opinião dele, bastariam 10 horas, desde que efetuada a reestruturação. Por sua vez, a diminuição do tempo gasto para obter a mesma produção representaria um ganho de produtividade para a empresa e, correlatamente, redundaria numa redução de postos de trabalho. (7)
A esse aspecto desempregador, acrescentem-se os custos públicos que representam os incentivos fiscais e outros favorecimentos com que as empresas do setor vêm sendo cumuladas pelos órgãos governamentais para exclusivamente aumentarem os seus lucros. O resultado é um leilão de ofertas lesivas à sociedade – a guerra fiscal que o governo do Rio Grande do Sul rejeitou briosamente no caso da Ford.
Quanto à Volks, depois de um período de manobras que se estendeu por mais de um ano, alcançou por fim seu objetivo. Nos últimos dias de setembro de 2000 tomava-se público que ela seria agraciada com um empréstimo de 881 milhões de reais, proporcionado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, para proceder à modernização das linhas de montagem em São Bernardo do Campo e Taubaté.
Esse vultuoso financiamento público (com "dinheiro do BNDES, dinheiro do FAT") para um modelo de reestruturação produtiva que o sindicalismo combativo do mundo todo denuncia, motivou também, como não podia deixar de ocorrer, a indignação de Lula, que aproveitou a oportunidade de uma entrevista mais abrangente, para externá-Ia. (8)
De sua parte, a própria Volks continuava indiferente e olímpica, sempre cobrando reconhecimento a uma pretensa coragem (por conviver com sindicalistas!). Ao mesmo tempo que recebia a mencionada dádiva, fazia saber à opinião pública que lhe parecia estarem os fornecedores (os quais, nesse esquema que se generaliza, se instalam pertõ do local onde são montados os veículos) reticentes, temerosos da intensa movimentação sindical do ABC…
E então, na primeira quinzena de novembro de 2000, os trabalhadores das montadoras e fábricas de autopeças do Estado de São Paulo deflagravam uma greve, reivindicando um reajuste salarial em tomo de 10%.
As negociações com o setor patronal não avançavam e as montadoras, que ofereciam apenas 6,5%, entraram com pedido de dissídio coletivo. A mesma conduta tiveram as empresas de autopeças.
No dia 16 de novembro, o Tribunal Regional do Trabalho julgava a favor dos trabalhadores das montadoras concedendo-lhes os 10%, a estabilidade de 90 dias no emprego, e o pagamento pelas horas não-trabalhadas. Também para os operários do setor de autopeças. O TRT ajuizou 10% de reajuste.
Quase imediatamente, o Sindicato Nacional dos Fabricantes de Autopeças (Sindipeças) entrava com recurso. No dia 28 de novembro, antes mesmo que o recurso fosse julgado, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho já suspendia o reajuste de 10% concedido aos metalúrgicos do setor de autopeças pelo TRT. Além de determinar um percentual de 8%, como o proposto pelas empresas, o presidente do TST também autorizava o desconto dos dias parados por motivo de greve, e até cancelava cláusulas sociais.
Diversamente do setor de autopeças, os integrantes do sindicato das montadoras, o Sinfavea, não estavam coesos na disposição de impetrar recurso. Várias montadoras, atentas à produção em andamento, preferiam evitar que a greve, encerrada com a decisão do TRT, recomeçasse em represália, conforme prometiam os sindicalistas para o caso de um questionamento patronal no TST.
Contudo, o presidente da Anfavea não deixava de consignar seu protesto contra a decisão favorável à melhoria salarial que, a seu ver, se situava na contramão do "corte de custos" vigente no mundo … E acrescentava, alarmista: "nosso carro ficará mais caro e, portanto, menos competitivo no mercado internacional".
No início de dezembro, o vice-presidente de Recursos Humanos da Volks, Tadeu Perez, vinha a público para explicar a posição da empresa. (9) A montadora – esclarecia ele – não se interessara pelo recurso contra a decisão do TRT, simplesmente porque estava "com a faca no pescoço". Além de repor estoques, tinha de cumprir compromissos de exportação para vários países. Não podia por isso entrar em conflito com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que ameaçava impedir o trabalho extra negociado anteriormente para ocorrer em quatro sábados do fim do ano.
Isto posto, o executivo expressava, a seguir, seu profundo inconformismo com o acréscimo lançado sobre a folha de pagamento. Teria de compensá-lo de qualquer forma, não descartando, para futuro, corte de pessoal!
Alegava também uma perda de competitividade em relação às montadoras instaladas fora do estado e portanto não atingidas pela greve nem pelo reajuste, além de já contarem com um trabalho de remuneração inferior. Exacerbado, proclamava fantasiosamente cogitar de transferência para outra área, evidentemente à procura de trabalho mais barato. Contrariamente, como vimos, os sindicalistas buscam, através de um contrato coletivo nacional, um nivelamento por cima.
Voltando à questão da guerra fiscal e da reestruturação produtiva, desta vez referida à Ford, verificamos que o caso da unidade de caminhões do bairro do Ipiranga, em São Paulo, chegava ao desfecho.
A provável desativação dela, como já foi mencionado, vinha sendo anunciada desde julho de 1999, simultaneamente à decisão de implantar a nova fábrica de Camaçari, na Bahia, com os fartos incentivos de toda a ordem propiciados. Agora, o fato se consumava.
No dia 13 de dezembro de 2000 a imprensa noticiava que a montadora já terminara de definir-se com respeito ao destino dessa unidade. A fábrica de caminhões do Ipiranga só operaria até o dia 15, como de fato ocorreu, devendo os veículos passar a serem produzidos na unidade de São Bernardo do Campo a partir de janeiro de 2001, na volta das férias coletivas.
Mas somente 500 dos cerca de 1.000 operários seriam transferidos e aproveitados. Aos demais, era oferecido um "programa de demissão voluntária", pretensamente "vantajoso".
"É o nosso melhor pacote de demissão voluntária" – proclamava, aliciador, o presidente da Ford/Brasil, Antonio Maciel Neto – "porque se trata do fechamento de uma fábrica" (sic). (10)
Em nome da meta da redução de custos, a empresa fechava uma unidade e mais uma vez expulsava expressivo contingente de trabalhadores.
Paula Beiguelman é professora associada da USP e autora dos livros Os companheiros de São Paulo e Por que Lima Barreto, entre outros.
Notas
(1) O Estado de S. Paulo, 10/6/1999.
(2)Y. artigo de Vicente Vilardaga in Gazeta Mercantil, 11/8/99.
(3) Y. artigo de Luiz Marinho in Gazeta Mercantil, 19/8/99.
(4) Y. artigo de Miguel Jorge in Gazeta Mercantil, 27/10/99. Com a recente aquisição do Banespa pelo Santander, Miguel Jorge deixou a Volks em meados de janeiro do corrente ano de 2001 para exercer no banco as mesmas funções de vice-presidente de Assuntos Corporativos que desempenhava na montadora.
(5) V. artigo de Heiguiberto Guiba Navarro, in Gazeta Mercantil, 22/11/99.
(6) IstoÉ, 15/12/99.
(7) Folha de S. Paulo, 1/2/99. (8) Caros Amigos, nov./2000.
(9) O Estado de S. Paulo, 4/1 0/2000. (10) Valor, 13/12/2000.
EDIÇÃO 60, FEV/MAR/ABR, 2001, PÁGINAS 64, 65, 66, 67, 68, 69