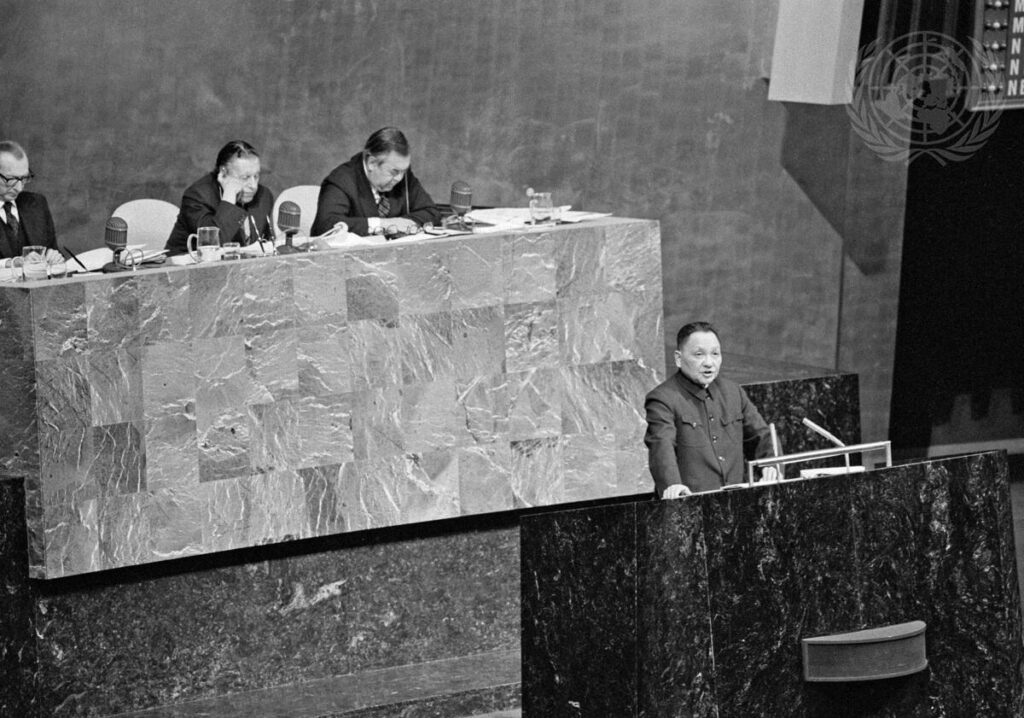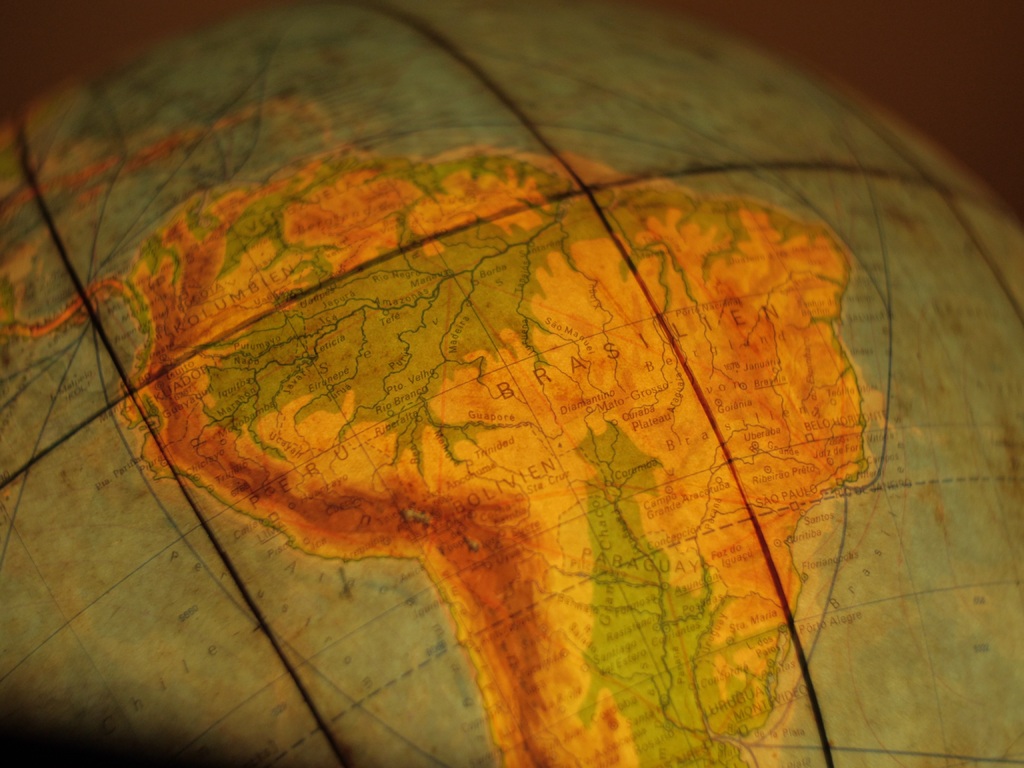Resumo:
A mecanização e o motor a vapor multiplicaram a capacidade de trabalho e um segundo crescimento extraordinário ocorreu com a difusão dos motores elétricos e a combustão interna. Com as novas atividades fabris e de transporte, a criação de valor e a formação da riqueza se transformaram. O processo inverso é a desindustrialização, em que os ganhos de produtividade da transformação industrial diminuem. Isso pode ser natural, decorrer de causas endógenas, ou exógenas. Pode também ser um processo regressivo, ou precoce. Uma perspectiva alternativa é colocada: no Brasil, após a privatização e com as exportações, a apropriação do excedente por parte da elite nacional e do capital externo a montante das cadeias produtivas impediu que a abundância de recursos naturais se traduzisse em maior crescimento.
Na periferia, a doença não é holandesa e o mal é brasileiro – Reverter a desindustrialização depende do correto entendimento de suas causas, o que pede o estudo de um fenômeno complexo e que não é exclusivo do Brasil. Para começar, a Revolução Industrial inaugurou uma era de prosperidade na Inglaterra ao final do século XVIII. Ocorreu uma profunda mudança na forma de gerar riqueza com a mecanização e a passagem da manufatura, na qual os trabalhadores dividiam as tarefas entre si, para a maquinofatura, onde homens e máquinas (organizados em linhas de produção) fabricam outras máquinas, insumos produtivos e bens de uso final. A partir de então, a capacidade de realizar trabalho aumentou substancialmente em atividades como a mineração de ferro, fabricação de tecidos, tinturas, caldeiras e máquinas a vapor. Em meados do século XIX, a Revolução dos Transportes resultou do uso disseminado do vapor em trens e barcos. Com a introdução dos motores elétricos e da combustão interna, ao final desse mesmo século, a melhoria na geração e no uso da energia foi ainda mais extraordinária. A maior potência e o aprofundamento da mecanização viabilizaram a produção em massa, os ganhos de escala, e a significativa queda dos custos e dos preços.
As atividades fabris mudaram a estrutura da economia e a dinâmica de geração de valor, ou da formação da riqueza. Comparada às atividades tradicionais (comércio, crédito e agricultura), na indústria, a intensidade de capital por trabalho é muito maior, a base de produção é muito mais diversificada, como também mais renda é criada. A partir da sequência articulada de mercados especializados, a transformação fabril acontece ao longo de extensas cadeias produtivas. O valor adicionado, que remunera salários, lucros e serviços, além dos tributos, é muito superior ao proporcionado pelos demais setores. Além disso, o processo se retroalimenta em virtude da elevada elasticidade-renda de certas mercadorias: produtos siderúrgicos, combustíveis, eletricidade, fertilizantes, petroquímicos… Por fim, existe um importante efeito de encadeamento, seja para trás ou para frente; fato que explica a prioridade desses produtos na substituição de importações observada na América Latina do pós-guerra.
O processo inverso é a desindustrialização, aquele que nos interessa. Decorre da queda dos ganhos de produtividade do trabalho nas atividades de transformação fabril e tem como resultado a diminuição do valor agregado e do emprego gerados pela indústria. Depois da década de 1980, os EUA, o Reino Unido, a França, a Holanda e a Bélgica conheceram o fenômeno, que pode ser visto como sendo natural e derivado do esgotamento dos consequentes ganhos de produtividade anteriores. Nessas nações, o crescimento se esvaiu, acabou inferior à média mundial. A “estagnação secular” do capitalismo já estava na mente dos clássicos e, em pleno século XXI, limitando-se à questão econômica, duas causas exógenas podem ser aventadas: as mudanças na tecnologia e na divisão internacional do trabalho. Ambas empurraram muitos países para a margem do sistema de comércio internacional. Uma terceira causa, por sua vez, endógena e não natural, é a “doença holandesa”, versão ampliada e contemporânea do “mal da abundância” de Adam Smith, ao incluir a política econômica (monetária, cambial e fiscal) e a política industrial, ou seu fracasso, como motivadores do processo.
A desindustrialização tem uma conotação regressiva e, vista da periferia, é marcada pela perda de espaço do capital local. A perda está acoplada à desverticalização, à terceirização e ao fechamento de ativos em consequência da nova integração ao comércio globalizado. As exportações primárias aumentam, enquanto as importações de produtos e insumos industriais substituem a produção doméstica, as estruturas produtivas se fragmentam, elos e interfaces setoriais se fragilizam. Excluídos da formação das novas cadeias de valor, a “especialização regressiva” foi observada no Brasil, na Argentina e na Colômbia. Nesses países, depois de 1980, o crescimento do PIB ficou muito aquém daquele verificado nos países da OCDE — o que dirá da média de crescimento do PIB mundial. Esta foi puxada pela China, Hong Kong, Taiwan, Coreia e Singapura, países que continuaram a se industrializar.
Leia também: Como protecionismo dos EUA e superprodução desafiam a economia chinesa
A desindustrialização também pode ser vista como precoce, ou seja, ser iniciada antes do esgotamento do processo em que a transformação industrial lidera os ganhos de produtividade da economia. A mencionada doença holandesa, a ausência de política industrial compensatória e o fracasso da abertura do comércio exterior são apontados como fatores causadores do declínio do setor nos países latino-americanos. O caso brasileiro sintetiza a crescente ociosidade dos ativos produtivos, o aumento das importações, a queda da importância do emprego industrial e do valor agregado pela transformação fabril de forma ininterrupta depois de 1980. Ao mesmo tempo, os serviços, as finanças, a construção civil, a agropecuária e a mineração ocuparam espaço no PIB. Nesses setores, os menores ganhos de produtividade explicam a perda de ritmo do crescimento nacional desde então.
Em artigo publicado em 2020, Arthur Colombo, Ednilson Felipe e Daniel Sampaio encontraram quatro vertentes nos estudos sobre a desindustrialização brasileira: ortodoxa, desenvolvimentista, estruturalista e industrialista. Entre elas, até aqui, apenas não foi abordada a primeira vertente, dita ortodoxa, na qual a falta de ritmo do crescimento se deveu às poucas reformas, à rigidez dos mercados e ao tamanho do Estado. O patrimonialismo e o rentismo são apontados pelos liberais e ortodoxos como o problema das políticas industriais e do intervencionismo, embora eles não sejam os únicos a criticarem a captura dos reguladores e, mais recentemente, dos legisladores. A desindustrialização “precoce” está relacionada às pesquisas de Bresser-Pereira e Nelson Marconi, que propõem um novo desenvolvimentismo, enquanto aquela “regressiva” refere-se à investigação (em universidades distintas) de Luciano Coutinho e David Kupfer sobre a deficiência da política industrial e de inovação. Cabe destacar que, em todas as correntes, constata-se que um ou outro especialista também culpa a China. O maior parceiro comercial seria responsável pela “(re)primarização” da economia nacional.
Leia também: Meta de inflação e juros altos: política monetária prejudica o Brasil e enriquece setor financeiro
A tradição ricardiana e marxista inspira uma visão alternativa e provavelmente mais promissora para o entendimento do problema que esta última. Cabe explicar como, depois de construir uma base fabril ampla e diversificada, nos últimos quarenta anos, a abundância em recursos naturais não sustentou um maior crescimento industrial; ao contrário. A particularidade local está no fato de esse declínio industrial ocorrer em paralelo aos ganhos extraordinários proporcionados por alguns poucos setores: de infraestrutura (transporte, comunicações, água e saneamento), fornecimento de energia (O&G, biocombustíveis e eletricidade) e exportadores (mineração, siderúrgico, agropecuário, papel e celulose). Fora a maioria dos exportadores, em todos os demais (incluindo a siderurgia e a petroquímica), ocorreram diversas privatizações e a multiplicação das concessões, além da abertura ao capital externo. O incremento dos investimentos significou expressivos ganhos nessas atividades, mas não adicionou maiores valores para o resto da economia; foi todo apropriado pelo capital.
Uma explicação bastante razoável é que a burguesia está confortavelmente acomodada em negócios seguros e com bom retorno. O ganho no mercado financeiro, o lucro de monopólio dos setores privatizados, a renda derivada da exportação agropecuária e mineral bastam para remunerar os grupos locais e o capital externo, que ingressou depois da abertura, por volta de 1990. Pode parecer um inusitado paradoxo: após décadas como importador crônico, a partir de meados da década passada, o país se tornou exportador líquido de petróleo. Contudo, importa gás natural, petroquímicos, quase todos os fertilizantes que utiliza na agricultura, e até um quinto do óleo diesel que consome. Só a indústria química foi responsável por importações líquidas de quase US$ 70 bilhões no ano passado. Ora, não há paradoxo: o capital local é tremendamente avesso ao risco, tem reservado seu quinhão no excedente gerado, seja pelo mercado financeiro, ou pelas concessões de monopólios, ou ainda por incontestáveis vantagens comparativas nos setores exportadores.
Não por acaso, o preço da eletricidade, dos combustíveis automotivos, do GLP e do gás natural, entre os mais caros do mundo, em nada se coaduna com a abundância em sol, vento, água e hidrocarbonetos. O que dirá o preço dos alimentos que, por falta de estoque, tem o consumo doméstico concorrendo com as exportações? Não é o mal da abundância, nem a doença holandesa; aqui, depois de 1990, a razão para o declínio industrial é outra. Antes de ser distribuído, assim que é gerado a montante de toda a atividade econômica, o enorme excedente que decorre do uso dos recursos naturais é apropriado por alguns poucos capitalistas e mais nenhum ganho é repassado adiante — seja pela queda de preço, maior oferta de insumos industriais ou ainda acesso à infraestrutura de qualidade. Para retomar a industrialização, faz-se mister reverter a privatização, que encareceu a produção local — e o quanto antes, melhor.
Referências:
BONELLI, R.; PESSOA, S.; MATOS, S. Desindustrialização no Brasil: fatos e interpretação. In: BACHA, E.; BOLLE, M. B. (Org.). O futuro da indústria no Brasil: desindustrialização em debate. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013.
BRESSER-PEREIRA, L. C.; OREIRO, J. L.; MARCONI, N. Macroeconomia desenvolvimentista. Rio de Janeiro: Campus, 2016.
COLOMBO, A. O.; FELIPE, E. S.; SAMPAIO, D. A desindustrialização no Brasil: um processo, várias vertentes. In: ENCONTRO INTERNACIONAL DA ASSOCIAÇÃO KEYNESIANA BRASILEIRA. Anais… Campinas (SP): IE-UNICAMP, 2019. Disponível em: https://www.even3.com.br/anais/akb/172464-a-desindustrializacao-no-brasil–um-processo-varias-vertentes.
DUQUE DUTRA, L. E. O mal da abundância por mais um século. Valor Econômico, p. A-16, 7 jul. 2020.
DUQUE DUTRA, L. E. Da urgência na reconstrução do Estado. Site Brasil Energia, publicado em 17 maio 2022.
MARCATO, M. B.; ULTREMARE, F. O. Produção industrial e vazamento de demanda para o exterior: uma análise da economia brasileira. Economia e Sociedade, v. 27, n. 2 (63), p. 637-662, Campinas: 2018.
NASSIF, A.; BRESSER-PEREIRA, L. C.; FEIJÓ, C. The case for reindustrialisation in developing countries: Towards the connection between the macroeconomic regime and the industrial policy in Brazil. Cambridge Journal of Economics, v. 42, n. 2, p. 355-381, 23 fev. 2018.
OREIRO, J. L.; FEIJÓ, C. A. Desindustrialização: conceituação, causas, efeitos e o caso brasileiro. Revista de Economia Política, v. 30, n. 2, p. 219-232, 2010.
Luís Eduardo Duque Dutra é doutor em Ciências Econômicas pela Universidade de Paris-Nord e professor adjunto da Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É pesquisador do Grupo de Pesquisa da Fundação Maurício Grabois sobre Transformação ecológica e diversificação energética. É autor de “Capital Petróleo: a saga da indústria entre guerras, ciclos e crises” pela Editora Garamond.