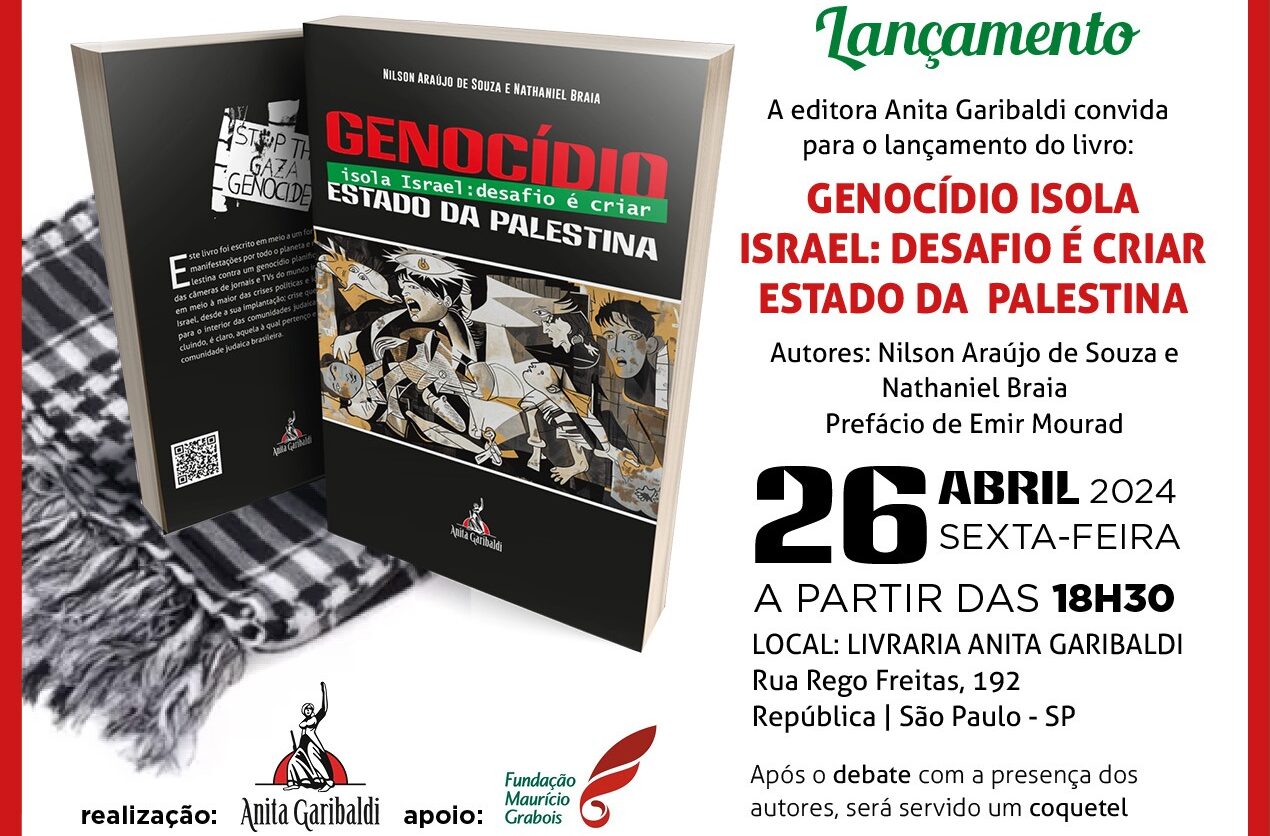Prêmio Casa de las Américas: a cultura como resistência

Conhecer Cuba foi, durante as décadas de 1960 e 70, um sonho temerário. Nos vinte anos seguintes, uma aventura possível. E, a partir dos 90, uma viagem cultural quase obrigatória, especialmente para quem vive abaixo da linha do Equador. Nesses quarenta anos, a geografia política do Planeta mudou a ponto de varrer de sua face o regime (mas não as idéias) que respaldava a longa revolução de Fidel. Enquanto isso, na Ilha, não importa a que custo, algumas utopias deixaram de sê-lo: a saúde e a educação, pontos-chave do programa de governo, socializaram-se de fato. E, ao que parece, graças ao êxito desse binômio, a cultura nunca perdeu sua vitalidade. Talvez esteja aí a explicação para a sobrevivência do Prêmio Casa de las Américas, que desde 1960 distingue as literaturas de toda a América Latina.
Longe de apenas sobreviver, o concurso vai se tornando, a cada edição, mais prestigiado. Na 42ª, que aconteceu em janeiro de 2001, o número de obras concorrentes, 849, enviadas por 22 países, revela, acima de quaisquer outros interesses – afinal, três mil dólares é uma quantia relativamente modesta –, o status que a premiação confere: seja aos agraciados, seja aos mais de mil intelectuais que já se deslocaram até lá pelo surrado motivo de sempre – amor à arte.
Galeria ilustre
Só isso explica que, nos primeiros anos, alguns deles tenham atendido ao convite da Casa de las Américas à custa de perder o emprego, ou de sofrer pressões por parte da imprensa em seus países. E ainda enfrentar mirabolantes itinerários para atingir Havana, àquela época mais isolada do que nunca. “Recordo que, na primeira vez que vim a Cuba, em 1966, para integrar o júri de ‘romance’, tive de voar nada menos que 50 horas, em várias etapas”, contaria, anos mais tarde, um dos maiores promotores do prêmio no exterior, o escritor Mário Benedetti.
Não foram poucos os grandes autores que emprestaram o prestígio de seus nomes ao concurso, ao integrar júris inúmeras vezes. Alejo Carpentier, Ítalo Calvino, Ernesto Cardenal, Miguel Ángel Asturias, Júlio Cortázar, Camilo José Cela, Nélida Piñon, Antônio Cândido e até o mais recente Nobel, José Saramago, que foi jurado da categoria “literatura brasileira” em 1992, são alguns dos que deram peso à história do Prêmio Casa, como é carinhosamente chamado pelos cubanos. E essa mesma história inclui, por outro lado, a honra de ter revelado e laureado escritores que apenas despontavam na cena literária, como o uruguaio Eduardo Galeano, o chileno Antônio Skármeta ou o argentino Ricardo Piglia.
Do Brasil, já é longa a lista de premiados – entre eles, Oduvaldo Viana Filho, Moacyr Scliar, Ana Maria Machado, Deonísio da Silva – e maior ainda a de jurados, alguns famosos na esfera literária e fora dela: Chico Buarque, Ziraldo, Rubem Fonseca, Antônio Callado, João Ubaldo Ribeiro e, nos idos de 1982, Fernando Henrique Cardoso.
Paciência e bom humor
Fundada em 1959, sob a direção de Haydée Santamaría, naquele ano mesmo a Casa de las Américas divulgou o regulamento da primeira edição do Prêmio, que então se denominava “Concurso Literario Hispanoamericano”. Àquela altura, premiavam-se apenas cinco gêneros: romance, conto, teatro, ensaio e poesia. Em 1964, autores brasileiros passaram a ser aceitos, o que fez mudar o nome do certame para “Concurso Literario Latinoamericano”. Mas foi só em 1980 que a nossa literatura ganhou categoria própria. Enquanto isso, outros gêneros e categorias foram incorporados, como a literatura infanto-juvenil, a caribenha em inglês e creole, a caribenha em francês e creole, as indígenas.
Hoje, os responsáveis pelo Centro de Investigações Literárias, que coordena o concurso, têm justificado orgulho dessa abrangência. Afinal, dizem, é raro um prêmio que contemple ao menos quatro gêneros por edição, com obras escritas em seis línguas e cobrindo um espaço geográfico tão amplo quanto complexo. Desde a criação do concurso, nada é mais importante, no entanto, do que a edição, pela Casa de las Américas, de todos os livros vencedores. Essas publicações hoje chegam à tiragem de 10 mil exemplares e são distribuídas, dentro das possibilidades, pelo mercado latino-americano.
Uma coisa, porém, são as estatísticas e os números que se colocam no papel. Outra é acompanhar de perto o processo do concurso, que tem início poucos meses após o encerramento da edição anterior. Já no meio do ano, são impressas mais de três mil convocações, contendo o regulamento, para serem distribuídas pela América Latina em meio a dificuldades de toda ordem, inclusive a lentidão postal. Ao mesmo tempo, sondam-se os possíveis jurados. Apesar de um ou outro entrave burocrático, tudo acabará bem: na última semana de janeiro do ano seguinte, os cubanos, donos de uma paciência e bom humor inalteráveis, estarão à espera dos novatos e dos veteranos com o mesmo sorriso hospitaleiro.
Soyinka, o bruxo
Uma vez em Havana, entra em ação um esquema simples e eficiente. No próprio hotel em que os jurados (25 em 2001) se hospedam – o Habana Riviera, de arquitetura estilo anos 50, à beira do famoso Malecón –, instala-se também o escritório da Casa de las Américas que, em pouco tempo, se converte numa babel de sotaques castelhanos e, mais raramente, algum portunhol.
Uma programação cultural foi criteriosamente montada e, pelo menos duas vezes por dia, esses desconhecidos, que ao final de duas semanas terão se tornado velhos amigos, embarcam no ônibus da Casa. O destino tanto pode ser um passeio por Habana Vieja, o velho centro da cidade, que está sendo restaurado, e onde, como quaisquer turistas, conhecerão La Bodeguita del Medio e o quarto de hotel em que Hemingway vivia, quanto uma ida ao concerto oferecido especialmente por Chucho Valdés e seu quarteto aos Jurados do Prêmio Casa.
A condição de jurado funciona como uma espécie de senha que, uma vez ouvida por qualquer cubano, provoca automaticamente admiração e redobrada gentileza. Na verdade, o povo de Cuba, com um grau de instrução bem acima da média latino-americana, sabe que o Prêmio Casa é um dos principais responsáveis pela imagem cultural do país. Tanto assim que, para a cerimônia de abertura, ninguém menos que um Prêmio Nobel de Literatura pode ser o convidado de honra.
Neste ano, o escritor nigeriano Wole Soyinka lá estava para fazer o discurso inaugural diante de um auditório lotado. “Se Cuba tem uma lição a oferecer ao mundo, disse ele, é a de que reconhece, em seu próprio solo, a natureza de ‘bruxa’ no artista em geral – um ser possuído por visões incômodas, às vezes socialmente irruptoras, sacudido internamente por visões heréticas. Os prêmios literários existem para honrar o casamento entre essa inspiração original, não complacente com a indústria, e a condição artística.” E finalizou: “A aceitação social desta missão como nossa razão de ser é o que justifica a rede global de bruxas da qual a Casa de las Américas é uma parte vital. É isso, acima de outras considerações, o que valida nossa celebração da criatividade humana.”
Estivadores da cultura
Passadas as emoções iniciais, tem início uma atividade febril entre os diversos membros da Casa, incumbidos de dar ao corpo de jurados todo o suporte necessário ao desempenho de seu papel. Assim, algumas horas depois da cerimônia inaugural, o ônibus vai sendo carregado com uma impressionante bagagem: primeiro, as inúmeras malas e valises dos visitantes; depois, caixas e mais caixas de papelão contendo o que, pelo volume, aterra a todos – os originais concorrentes.
Os participantes da “maratona literária” serão levados para um hotel campestre, próximo à cidade histórica de Matanzas, e longe o suficiente de Havana para que todos se concentrem no objetivo principal – a leitura. À chegada, acontece a operação inversa e o pessoal da Casa de las Américas, verdadeiros “estivadores da cultura”, irá distribuir pelos quartos dos hóspedes suas respectivas cotas de originais. Em 2001, porém, uma novidade foi introduzida em relação à categoria Literatura Brasileira: passaram a concorrer obras publicadas nos três anos precedentes, com o objetivo de tornar conhecido em Cuba e em toda a América Latina o que se publica no Brasil. Assim sendo, a tarefa dessa vez imposta aos jurados brasileiros – escolher o “melhor” entre 321 livros, muitos deles de autores consagrados – pareceu-lhes quase impossível.
Novo espaço
De volta a Havana, uma sucessão de mesas-redondas, em que cada grupo de jurados debateu sobre sua especialidade, e de entrevistas na televisão, onde o Prêmio Casa merece o espaço de vários boletins diários.
Chegara praticamente ao fim o trabalho dos 25 jurados. Entre os de literatura brasileira, a satisfação de terem feito uma escolha que lhes parecia justa: o Prêmio para Nau Capitânia, de Walter Galvani, obra e autor pouco conhecidos que haviam resgatado com grande maestria o perfil de um personagem também nebuloso para a maioria dos brasileiros – Pedro Álvares Cabral; e a menção especial para “(os sobreviventes)”, de Luiz Ruffato (vide entrevista), um livro-revelação que, auguravam todos, ainda daria muito o que falar no Brasil.
E, se a abertura do Prêmio se reveste sempre de emoção sem pompa, o encerramento poderia trazer surpresas. Ou melhor, trouxe a resposta à indagação que intimamente todos se faziam – veriam ou não o “Comandante” em pessoa? Às onze horas da noite, bem depois de terminado o anúncio dos vencedores, o grupo era convocado ao palácio do governo, onde Fidel o receberia com um banquete.
Eram quase quatro horas da madrugada quando os convidados saíram de lá, levando a indelével impressão de um homem excepcional que, empertigado e forte em seus 75 (???) anos, é capaz de permanecer horas e horas em pé, sem beber, ou comer, apenas falando, falando, falando.
Quanto ao Prêmio e seus rumos, nem mesmo o atual presidente da Casa de las Américas, o escritor Roberto Fernández Retamar, arriscava-se a prever. Dizia ele, em 1998, quando, a seu ver, o concurso e a instituição já haviam atingido a plena maturidade: “Que farão os jovens com o Prêmio Casa? Ficará como está? Desaparecerá? Encontrará maneiras criadoras de continuar prestando serviços? (…) Quero deixar estas perguntas no ar, com a certeza de que serão bem respondidas”. Seja qual for o futuro para aqueles que todos os anos acionam a máquina do prêmio, o que realmente importa é a certeza de que, através dele, a literatura latino-americana ganhou um novo espaço na arena internacional.
Angela Leite de Souza é jornalista, escritora e ilustradora. Conquistou o Prêmio Casa de las Américas em 1997, com o livro de poemas Estas muitas Minas, e fez parte do júri que escolheu o Prêmio de 2001.
Entrevista
Luiz Ruffato, o escrevedor de histórias
por Angela Leite de Souza
Como mineiro que não nega a raça, Luiz Ruffato entrou sem muito alarde na literatura. A primeira obra, Histórias de remorsos e rancores, foi publicada em 1998, por uma então desconhecida editora paulista, cujo nome não poderia ser mais apropriado – Boitempo. A edição bem cuidada e o aviso dado por Ignácio Loyola Brandão na contracapa – “aqui está um autor que espicaça (…), procura cutucar, apunhalar o conformismo, tirar as pessoas da acomodação” – ainda não seriam suficientes para projetá-lo na cena literária.
Dois anos depois, “(os sobreviventes)”, em minúsculas e entre parênteses sim, saía pelo mesmo selo e vinha endossado por gente abalizada, como Ivan Angelo, que destacava a excelência do texto: “originalidade, ousadia formal, domínio da narrativa e do assunto, criação de uma linguagem que define o lugar e as pessoas.”
Tanto quanto a inovação formal, os “contos” de Ruffato impressionam também pela agudeza com que traça o perfil de uma classe marginalizada da Cataguases onde nasceu e onde se desenrolam suas narrativas. Mas a cidade que se notabilizou por ser o “berço do modernismo em Minas”, acervo urbano de obras de Portinari, Marcier, Dijanira, Niemeyer, está irreconhecível na obra. O autor, atualmente jornalista bem conceituado na imprensa de São Paulo, onde vive, quis prestar à terra natal uma homenagem “pelo avesso”, ao revelar sua outra face humana – a do proletariado que foi crescendo e sobrevivendo durante os anos sombrios da ditadura militar.
Sobre o significado dessa produção ainda pequena e já vitoriosa, seus projetos literários, sua visão da literatura e do escritor, Luiz Ruffato falou à Princípios numa tarde chuvosa, em Belo Horizonte.
Princípios – Você saiu mesmo de Cataguases?
Luiz Ruffato – Da Cataguases física, sim, saí com certeza. Agora, a que existe em mim, dificilmente as pessoas reconheceriam, porque é uma Cataguases formada pela minha memória, de fatos e de situações que eu vivi um dia e, esta, não sei se existe ainda. Na verdade, acontece o inverso: esta Cataguases é que não saiu de mim.
Princípios – Em seus livros, de fato, a cidade que você retrata parece deteriorada, sua saga se desenvolve numa realidade suburbana. É tudo ficcional? Quanto de verdade há nessa Cataguases?
Luiz Ruffato – Bem, para responder terei que falar de minha vida lá. Sou filho de um pipoqueiro e uma lavadeira. Sendo assim, nunca imaginei que algum dia fosse sequer sair de Cataguases e pensava estar destinado a ser um operário. Mas, por circunstâncias inesperadas, para as quais nada contribuí, acabei mesmo saindo um dia. Antes, porém, vivi muito: fui pipoqueiro, balconista, caixeiro, fiz curso de tornearia mecânica no Senai e trabalhei também como operário – meu primeiro emprego com carteira assinada. Essa foi então a minha vivência da cidade, só vim a descobrir que existia outra Cataguases depois, quando saí de lá. Não conheci a Cataguases modernista, com uma classe média muito interessante, intelectualizada. Não, eu vivia num outro universo, o dos operários, dos desempregados, um universo “subterrâneo” – exatamente o que exploro ao ficcionalizar a cidade.
Princípios – Em seus dois primeiros livros, além do cenário comum, há personagens que transitam entre um conto e outro. Sabemos que você está preparando o terceiro e que fecharia com este a “trilogia de Cataguases”.
Luiz Ruffato – O próximo livro tem São Paulo como tema e se intitula Eles eram muitos cavalos. Foi um desafio que me impus – escrever algo em que Cataguases não fosse a referência, mas trata-se também de uma tomada de fôlego. Se meus personagens aparecem mais de uma vez nos livros é porque, na verdade, não são coletâneas de contos, mas um romance que ainda não terminei, que está sendo construído a cada livro. Imagino escrever mais uns dois volumes para que esteja pronto o romance. A estrutura que ele tem hoje é remontável: quando estiverem escritos os quatro livros, pretendo reestruturá-los para dar a unidade final.
Quando chegar esse momento, espero ter conseguido realizar meu projeto: descrever, através de Cataguases e daqueles personagens, a história do proletariado sob a ditadura militar, uma realidade já implícita nos primeiros livros. A ditadura estaria presente na alienação dessa classe, na maneira como foi usada em nome do crescimento econômico.
Princípios – Além da originalidade de estar construindo um romance-mosaico, chama a atenção em seus textos o cuidado com a linguagem, a experimentação formal, mais notória ainda em “(os sobreviventes)”. Aliás, lá em Cuba, os jurados consideraram que você estaria, em função disso mesmo, na linha de frente da prosa brasileira. Qual é, portanto, o peso da forma dentro de seu projeto?
Luiz Ruffato – Para mim, existem dois tipos de escritor: o que conta uma história e o que escreve uma história. Eu gostaria de me encaixar entre estes últimos. Porque, quando falo em escrever a história do proletariado brasileiro durante a ditadura militar, isso pode soar extremamente panfletário, mas o fato é que, se não conseguir fazê-lo de uma forma inovadora, não estarei dando contribuição alguma à literatura, nem à política. Eis a razão por que a forma de escrever essa história é tão importante para mim quanto a história em si.
Então, não me considero na vanguarda, pois o que faço é uma retomada. A literatura brasileira seguiu um rumo oposto ao que empreendia em 70, quando ninguém escrevia um romance com começo, meio e fim. Na década de 80 houve um reacionarismo, voltou-se a escrever da forma convencional e, por sua vez, a história tornava a ser importante por si mesma, perdeu-se a gana de questionar o próprio fazer literário. E é isso que estou buscando, ao amarrar minha literatura àquela que existiu há três décadas atrás e que foi preterida em favor de textos mais “fáceis”, mais “comerciais”. No primeiro livro ainda estava um pouco tímido, não sabia o que era ou não permitido, formalmente falando. Mas, ao ver que Histórias de remorsos e rancores não tinha sido rejeitado, resolvi radicalizar, escrevendo “(os sobreviventes)” e estou radicalizando ainda mais no próximo: são diversas histórias sem nenhuma conexão, a não ser pelo fato de se passarem na mesma cidade e no mesmo dia. Ainda assim, considero-o um romance, cujo personagem principal é São Paulo. Enfim, essas radicalizações têm um sentido político, quero marcar presença contra a “caretização” e a acomodação.
Princípios – Não concluir as histórias, mas criar no leitor expectativas de um final que nunca acontecerá, esta seria mais uma forma de dar seu recado político?
Luiz Ruffato – Sim, mas não gostaria que pensassem que sou contra as histórias com começo, meio e fim, mesmo porque estaria renegando os clássicos. A questão é que vejo a literatura como algo aberto, principalmente à renovação. Se formos pensar, estamos entrando em um novo século fazendo a mesma literatura que se fazia no início do século passado. Os cânones burgueses que orientavam a produção literária no começo do século XX não podem servir para 2001. E afinal, a repetição de modelos significa a não-renovação, o medo de mudar, de ousar, o que é muito ruim, até para a literatura. O leitor atual é alguém que tem acesso a outras expressões como o cinema, a televisão e a internet, com recursos de linguagem novos e, se não nos dermos conta disso, corremos o risco de não sermos mais lidos. Mineiramente, prefiro continuar acreditando que um dos papéis da literatura seja mesmo este: dar uma “chacoalhada”.
Princípios – É possível então conciliar radicalismo e mineirismo?
Luiz Ruffato – De fato, o que escrevo tem esses dois lados. Enquanto a forma é radical, no fundo há uma tentativa desesperada de ser a literatura mais mineira, a mais fiel possível às minhas raízes, tanto sociais quanto de linguagem. Quero fazer uma espécie de arqueologia, recuperar palavras ou expressões que estão deixando de ser usadas. É uma tentativa de reafirmar a cultura mineira, pela contraposição do tradicional à mediocrização
EDIÇÃO 61, Mai/Jun/Jul, 2001, PÁGINAS 69, 70, 71, 72, 73